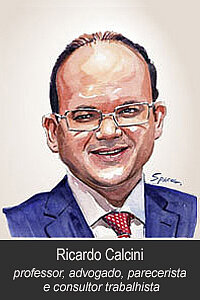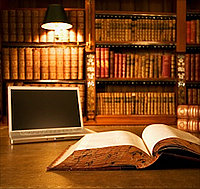Diferenças entre o representante comercial e o agente (parte 2)
15 de janeiro de 2024, 12h04
Na semana anterior, publicou-se coluna na qual se abordou e explicou o problema da diferença entre a figura do representante comercial e do agente no Direito brasileiro (ver aqui). Observou-se os fatores históricos constantes na exposição de motivos da Lei 4.886/65 e do Código Civil, os quais dão alguns indícios das razões pelas quais os dispositivos legais foram positivados.
Nesta segunda parte, tratar-se-á de analisar como a Dogmática contemporânea têm entendido o tema.
3. A Dogmática
O texto anterior demonstrou que havia, na exposição de motivos do Código Civil, uma inclinação em entender o contrato de agenciamento como algo idêntico ao contrato de representação comercial, contendo, apenas, uma retificação de nomenclatura. É possível de se observar a Dogmática, em manifestações posteriores ao Código Civil de 2002, afirmando que o CC “a exemplo do direito europeu, abandonou o nomen iuris de ‘representante comercial’, substituindo-o por ‘agente’. Sua função, porém, continua sendo exatamente a mesma do representante comercial autônomo” [1]. Indo nesse mesmo sentido, Rubens Requião, em uma das obras mais importantes sobre o contrato de representação comercial no Direito brasileiro, afirmou que “a representação comercial, denominada na legislação continental europeia de agência, e assim usada pelo Projeto de CC Brasileiro, constitui uma atividade relativamente recente, surgida tardiamente no Direito Comercial” [2].
Mas por que a necessidade de alteração do nome de representante comercial para agente?
Com efeito, a adoção de uma nova terminologia deveu-se ao fato de que o Código trouxe uma unificação do direito das obrigações — civis e mercantis —, de forma que os contratos constantes no Código haveriam de abarcar tanto as atividades civis quanto as atividades mercantis. Daí por que o nome “representante comercial” soava inadequado. É o mesmo motivo, aliás, pelo qual o artigo 710 do CC refere-se apenas a “negócios”, ao contrário do artigo 1º da Lei 4.886/65, que falava em “negócios mercantis” [3].
A Dogmática que defende a identidade da representação comercial e do agenciamento sustenta que — aliada a essa justificativa de uma mera alteração de nome por razões sistemáticas advindas da unificação do direitos das obrigações — conceitualmente os tipos contratuais são um só, já que o artigo 1º da Lei 4.886/1965 e o artigo 710 do CC tratam da mesma prestação principal, que é a mediação para a realização de negócios, com as mesmas características, a saber (a) habitualidade, (b) autonomia, (c) atuação em zona delimitada [4].
As posições contrárias, contudo, tratam de elaborar alguns traços distintivos dos dois tipos contratuais.
É possível observar obras afirmando que o toque distintivo entre agente e representante estaria na conclusão do negócio (sendo esse, conforme se observará na próxima coluna, o argumento mais utilizado pela jurisprudência): à medida que o representante tem a obrigação de concluir a negociação, o agente não a teria, sendo responsável apenas por prepara-la: “o representante comercial é mais do que um agente, porque seus poderes são mais extensos. O agente prepara o negócio em favor do agenciado; não o conclui necessariamente. O representante deve concluí-lo. Essa é sua atribuição precípua” [5].
Essa argumentação tem raízes em uma distinção elaborada por Pontes de Miranda, que sustenta que “o agente não se há de confundir com o representante, nem com a agência de empresa (…). O agente que conclui não é simples agente: há o plus da representação, ou da comissão. O agente, em senso próprio, intermedeia, sem se encarregar de conclusões de negócios jurídicos. Ou se ocupa de vendas, ou de compra, ou de transportes, ou de seguros; não vende, não compra, não transporta, não segura. Se o auxiliar conclui, ou é mandatário, ou procurador, ou comissionário. O contrato de representação não se pode confundir com o contrato de agência: agenciar não é fazer negócio, não é concluir contratos ou outros negócios jurídicos” [6].
A questão que permanece é que essa afirmação, embora possa encontrar respaldo conceitual na doutrina que antecede o Código Civil — afinal, Pontes de Miranda a escreveu antes da 2002 —, pode apresentar dificuldades no que se refere a sua atualidade sob a perspectiva da legislação.
Para Pontes de Miranda, o contrato de agência se firma para a “promoção” de negócios, não para a sua conclusão, justamente porque o agente não é representante legal do proponente, ou seja, não pode emitir declarações de vontade por ela [7]. Porém, o artigo 710 do Código Civil afirma expressamente que “pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, à conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios” (grifou-se). Ao utilizar-se o substantivo “realização”, tem-se uma escolha por uma palavra que tem como significado a “1. Efetivação: cumprimento, execução […] 2. Execução: (consum)ação, cumprimento, efetivação” [8]. Ou seja, não se trata de uma mera promoção, mas da promoção da efetivação do negócio. Se a ideia fosse a de que os negócios não precisariam ser concluídos para que a atividade do agente estivesse cumprida, então não haveria por que a palavra realização constar no texto. Bastaria que o artigo fizesse a previsão de que o agente precisaria promover negócios; não a realização de negócios.
Além disso, o artigo 714 do CC afirma que “o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência”, sugerindo, portanto, que o fato gerador da remuneração do agente é a própria conclusão dos negócios e não a sua mera promoção. Mais ainda: o parágrafo único do artigo 710 prescreve que “o proponente pode conferir poderes ao agente para que este o represente na conclusão dos contratos”, do que se tem indícios, portanto, que os poderes para a emissão de declarações de vontade em nome do proponente é um elemento meramente acidental do negócio, i.e., uma faculdade. Não é esse poder de representação que distingue a agência de outros tipos contratuais.
Por outro lado, enfraquecendo argumento de que o representante poderia emitir declarações de vontade pelo representado, o artigo 1º da lei de representação destaca que o representante comercial atua para a “a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados”, sugerindo, portanto, que o representante não tem o poder de agir em nome do representado, mas apenas de mediar pedidos e propostas e transmiti-las.
Outra distinção criada envolve a dicotomia entre pessoa natural e pessoa jurídica. Sustenta-se que, pelo fato de que a lei de representação menciona expressamente as pessoas “jurídica ou física” (artigo 1º), ao passo que o artigo 710 do CC fala apenas em “pessoa”, haveria uma restrição do contrato de agência, reservando-o apenas às pessoas naturais. Essa restrição, contudo, parece não fazer sentido por um critério negativo: se assim o quisesse o legislador, teria previsto essa exclusão de forma deliberada [9].
Existem, ainda, outras tentativas de distinção: que a representação estaria reservada aos negócios mercantis e a agência aos negócios civis ou que a obrigação do representante seria de meio e do agente seria de resultado. Essas distinções, contudo, parecem sofrer do problema de ausência de previsão legislativa, uma vez que a Lei 4.886/1965 e o CC/02 não fornecem elementos textuais que sustentam essas hipóteses [10].
A jurisprudência também apresenta algumas variações, mas serão objeto de análise da terceira parte desta coluna.
*Esta coluna é produzida pelos membros e convidados da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo (USP, Humboldt-Berlim, Coimbra, Lisboa, Porto, Roma II-Tor Vergata, Girona, UFMG, UFPR, UFRGS, UFSC, UFPE, UFF, UFC, UFMT, UFBA, UFRJ e UFAM).
[1] THEODORO JR., Humberto. Do contrato de agência e distribuição no novo Código Civil. Revista dos Tribunais, v. 812, p. 22–40, jun. 2003.
[2] REQUIÃO, Rubens. Do representante comercial. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 1.
[3] THEODORO JR., Humberto. Do contrato de agência e distribuição no novo Código Civil. Revista dos Tribunais, v. 812, p. 22–40, jun. 2003. Considerando a experiência comparada, alguns autores sustentam que a lei 4.886/1965, apesar de tratar da representação comercial, em verdade não tratou de outra coisa senão o próprio contrato de agenciamento: “O equívoco no direito brasileiro deve-se principalmente ao nomen juris, empregado na Lei 4.886/65, a qual, mesmo tendo por título Lei do Representante Comercial, em verdade, trata de regular o contrato de agência conforme se depreende do seu art. 1º. Esse equívoco no texto legal levou não só a doutrina, como também a jurisprudência a afirmar que são sinônimos. Mas esse argumento não procede: não é por ter sido atribuído à Lei 4.886/ 65 o nome de Lei do Representante Comercial que o contrato tipificado no seu art. 1º passou a ser o de representação, e não de agência, pois tanto o nome da lei como o de um contrato não são o que lhe caracterizam, mas, sim, os seus elementos” (HAICAL, Gustavo Luís da Cruz. O contrato de agência e seus elementos caracterizadores. Revista dos Tribunais, v. 877, p. 41–74, nov. 2008).
[4] COSTA, André Brandão Nery. Efeitos legais do conflito tipológico entre o contrato de agência e o de representação comercial autônoma. Revista de Direito Privado, v. 96, p. 43–76, dez. 2018. Dos autores até aqui referenciados, que entendem pela identidade das figuras, vale citar também NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 13.ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 1121.
[5] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos. 17. São Paulo: Atlas, 2017.
[6] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: direito das obrigações: expedição; contrato de agência; representação. Atualizado por Claudia Lima Marques, Bruno Miragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 100.
[7] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: direito das obrigações: expedição; contrato de agência; representação. Atualizado por Claudia Lima Marques, Bruno Miragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018. p. 85.
[8] REALIZAÇÃO. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manuel de Mello. Dicionário Sinônimos e Antônimos. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2008. p. 687.
[9] Nesse sentido, “em complementação a esse argumento, o art. 719 do Código Civil, in fine, menciona os herdeiros como sucessores do direito do agente à remuneração pelos serviços prestados, mas impedidos por evento de força maior. O herdeiro, por corresponder à pessoa física, induziria à conclusão de que a atividade de promoção de negócios poderia ser realizada apenas por ela, e não por pessoa jurídica. No entanto, a previsão genérica, referindo ao agente como ‘pessoa’, não permite concluir, em interpretação demasiadamente restritiva, que o contrato de agência deveria necessariamente ser celebrado por pessoa física” (COSTA, André Brandão Nery. Efeitos legais do conflito tipológico entre o contrato de agência e o de representação comercial autônoma. Revista de Direito Privado, v. 96, p. 43–76, dez. 2018).
[10] Para um aprofundamento, ver COSTA, André Brandão Nery. Efeitos legais do conflito tipológico entre o contrato de agência e o de representação comercial autônoma. Revista de Direito Privado, v. 96, p. 43–76, dez. 2018.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!