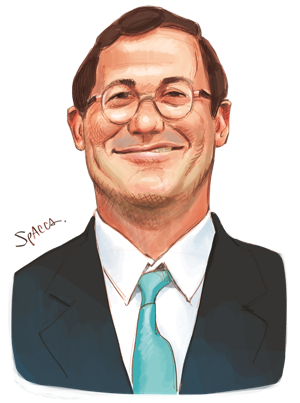O réu é obrigado a participar do reconhecimento pessoal?
30 de janeiro de 2024, 8h00
Questão complexa é equacionar o poder do Estado-acusador de se valer do reconhecimento de pessoas como prova incriminadora e, de outro lado, o direto do acusado à não autoincriminação.
A controvérsia acerca da (im)possibilidade de reconhecimento compulsório traz como exigência prévia a definição de um parâmetro capaz de diferenciar entre as modalidades vedadas de colaboração involuntária e a submissão autorizada a diligências probatórias.
Visões da doutrina
Em torno dessa problemática, existem diversas construções doutrinárias. A mais referenciada delas é a intitulada “qualidade da conduta (Handlungsqualität)”, cujo critério delimitador do conteúdo do direito à não autoinculpação gravita na diferenciação entre “os deveres de tolerância passiva (passive Duldungspflichten)” e as “obrigações de colaboração ativa (active Mitwirkungspflichten)” [1].
Não obstante, muitos doutrinadores criticam a diferenciação entre “deveres de tolerância passiva” e “obrigações de colaboração ativa”, porquanto, em ambas as situações, o réu, na contramão do seu instinto natural de autoproteção, contribui involuntariamente para a sua responsabilização penal [2].
O direito do réu no âmbito do reconhecimento
Transplantando o direito à não autoincriminação para fins de prova de reconhecimento no processo penal, surge uma indagação: a participação do réu no reconhecimento configura uma indevida colaboração involuntária ou uma mera tolerância passiva à intervenção estatal?

É válido pontuar que, consoante atual entendimento dos nossos tribunais superiores, somente o primeiro ato de reconhecimento – seja na fase de inquérito ou na fase judicial, seja presencial ou fotográfico –, e desde que parametrizado pelas regras do artigo 226 do CPP e da Resolução nº 484/2022 do CNJ, tem valor probatório.
De plano, entendemos que o réu não pode ser obrigado a participar de um reconhecimento (juridicamente) inválido. Nessas hipóteses, sequer há que se falar em suposto conflito de interesses, porquanto é vedado ao órgão acusatório a produção de provas ilícitas. Outrossim, se o reconhecimento realizado fora dos quadrantes legais não tem o condão de desconstituir o estado de inocência do réu, igualmente não tem força para restringir – quiçá violar – o seu direito à não autoincriminação. Para melhor elucidar o raciocínio, vamos enumerar dois exemplos.
“Reconhecimento informal”
É ilícito, porém comum que, no transcorrer da audiência de instrução, o representante do Ministério Público e, por vezes, o próprio juiz é o protagonista desse “reconhecimento informal” – e se limite a questionar à testemunha/vítima, por ocasião de sua inquirição, se reconhece o acusado – muitas vezes com trajes de presidiário e sentado no banco dos réus – como autor do fato criminoso. Badaró sustenta que esse apontamento do réu é “prova irritual, não podendo ser admitida no processo” [3].
Entendemos que o réu pode se recusar a participar desse (pseudo) reconhecimento. Se a audiência for realizada por videoconferência, a defesa técnica pode requerer que o réu permaneça com a câmera desligada. No caso de audiência presencial, o réu pode ficar cabisbaixo ou até mesmo de costas. Posicionamento diverso viola o direito à não autoincriminação e até mesmo o devido processo penal [4].
Repetição do reconhecimento
Os Tribunais de Sobreposição [5], bem como o CNJ (artigo 2º, §1º da Resolução nº 484/2022) vedam a repetição do reconhecimento. Contudo, é frequente na práxis penal a repetição na fase judicial de reconhecimento outrora realizado na fase policial sem as formalidades legais.
Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas:
“após múltiplos reconhecimentos, a confiança da testemunha não é resultante da memória original do fato, mas sim da repetição à exposição do rosto do suspeito” [6].
Ademais, não podemos menosprezar o “efeito compromisso”: depois que a vítima/testemunha reconhece uma pessoa, há uma propensão de “manter o compromisso anterior, mesmo que com dúvidas” [7].
Destarte, defendemos que o acusado não pode ser compelido a contribuir para a renovação do ato de reconhecimento.
Se pode o mais, pode o menos
Dito isso, avançamos para o próximo ponto: em se tratando de um ato de reconhecimento que cumpra as formalidades do artigo 226 do CPP e da Resolução nº 484 do CNJ, ainda assim entendemos que o réu não é obrigado a contribuir para a realização da prova.

Primeiramente, compreendemos que, se o acusado pode o mais – não comparecer à audiência – logicamente pode o menos – não participar do ato de reconhecimento. Em 14/6/2018, no julgamento das ADPFs nº 395 e nº 444, o STF declarou a não recepção da primeira parte do artigo 260 do CPP, que permitia a condução coercitiva do acusado para o ato de interrogatório [8].
Lei não impõe dever de colaboração
Mutatis mutandis, com base no brocardo ubi eadem ratio ibi eadem, esse mesmo raciocínio deveria valer no que tange à impossibilidade do réu ser conduzido coercitivamente para o ato de reconhecimento.
Outrossim, amparado pelo princípio do nemo tenetur se ipsum accusare, o réu não é obrigado a fornecer uma fotografia sua para que o Ministério Público providencie o ato de reconhecimento, e igualmente não pode ser coagido a integrar presencialmente um perfilamento.
Os adeptos da “teoria da conduta” argumentarão, muito provavelmente, que a participação do réu no alinhamento é uma mera tolerância passiva à atuação estatal. Ainda que concordássemos com a ideia de que a abrangência material do direito à autoincriminação fosse restrita às hipóteses de autoincriminação ativa, o que não é o caso, rechaçaríamos a possibilidade de reconhecimento compulsório.
A exclusão das condutas passivas do âmbito de proteção do nemo tenetur se ipsum accusare repousa na premissa de que a lei não impõe ao réu qualquer dever de colaboração, há apenas exigência de que ele seja condescendente com a intervenção estatal [9]. Contudo, são muitos os empecilhos práticos que impedem a empregabilidade dessa noção de mera passividade no ato de reconhecimento.
Em regra, o ato de reconhecimento pessoal acontece com a colaboração efetiva do acusado. A uma, porque ele precisa se deslocar até o local onde será feito o alinhamento. A duas, porque ele não pode ficar cabisbaixo ou de costas para quem vai reconhecê-lo, bem como não pode fazer caretas ou fechar os olhos. Essas constatações reforçam a crítica feita à “teoria da conduta” no sentido de ser inviável distinguir categoricamente as condutas ativas das condutas passivas.
Precedente alemão
Os tribunais superiores alemães se debruçaram sobre a (im)possibilidade de reconhecimentos compulsórios no final dos anos 70 do Século 20. Colacionamos excerto da pesquisa de Sandra Silva sobre a matéria:
“Procurando preservar a utilidade do reconhecimento e assegurar que os suspeitos se apresentassem perante os sujeitos ativos da identificação com sua expressão facial ‘normal’ (i.é, não desfigurada por práticas mímicas), a jurisprudência desta época firmou uma diferenciação – que Gabriele Wolflast qualificou como ‘cínica’ – entre ação (Tun) e omissão (Unterlassen) coativamente impostas. É paradigmática a esse respeito a decisão do Kammergericht de Berlim (1979) que considerou admissível o recurso a mecanismos coativos para obrigar o arguido a manter os olhos abertos e a cabeça levantada, como o argumento de que não era imposta ao arguido a adoção ativa de uma determinada expressão facial, mas tão só a obrigação de abandonar a sua atitude de oposição ilícita ao dever de tolerar passivamente a medida” [10].
Esse precedente alemão foi bastante criticado, porquanto é inegável que algumas exigências, tais como que o réu faça expressão fisionômica “neutra” e adote postura corporal nos parâmetros desejados pelo aparelho estatal, caracterizam indubitavelmente condutas ativas[11].
Coação indireta
A partir do momento em que o réu é informado de que o Estado poderá se valer de força física em caso de recusa passiva na realização da prova, resta configurada uma coação indireta para que ele contribua na investigação desenvolvida contra ele mesmo [12].
A autonomia pessoal e dignidade são afetadas tanto quando o réu é obrigado a colaborar ativamente contra sua vontade, quanto nas hipóteses em que sua recusa é suplantada pelo uso da força. Em rebate a tais considerações, Sandra Silva registra a compreensão jurisprudencial introduzida pelas cortes alemãs ainda na década de 70 do século passado:
“o Kammergericht introduziu já em 1979, a propósito dos reconhecimentos compulsivos, um critério normativo-teleológico de delimitação do nemo tenetur, excluindo do seu âmbito de validade material todas as ações indispensáveis à adequada preparação e execução da diligência (Vorbereitungs-und Durchfuhrungshandlungen) ainda que estas não impliquem em concreto um facere do arguido” [13].
Essa decisão também foi desaprovada pela doutrina, que entendeu exagerada a definição feita às “medidas preparatórias e de acompanhamento”, pois, para além de abranger as questões inerentes à realização do procedimento em si (como o deslocamento do réu até o lugar do reconhecimento), também incluiu posturas diretamente relacionadas ao mérito probatório (obrigação de adotar fisionomia “normal”, proibição de usar peruca ou óculos etc.), o que afronta a liberdade de decisão de vontade do réu de contribuir, ou não, para a sua autoincriminação [14].
Outra face da moeda e o direito de resistência
O reconhecimento de pessoas torna clarividente a inconsistência prática da “teoria da conduta”, porquanto os comportamentos do réu podem ser encaixados como “ativos” ou “passivos”, consoante o resultado almejado pelo intérprete. Os “deveres de tolerância passiva” (não ficar cabisbaixo, não fazer careta) nada mais são que a outra face da mesma moeda, das chamadas “obrigações de colaboração ativa” (adotar uma fisionomia neutra, manter a cabeça erguida, ficar com os olhos abertos).
Ainda que fosse perfeitamente possível categorizar um comportamento do réu como ativo ou passivo, seria questionável o porquê ambas as hipóteses não são merecedoras de proteção do nemo tenetur. Para além da colaboração ativa, há igualmente violação à liberdade de decisão do acusado quando ele é obrigado, a despeito de sua vontade, a tolerar a instrumentalização do seu corpo como meio de prova contra si mesmo. Rosmar Alencar sustenta que o réu teria, inclusive, direito de resistência nessas situações [15]:
“Por outra banda, a condução coercitiva para o reconhecimento do imputado (art. 226 do CPP) desperta um outro problema, que é o seu direito de resistência. Não se adequa com a ordem constitucional levar o imputado, manu militari, à presença de alguém para ser submetido a qualquer ato de prova contra a sua vontade e os seus interesses”.
Ademais, a admissão do reconhecimento compulsório não traz confiabilidade do seu resultado, pois é inegável que o réu pode burlar os objetivos da diligência probatória (p. ex., imagine que o acusado raspe o cabelo ou refaça uma tatuagem para esconder uma anterior, fique zarolho ou faça uma careta). No momento do reconhecimento, a autoridade estatal responsável pela confecção da prova não pode reclamar do comportamento do acusado, pois a inequívoca sugestionabilidade daí derivada invalidaria a prova.
Reconhecimento por fotografia
Quanto ao chamado “reconhecimento fotográfico”, além de uma baixíssima qualidade epistêmica, tem a pretensão de ser um meio atípico de prova, mas que, no fundo, é mera burla de uma prova típica (reconhecimento pessoal do art. 226), algo inadmissível.
Como já explicamos em outra oportunidade, “não pode ser admitida uma prova rotulada de inominada quando na realidade ela decorre de uma variação (ilícita) de outro ato estabelecido na lei processual penal, cujas garantias não foram observadas. Exemplo típico de prova inadmissível é o reconhecimento do imputado por fotografia, utilizado, em muitos casos, quando o réu se recusa a participar do reconhecimento pessoal, exercendo seu direito de silêncio (nemo tenetur se detegere). O reconhecimento fotográfico somente pode ser utilizado como ato preparatório do reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226, inciso I, do CPP, nunca como um substitutivo àquele ou como uma prova inominada [16].”
Não é nossa pretensão transformar o direito a não autoincriminação em um refúgio para impunidade do réu. Lógico que, ainda contra a vontade do acusado, os órgãos encarregados da persecução penal podem valer-se de elementos probatórios decorrentes de esfera pessoal do imputado, ou de vestígio por ele deixado na cena do crime, para demonstrar a sua culpabilidade.
O que pensamos ser inadmissível é o rebaixamento do réu da sua condição de sujeito de direitos a um mero objeto do poder estatal, que pode convertê-lo em instrumento probatório da própria condenação, a despeito de sua decisão de vontade.
Por derradeiro, é crucial que se destaque: ainda que o reconhecimento pessoal seja feito com plena observância dos critérios legais e com máxima cautela para não haver indução, sugestão e estabelecimento de um protocolo de redução de danos (em relação ao falso reconhecimento), ele sempre será uma prova frágil e perigosa, pois inserido no gênero das ‘provas dependentes da memória’. Grave erro é a supervalorização do reconhecimento pessoal por parte de juízes e tribunais, mas esse será um tema para as próximas colunas…
REFERÊNCIAS
ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal – em conformidade com a teoria do direito. São Paulo: Noeses, 2021
BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022
CECCONELLO, William Weber. AVILA, Gustavo Noronha de. STEIN, Lilian Milnisky. A (ir)repetibilidade da prova penal dependente da memória: uma discussão com base na psicologia do testemunho. In Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v.8, nº 2, 2018
DI GESU, Cristina. Prova penal e falsas memórias. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2014
FERNANDES, Antônio Scarance. Tipicidade e sucedâneo de prova. In: FERNANDES, Antônio Scarance. ALMEIDA, José Raul Gavião de. MORAES, Maurício Zanoide de (coords.). Provas no processo penal. Estudo Comparado. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011
GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2016
LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2019
QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio nemo tenuter se detegere e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012
RAMOS, Vânia Costa. Corpus Juris 2000: imposição ao arguido de entrega de documentos para prova e nemo tenetur se ipsum accusare. In: Revista do Ministério Público. ISSN 0870-6107. Ano 28, N. 109, 2007, p.57-96.
ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. Florianópolis: Emais, 2020
SILVA, Sandra Oliveira. A liberdade contra a autoincriminação no processo penal: breves considerações em torno do nemo tenetur se ipsum accusare. In Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: maio-ago. 2016, n. 80, p.111-128.
SILVA, Sandra Oliveira. O Arguido como Meio de Prova contra si mesmo: considerações em torno do princípio nemo tenetur se ipsum accusare. Coimbra: Almedina, 2018
[1] SILVA, Sandra Oliveira. A liberdade contra a autoincriminação no processo penal: breves considerações em torno do nemo tenuter se ipsum accusare. In Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: maio-ago. 2016, n. 80, p.126.
[2] SILVA, Sandra Oliveira. O Arguido como Meio de Prova contra si mesmo: considerações em torno do princípio nemo tenetur se ipsum accusare. Coimbra: Almedina, 2018, p. 661; Neste mesmo sentido: QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio nemo tenuter se detegere e suas decorrências no processo penal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.366-368; RAMOS, Vânia Costa. Corpus Juris 2000: imposição ao arguido de entrega de documentos para prova e nemo tenetur se ipsum accusare. In: Revista do Ministério Público. ISSN 0870-6107. Ano 28, N. 109, 2007, p.29 e ss; GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 123-124
[3] BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p.595. No mesmo sentido: FERNANDES, Antônio Scarance. Tipicidade e sucedâneo de prova. In: FERNANDES, Antônio Scarance. ALMEIDA, José Raul Gavião de. MORAES, Maurício Zanoide de (coords.). Provas no processo penal. Estudo Comparado. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.20
[4] LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p.488
[5] Dentre tantos, vide: STJ. Sexta Turma. HC 712781/RJ. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 15/03/2022, Dje 22/03/2022.
[6] CECCONELLO, William Weber. AVILA, Gustavo Noronha de. STEIN, Lilian Milnisky. A (ir)repetibilidade da prova penal dependente da memória: uma discussão com base na psicologia do testemunho. In Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, v.8, nº 2, 2018, p.1063
[7] DI GESU, Cristina. Prova penal e falsas memórias. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2014, p.160
[8] Sobre a temática, vide ROSA, Alexandre Morais da. Guia do Processo Penal conforme a teoria dos jogos. 6. ed. Florianópolis: Emais, 2020, p.381-383.
[9] SILVA, Sandra Oliveira. O Arguido como Meio de Prova contra si mesmo: considerações em torno do princípio nemo tenetur se ipsum accusare. Coimbra: Almedina, 2018, p. 645 e 647.
[10]Ibidem, p. 650.
[11] Ibidem, p. 658.
[12] Ibidem, p. 654.
[13]Ibidem, p. 654.
[14]Ibidem, p. 654-656.
[15] ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal – em conformidade com a teoria do direito. São Paulo: Noeses, 2021, p.797
[16] Deve-se considerar, ainda, a advertência de HUERTAS MARTIN (op. cit., p. 243), de que o reconhecimento fotográfico deve ter sempre escassa validade probatória, pois a experiência judicial demonstra que é um instrumento com grande propensão a erros. A situação é agravada quando a fotografia do suspeito passa a ser amplamente difundida pelos meios de comunicação, criando um clima de induzimento extremamente perigoso (prova disso é a quantidade de pessoas que, após a divulgação, passam a afirmar terem visto o agente, ao mesmo tempo, em lugares completamente distantes e diversos).
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!