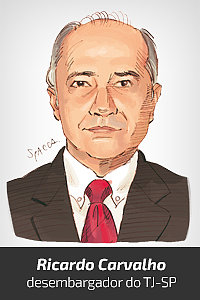Carcinicultura e seus desafios para sustentabilidade em áreas estuarinas no Nordeste
3 de maio de 2025, 11h27
A carcinicultura é a criação de camarões em ambientes controlados para fins comerciais, constituindo um segmento da aquicultura voltado para a produção em viveiros de água salgada ou doce. Segundo dados do Banco do Nordeste, em 2021, a região Nordeste foi responsável por 99,71% da produção nacional de camarão cultivado, totalizando 78,41 mil toneladas. As condições climáticas da região, caracterizadas por temperaturas elevadas e um breve período chuvoso, favorecem uma alta produtividade na criação de camarões, fator que contribuiu de maneira decisiva para o expressivo desenvolvimento dessa atividade no território nordestino (BNB, 2023).

Tanques de carnicultura na foz do rio São Francisco, em Sergipe
A criação de camarões integra o cultivo de organismos aquáticos que vivem total ou parcialmente em ambientes aquáticos, abrangendo também crustáceos, peixes, moluscos, anfíbios, répteis e plantas aquáticas. No país, predomina a carcinicultura marinha, concentrada no Nordeste, enquanto a produção de camarões de água doce é menos expressiva e mais comum no Sudeste. Entre as principais espécies cultivadas estão o Litopenaeus vannamei, conhecido como camarão cinza, de água salgada (GIA, 2022), e o Macrobrachium rosenbergii, o camarão da Malásia, de água doce (FAO, 2009).
No Brasil, o Litopenaeus vannamei é a espécie de camarão mais relevante comercialmente, sendo amplamente encontrado em restaurantes e supermercados em todo o país. Sua produção em larga escala exige áreas extensas de cultivo, o que aumenta os riscos de impactos ambientais caso a atividade, ainda que licenciada, não adote sistemas de controle e práticas sustentáveis.
Devido a fatores técnicos, como o pH da água, a drenagem do solo (solo argiloso de mangue) e a dinâmica estuarina, muitas fazendas foram implantadas em áreas de manguezal. Essa escolha resultou, e ainda resulta, em conflitos com órgãos ambientais, com o Ministério Público e organizações da sociedade civil, que apontaram infrações relacionadas à ocupação de áreas de preservação permanente (APPs), como os manguezais e áreas associadas, cuja proteção é determinada pelo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, em seu artigo 4º, incisos VI e VII (Brasil, 2012). Obviamente que não há conflitos em todos os casos, mas não é rara a existência de problemas associados à ocupação nessas áreas (manguezais e restingas protetoras de mangues).
Tal cenário gerou, e ainda gera, conflitos socioambientais e econômicos, pois a técnica (incluindo o local da atividade) mais eficiente para o cultivo confronta-se com as restrições legais. Nesse sentido, não se pode esquecer que de acordo com o artigo 4º, incisos VI e VII do Código Florestal vigente, considera-se área de preservação permanente, em zonas rurais ou urbanas, as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues e os manguezais, em toda a sua extensão (Brasil, 2012).
No entanto, esta mesma norma (Lei Federal nº 12.651/2012) admite, em situações excepcionais, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em áreas de preservação permanente (APPs), desde que motivada por utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, conforme disposto no seu artigo 8º (BRASIL, 2012). A questão que se coloca, então, é saber se tal atividade se enquadra em hipótese de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. Nem sempre isso acontece. Aliás tal enquadramento não é tarefa simples e fácil.

Complementando o parágrafo anterior, vale destacar que o § 1º desse mesmo artigo 8º determina que a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada nos casos de utilidade pública. Já o § 2º estabelece que a intervenção ou supressão de vegetação em APPs relacionadas aos incisos VI e VII do artigo 4º (restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues e manguezais, em toda a sua extensão) poderá ser autorizada, de forma excepcional, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, desde que destinada à execução de obras habitacionais e de urbanização vinculadas a projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda (Brasil, 2012).
Em se tratando de aspectos socioambientais, a disciplina e a ordenação do território são condições fundamentais para que determinadas atividades econômicas possam dispor de segurança jurídica e sustentabilidade (social, econômica e ambiental). Não se pode desprezar os benefícios que a produção de camarões ou outros crustáceos e animais marinhos trazem à sociedade brasileira. Ademais, frise-se também que a dinâmica na referida cadeia produtiva gera empregos e carreia tributos aos cofres públicos. Convém ainda ressaltar que os maiores defensores da qualidade ambiental em áreas estuarinas devem ou deveriam ser os empresários do setor, uma vez que degradações ambientais colidem, frontalmente, com os interesses de um ambiente equilibrado, fundamental para quem explora atividade econômica ligada intrinsecamente ao ambiente, isso porque a instabilidade das funções ecológicas das mais variadas espécies que interagem nesses territórios trará reflexos significativos sobre toda a cadeia de relações havidas neste espaço, incluindo, por óbvio, atividades econômicas como a carcinicultura marinha.
Regulações e a necessidade de ajustes na legislação
Não constitui novidade reconhecer que a legislação brasileira é vasta e diversificada em matéria de regulações ambientais. As normas, em suas múltiplas estruturas e formas, permeiam amplamente a tutela do meio ambiente no país. Neste sentido, como fonte regulatória para a carcinicultura marinha no Brasil, convém destacarmos: a) a Constituição Federal de 1988, especialmente em seus artigos 225 e 170; b) a Lei Federal nº 6.938/1981, especialmente em seu artigo 9º, quando trata dos instrumentos da PNMA; c) Lei Federal nº 7.661/1988, que dispõe sobre o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro; d) a Lei Federal nº 9.605/1998, que trata dos crimes e das infrações administrativas ambientais, a qual dispõe sobre os crimes contra a flora, dos artigos 38 a 53, poluição; dos artigos 54 a 61; e das infrações administrativas ambientais a partir do art. 70; e) a Lei Federal nº 9.985/2000, em sua íntegra; f) o Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002, que estabelece critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE; g) Lei Complementar nº 140/2011, especialmente em seus artigos 7º, inciso XIV; 8º, inciso XIV; e 9º, inciso XIV; h) Lei 12.651/2012 (Código Florestal), especialmente artigos 4º a 6º, que define as áreas de preservação permanente e sua regulação; art. 11-A, que traz regulações sobre uso da terra em apicuns e salgados, e arts. 12 a 25, que definem áreas de reserva legal e suas regulações; i) Resolução Conama nº 312 de 10/10/2002, que dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental dos empreendimentos de carcinicultura em zona costeira; j) Resolução nº 413, de 26 de julho de 2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura; entre outras normas.
Observa-se que a atividade apresenta regulação apta a proteger o ambiente e assegurar a realização de uma atividade econômica sustentável. Todavia, à luz dos conflitos identificados entre a carcinicultura e a proteção dos manguezais, impõe-se refletir sobre a necessidade de ajustes na legislação vigente.
Sugere-se, como exemplo de medida de aperfeiçoamento normativo, a inclusão, no Código Florestal, da possibilidade de supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) de manguezal para atividades classificadas como de baixo (o que já existe) e médio impacto ambiental, desde que a área esteja contemplada em zoneamento ecológico-econômico aprovado e que a intervenção seja condicionada à prévia autorização do órgão ambiental competente, mediante a execução de medidas compensatórias em áreas públicas de mangue degradado (a serem indicadas pelo órgão ambiental competente pelo licenciamento ambiental da atividade), destinadas à regeneração e recuperação ambiental, inseridas preferencialmente dentro de uma mesma bacia hidrográfica.
Tal proposta visa promover a efetiva conciliação entre a proteção dos ecossistemas costeiros e a dinamização de atividades econômicas sustentáveis, concretizando, assim, o princípio do desenvolvimento sustentável que inspira a ordem constitucional e a legislação ambiental brasileira.
Referências bibliográficas
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (BNB). Análise do comércio e mercado de camarão cultivado. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2023. Disponível em: https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/bitstream/123456789/1736/4/2023_CDS_274.pdf. Acesso em: 28 abr. 2025.
BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12651compilado.htm. Acesso em: 26 abr. 2025.
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii). FAO Fisheries and Aquaculture Department, 2009. Disponível em: https://www.fao.org/fishery/docs/CDrom/aquaculture/I1129m/file/en/en_giantriverprawn.htm. Acesso em: 26 abr. 2025.
GRUPO INTEGRADO DE AQUICULTURA E ESTUDOS AMBIENTAIS (GIA). Camarão marinho Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). GIA, 2022. Disponível em: https://gia.org.br/portal/camarao-marinho-litopenaeus-vanammei-boone-1931/. Acesso em: 26 abr. 2025.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!