Jurisdição constitucional, dados técnicos e os 35 anos da Constituição
19 de agosto de 2023, 8h00
Após 35 anos da promulgação da Constituição, seu sentido ganhou contornos mais sofisticados e nítidos com o aprofundamento do conteúdo decisório da jurisdição constitucional. Os princípios norteadores da atividade econômica, por exemplo, deixaram de ser meras linhas gerais abstratas para se referirem a aspectos bastante concretos da atuação dos agentes econômicos. Com isso, tornou-se fundamental, nesses últimos 35 anos, o STF se cercar de dados e números confiáveis, de forma a melhor interpretar a dinâmica própria dos setores produtivos e estabelecer parâmetros e limites corretos de seu funcionamento.
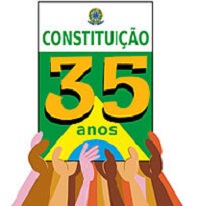 Qual deve ser, então, a relação entre jurisdição constitucional, dados técnicos ou científicos e decisão? A pergunta pode parecer fora de lugar, afinal jurisdição constitucional remete geralmente a juízos de moralidade política, formas interpretação constitucional, âmbito de aplicação de direitos fundamentais, garantias constitucionais, talvez ativismo judicial. Essa é, de fato, o conjunto temático que faria parte do main core da atividade do Supremo Tribunal Federal.
Qual deve ser, então, a relação entre jurisdição constitucional, dados técnicos ou científicos e decisão? A pergunta pode parecer fora de lugar, afinal jurisdição constitucional remete geralmente a juízos de moralidade política, formas interpretação constitucional, âmbito de aplicação de direitos fundamentais, garantias constitucionais, talvez ativismo judicial. Essa é, de fato, o conjunto temático que faria parte do main core da atividade do Supremo Tribunal Federal.
Essa, entretanto, não é decididamente o contexto de decisão de uma parcela relevante da atividade judicante da jurisdição constitucional. Quando a questão é economia, trata de funcionamento e dinâmica dos setores econômicos, a relação desses setores com a atividade regulatória, ou ainda sobre restrições impostas aos agentes econômicos, o Supremo Tribunal Federal navega quase sempre por águas desconhecidas.
Há matérias técnicas que não são do controle ou domínio dos ministros do STF e, nesses casos, a atividade decisória depende quase que integralmente da escolha de fontes para acessar informações científicas, dados técnicos, elementos estatísticos, trabalhos acadêmicos e relatórios especializados.
Essa é uma temática ainda envolta em muita ingenuidade: na busca por legitimação de seus votos, os ministros buscam por tais informações e as utilizam sem reflexões quanto à seriedade, cientificidade e rigor metodológico das fontes que lhes são apresentadas nos autos. Não é, nesse sentido, incomum que pretensas fontes de dados científicos indiquem diagnósticos factuais completamente diferentes e abordagens técnicas divergentes. O fenômeno da multiplicação e concorrência dos amici curiae, especialmente nos processos do controle concentrado, catalisaram essa confusão de informações e conflitos de fontes.
Na prática, observa-se que o relator do caso acaba por "pinçar" a fonte de informações científicas que converge com suas expectativas ou visão pessoal. Pior. Não se enfrenta o fato de haver nos autos divergências preocupantes de informações técnicas que exigiriam algum tipo de burilamento ou avaliação crítica. Em outras palavras, torna-se imperativo nesses casos considerar o problema metodológico de se decidir qual fonte é confiável e qual não é.
 Imagina-se que há questões pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal que dependem apenas de um esclarecimento técnico. O problema, entretanto, é bem mais complexo já que a própria decisão sobre qual fonte considerar, qual descartar e qual número estatístico ou base de dados destacar no voto já é em si e na grande maioria dos casos a projeção da decisão final sobre a questão. E mais. É preciso ainda se definir quais são as questões de direito, as questões de fato, as respostas que a ciência tem a oferecer e quais são as questões sobre as quais a ciência está em franco debate e não tem posição consolidada.
Imagina-se que há questões pendentes de decisão do Supremo Tribunal Federal que dependem apenas de um esclarecimento técnico. O problema, entretanto, é bem mais complexo já que a própria decisão sobre qual fonte considerar, qual descartar e qual número estatístico ou base de dados destacar no voto já é em si e na grande maioria dos casos a projeção da decisão final sobre a questão. E mais. É preciso ainda se definir quais são as questões de direito, as questões de fato, as respostas que a ciência tem a oferecer e quais são as questões sobre as quais a ciência está em franco debate e não tem posição consolidada.
Diante da complexidade de temas constitucionais que trazem esse tipo de névoa, a jurisdição constitucional, para melhor decidir, deveria passar a adotar o instrumento do "despacho saneador" (artigo 357, especialmente, II, III, IV e V, do CPC). Fixar as questões cientificamente controversas "relevantes para a decisão" ou as questões técnicas desconhecidas pelos ministros traria uma salutar organização da tramitação do caso, delimitando as questões “sobre as quais recairá a atividade probatória”, dando novo sentido e impulso a, por exemplo, a possibilidade de promoção de audiência pública, a designação de perito ou a convocação de especialistas para contribuir com seu conhecimento e experiência (artigo 9, § 1º, da Lei nº 9.868/99 e artigo 1.038, II, do CPC).
Hoje tais mecanismo previstos na legislação que regula os processos de controle concentrado e os recursos afetados ao regime da repercussão geral são utilizados de forma protocolar e burocrática. Ao invés de se prestarem a uma utilidade prática de esclarecimento técnico dirigido sobre questão específica identificada e fundamental para a decisão de mérito, tem apenas servido para criar espaço privilegiado de fala no processo, sem que se preste a uma contribuição efetiva e decisiva.
A posição passiva do Tribunal nesses casos — que se limita apenas a admitir ou não amicus curiae ou a convocar audiência pública sem pauta com pontos definidos ou "fatos determinados" — ajuda a criar esse ambiente de confusão de posições pretensamente técnicas, já que qualquer entidade ou associação apresenta os seus dados e números sobre tudo, sobre qualquer aspecto.
Nesse ambiente o "parecer" cientificamente descuidado, simplista e histriônico passa a valer mais do que a posição técnica cautelosa, abalizada e receosa de fazer afirmações gerais e irresponsáveis. Não é raro, de fato, conceder-se mais peso a verdadeiras peças de propaganda do que a relatórios emitidos por entidades especializadas ou órgãos técnicos oficiais que, no âmbito administrativo, atuam para subsidiar a promoção de política pública.
O setor da agricultura, facilmente demonizado em matéria fundiária ou ambiental, sofre exageradamente com essa inexplicável valorização de trabalhos sem qualquer sustento científico ou baseados em dados visivelmente manipulados.
Na ADI nº 5.553, por exemplo, o tribunal decidirá acerca da constitucionalidade da desoneração tributária na aquisição de defensivos agrícolas. Os defensivos utilizados no Brasil causam câncer? Eles causam danos ao meio ambiente? O Brasil abusa no uso de defensivos para a sua produção agrícola? São respostas fundamentais para a decisão de mérito e que dependem exclusivamente de informações científicas e técnicas. Os argumentos do requerente vão nesse sentido.
Trabalhos apresentados por Defensorias Públicas, Ministério Público, associações de defesa do meio ambiente dizem que sim: defensivos são cancerígenos e que o Brasil é recordista mundial no uso desses insumos. Anvisa, FAO, CNA, Ministério da Agricultura, associações de produtores rurais dizem que não, que temos uma sólida e rigorosa estrutura de avaliação de novos defensivos e de que o Brasil está longe de abusar no uso desses produtos. Quem está com a razão? Parece razoável supor que um dos lados está errado. Como decidir qual será a fonte científica idônea e segura para um a decisão da jurisdição constitucional? Qual a fonte adequada para se desenhar o atual diagnóstico acerca dessas questões?
Recentemente, o STF chocou o setor com uma decisão que ilustra bem o problema aqui identificado. Na ADI 6.137, o tribunal declarou a constitucionalidade de uma lei do Ceará que, por meio de apenas um artigo, proibiu a pulverização aérea no estado, abrindo a possibilidade para que outros estados possam legislar no mesmo sentido. A lei estadual não se baseou em nenhum levantamento minimamente confiável. Um setor inteiro da atividade econômica — o setor da aviação agrícola — está agora ameaçado de desaparecer, com impactos profundos na produção agrícola.
O voto condutor da unânime decisão tomada em plenário virtual quase que exclusivamente se baseia em trabalho técnico de 2008 e se sustenta em afirmações inteiramente equivocadas que vai desde os perigos sanitários e ambientais dos defensivos no Brasil, até o inexistente problema da deriva na aplicação aérea, passando pelo desconhecimento absoluto de como a atividade se desenvolve na prática e a tecnologia empregada. O contraponto a tais alegações estava nos autos, mas foram ignorados. Uma decisão sensível com repercussão devastadora em que sequer se problematizou o fato de haver densa regulamentação técnica federal para a atividade de aviação agrícola.
Por fim, cito o exemplo paradigmático da ADPF nº 656, por meio da qual até se divulgou informações incorretas — e na ementa! — sobre a avaliação e aprovação de novos produtos a serem empregados na produção agrícola. Mais uma vez o tribunal deixou a desejar no enfrentamento substancial da questão, utilizando para essa decisão as tais pesquisas histriônicas e exageradas envernizadas com linguagem e formato científico.
Nos demais setores da economia a mesma ameaça da confusão de dados técnicos se faz presente.
A falta de algum tipo de procedimento de avaliação e decisão do tribunal quanto ao rigor metodológico das informações apresentadas nos processos gera uma realidade que fragiliza a consistência da decisão final e do próprio processo decisório: cada ministro escolhe as suas fontes e os seus dados. Não há diálogo ou confronto entre tais fontes e dados de forma a promover o salutar teste do método científico. As decisões, nesse contexto, não indicam propriamente um norte já que não se tem "motivos determinantes", ou melhor, "dados científicos determinantes".
Para os próximos 35 anos de vigência da Constituição, não bastará ao Tribunal apenas supor realidades e contextos econômicos ou partir de premissas que não sejam tecnicamente corretas. É preciso evoluir e o desenvolvimento da jurisdição constitucional na sua relação com a produção científica determinará o desenvolvimento do próprio sentido da Constituição em uma sociedade cada mais complexa, diversificada e orgânica. É preciso que o STF assume essa sua responsabilidade e preze por fundações tecnicamente mais sólidas para as suas decisões.
É preciso, portanto, o desenvolvimento de testes de avaliação, uma adequada regulamentação de metodologias que permitam ao tribunal aceitar e descartar fontes e dados que lhe são apresentados, uma forma de examinar o rigor científico de alguns dados técnicos apresentados ao tribunal. O desenvolvimento da prática processual do "despacho saneador" com a exigência da fixação dos pontos técnicos controvertidos e que precisariam ser esclarecimentos em uma instrução científica do processo poderia, nesse sentido, dar mais riqueza e correção às decisões de constitucionalidade que envolvam setores econômicos, aprimorando o terreno para uma Constituição mais viva e madura em matéria de regulação e proteção da atividade econômica.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!








