Precisamos fortalecer a defesa criminal com perspectiva de gênero
18 de novembro de 2022, 8h00
"Fui uma mulher libertadora. No sentido verdadeiro, procurei viver a vida em que acreditava e acredito."
Gal Costa, em entrevista ao Globo, em fevereiro de 2021
O direito à igualdade e à não discriminação foi amplamente contemplado nas cartas constitucionais contemporâneas. No entanto, basta olhar mais detidamente para as sociedades de hoje e constataremos que a matéria tratada por seus textos normativos ainda carece de efetividade. O âmbito da Justiça criminal não é exceção. Aqueles que participam desse contexto são tratados sistematicamente de modo diferente e discriminatório em razão de distintos aspectos: raça, gênero, classe, dentre outros.
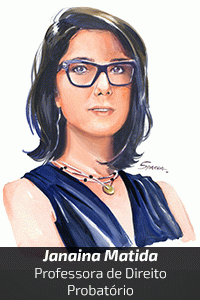 Para as reflexões da Limite Penal desta sexta-feira, quero propor uma análise sobre a necessidade de construção de uma defesa criminal com perspectiva de gênero e sensível às interseccionalidades. Abordarei a necessidade de construção de um processo penal com perspectiva de gênero a partir da lógica de quem assume a tarefa de defender alguém.
Para as reflexões da Limite Penal desta sexta-feira, quero propor uma análise sobre a necessidade de construção de uma defesa criminal com perspectiva de gênero e sensível às interseccionalidades. Abordarei a necessidade de construção de um processo penal com perspectiva de gênero a partir da lógica de quem assume a tarefa de defender alguém.
É quase impossível abordar a temática da defesa criminal nos delitos de gênero sem recordar, instantaneamente, do caso Ângela Diniz. Em 30 de dezembro de 1976, ela foi brutalmente assassinada por seu namorado, Doca Street. À época desquitada e mãe de três filhos sob a guarda do ex-marido, Ângela chamava atenção por onde quer que passasse. Além de corresponder ao ideal de beleza da sociedade de então, era independente, segura e livre. Em entrevista dada à Manchete, em 1973, disse:
"Posso parecer, mas não sou frágil. Ou melhor, fui frágil, carente de compreensão. Estudei em colégio de freiras, sentia uma enorme necessidade de carinho. (…) Tive de mudar muito. De medrosa, passei a provocar medo. É isso: Belo Horizonte tem medo de mim.
— O que você fez para que uma cidade tivesse esse medo?
Ser eu mesma, sempre. Por isso, nenhuma mulher em Belo Horizonte consegue me olhar de frente. Eu encaro cada uma, e todas abaixam a vista. Não têm coragem de enfrentar o meu olhar. Um olhar que sabe, que conhece os valores — os falsos, os aparentes e os reais — de cada uma. Por isso, eu me considero em permanente agressão àquele meio."
Três anos depois de declarações tão conscientes do machismo de que já se sabia alvo, Ângela morreria com quatro disparos na cabeça, dados por seu namorado ciumento e possessivo, Doca, depois de uma discussão na paradisíaca praia dos Ossos, em Búzios, litoral norte do Rio de Janeiro.
No procedimento de Júri, o célebre advogado Evandro de Lins e Silva reverberou a tese da legítima defesa da honra. O acusado teria tirado a vida de sua amada porque defendera a sua honra. Na ocasião, a personalidade livre da própria Ângela foi usada no plenário para justificar muito mais do que narizes torcidos: sua morte precoce era o preço a ser pago pela restauração da honra de seu algoz. Sobre os argumentos explorados pela defesa, a revista Veja (24/10/1979) noticiou:
"(…) Evandro Lins e Silva chamou Ângela de 'Vênus lasciva', acusou-a de ser 'dada a amores anormais' e, finalmente, comparou a morta a 'mulher de escarlate de que fala o Apocalipse, prostituta de alto luxo da Babilônia, que pisava corações e com as suas garras de pantera arranhou os homens que passaram por sua vida'."
O resultado? Condenação com sabor de absolvição. Por 5 a 2, Doca foi condenado por homicídio culposo a pena de dois anos, com sursis convertido em imediata liberdade. Embora um ano depois Doca tenha sido finalmente condenado a 15 anos de prisão em novo Júri, o argumento da legítima defesa da honra já havia sido revelado em inegável legado machista ao direito brasileiro.
"O caso Ângela Diniz foi um marco jurídico. Em um primeiro julgamento, em 1979, Doca Street entrou no fórum aplaudido por uma multidão e saiu em liberdade – depois que o jurista Evandro Lins e Silva recorreu à tese da legítima defesa da honra". (Perdoe-me, Ângela Diniz, diz Doca Street — O Estado de S. Paulo 1/9/06).
Foi exatamente isso o que motivou a precisa afirmação de Carlos Drummond de Andrade, ao se inteirar dos debates desenvolvidos durante o primeiro procedimento de Júri: "Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras".
Infelizmente, a revitimização constatada pelo poeta não é circunstancial. Essa mesma perversa continuidade de vitimar mais uma e outra vez a mulher através do processo penal também marcou o caso Márcia Barbosa de Souza, cujo feminicídio data de mais de 20 anos depois do de Ângela Diniz.
Em 17 de junho de 1998, Márcia Barbosa de Souza foi morta por Aércio Pereira Lima em um quarto de hotel na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Mulher negra de seus apenas 20 anos, Márcia tinha esperança de conseguir um emprego. Seu corpo foi abandonado em terreno baldio perto da cidade e achado no dia seguinte. A autopsia registrou escoriações em seu rosto, hemorragia interna na cavidade cranial, torácica abdominal e no pescoço, terminando por apontar a asfixia por sufocamento como a causa da morte. Através de testemunhas e da ligação que a própria Márcia fez do aparelho de telefone de Aércio, determinou-se o encontro dos dois no quarto de hotel na noite do fato. O carro utilizado para ocultar o corpo da vítima estava sob o poder do deputado.
Como já contei em outro texto publicado nesta coluna, apesar da fartura do conjunto probatório, sua defesa utilizou-se de duas estratégias: a imunidade parlamentar e o deslocamento argumentativo da conduta do acusado à reprovabilidade moral da própria vítima. Com a vergonhosa conivência dos outros deputados Assembleia Legislativa da Paraíba, a imunidade parlamentar foi utilizada para a blindagem jurídica do parlamentar, posto que a instauração da ação penal àquela época condicionava-se à autorização assemblear. A propositura da ação penal só foi possível com o término da legislatura do feminicida e de sua não reeleição, ao ano de 2003.
Instaurado o processo, a defesa apresentou Aércio como "um pai de família que se deixou levar pelos encantos da jovem", enquanto Márcia foi retratada como uma mulher drogada, com tendências suicidas e que se prostituía. Durante todo o procedimento, uma narrativa duvidosa e irrelevante foi fartamente explorada pela defesa, com o claro propósito de estimular um raciocínio probatório estereotipado por parte dos jurados: "a vida de uma mulher perdida não vale a condenação de um homem de bem". Foram mais de 150 páginas de reportagens sobre a vítima anexadas aos autos com o explícito objetivo de destruir a sua reputação e legitimar a violência perpetrada pelo acusado. Na terminologia sugerida por Valeria Pandjiarjian, a ativação de um raciocínio do tipo "in dubio pro stereotypo" (2018) faz parte da argumentação jurídica em uma sociedade patriarcal e machista.
Além disso, sobre o caso ainda cabe mencionar que Aércio não chegou a cumprir pena. Isso porque, mesmo que não tenha recebido uma condenação tão branda como a primeira condenação de Doca, o feminicida de Márcia acabou morrendo de infarto enquanto esperava o julgamento do recurso. Essa fatalidade encerrou as chances de que a família de Márcia pudesse ver a responsabilização jurídica do culpado de sua morte.
E, para piorar, seus pais e amigos ainda tiveram de amargar as honras que a Assembleia Legislativa da Paraíba concedeu ao ex-parlamentar feminicida, ao velar seu corpo no salão nobre da sede da instituição, com a presença das maiores autoridades locais. Por essa sucessão de violências, o caso Márcia Barbosa de Souza rendeu ao Estado brasileiro merecida condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos no ano passado. A omissão do Poder Judicial diante de tão reprovável atuação defensiva deixou caminho aberto para que Márcia fosse revitimizada sucessivamente, obrigando seus familiares a suportar grande e evitável sofrimento.
Quase duas décadas depois, a crueldade com as vítimas ainda é fartamente explorada por quem atua na defesa; o caso Mariana Ferrer comprovou o quanto ainda precisamos avançar. Nele, o que se viu foi uma argumentação marcada por estereótipos combinada a ataques contra Mariana em audiência que destoam ao respeito mínimo que se deve a todos.
"— É seu ganha-pão a desgraça dos outros? Manipular essa história de virgem?
— Graças a Deus, nunca teria uma filha do seu nível!."
Essas foram algumas das duras frases ditas pelo advogado da defesa a Mariana, ao mesmo tempo em que exibia fotografias dela extraídas das redes sociais, com o claro propósito de descredibilizar seu relato a partir das roupas e da atitude segura que Mariana tinha nelas: "mulheres que se vestem e se portam como Mariana não são vítimas de estupro, pois estão à procura de sexo"; esse foi o raciocínio torto que a defesa promoveu, alicerçada em uma retórica violenta em muitas camadas — do conteúdo à forma. Tal como nos casos de Ângela e Márcia, no caso de Mariana o fico continuou deslocado para o comportamento dela, o que evidencia a infeliz atualidade do conceito de "mulher honesta".
Sobre o assunto, é oportuna a leitura de recente dissertação de mestrado — "Os desafios do enfrentamento a violência de gênero no Brasil" (2019). Nela, Erika Puppim apontou para os efeitos causados, ainda hoje.
"Mesmo após a supressão desse elemento do tipo ('mulher honesta'), ainda hoje, tanto na fase de investigação, quanto no julgamento, a palavra e o comportamento das mulheres são reiteradamente testados para enquadrarem-se no perfil da 'vítima honesta' para se saber se, de fato, houve crime — indagando-se sobre a relação entre a vítima e agressor e sobre o perfil do agressor." (página 25).
Neste ponto, o leitor poderia contrapor-me que o objetivo da defesa é de ter seu pleito acolhido e, sendo assim, se o recurso a estereótipos pode facilitar a vitória, que assim seja. Razões pragmáticas serviriam de empurrão à continuidade. Mas aqui cabe refletir sobre a função desempenhada pela reputação profissional em nosso meio: muito embora seja possível a postura de quem continue a ceder diante dessa facilidade que os estereótipos representam, a tendência é de cada vez menos espaço para esse tipo de atuação. A defesa facilitada, em certa medida preguiçosa, tanto mancha a reputação profissional de quem dela faz uso, quanto tende à insuficiência para o êxito da causa conforme o caso alcance as instâncias superiores. Sobre as instâncias superiores, tratarei no ponto a seguir.
Além do abandono de argumentos estereotipados, se seriamente pretendemos que a justiça criminal transforme-se em ambiente menos hostil às mulheres e outras minorias de gênero, também é preciso uma atuação de resistência quando o desafio é o defendê-las, pois elas é que estão no banco dos réus.
Conforme aponta o relatório Mães Livres (2021), do IDDD, nos 56 casos em que o Instituto prestou assistência jurídica às custodiadas, foi possível constatar considerável dificuldade dos magistrados em converter a prisão preventiva em domiciliar — a despeito das alterações que a Lei 13.769/18 trouxe ao CPP e da decisão do STF no HC coletivo 143.641/SP. Enquanto a legislação mencionada trouxe critérios claros para a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, a nossa mais alta corte decidiu, em termos bastantes claros, a favor das mulheres:
"Para evitar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática supressão de direitos, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais, a melhor saída, a meu ver, no feito sob exame, consiste em conceder a ordem, estabelecendo parâmetros a serem observados sem maiores dificuldades pelos juízes, quando se depararem com a possibilidade de substituir a prisão preventiva em prisão domiciliar."
Era de se esperar, portanto, respostas bem diferentes nas entrevistas que o IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) fez com as 196 presas na Penitenciária Feminina de Pirajuí, interior de São Paulo. Quando perguntadas se tinham filhos menores de 12 anos, em um universo de 152 respostas, 105 (69,07%) responderam que sim. Isto é, mesmo sendo mães, aquelas mulheres foram mantidas presas por decisões como essas:
"Ademais, o crime em questão envolveu adolescente, o que demonstra total despreocupação da paciente com a infância e juventude. Por fim, não há provas nos autos de que a suplicante é imprescindível para os cuidados da criança. (Decisão do TJ-SP 2098450-17.2018.8.26.0000).
Assim, o fato de a paciente ser genitora de filhos menores, por si só, não lhe garante em absoluto direito líquido e certo à obtenção do benefício de cumprimento de sua reprimenda em âmbito domiciliar, no qual sabidamente há muito menos fiscalização e vigilância, o que pode, diante da gravidade, dos crimes em tela engendrar plausível risco à ordem pública (Decisão do TJ-SP no HC 2133939-18.2018.8.26.0000)."
A falta de empatia refletida nas decisões deve-se à forte reprovação destinada a essas mulheres: a mulher acusada da prática de crime rompe duas ordens: a ordem legal, pois violou o Código Penal, e a ordem social, pois não satisfez as expectativas da sociedade sobre o seu papel de cuidar da casa e dos filhos (Marcos Melo, "Elas e o cárcere: um estudo sobre o encarceramento feminino". Salvador: Oxente, 2018).
Neste cenário, uma defesa criminal com perspectiva de gênero tem o desafio de promover atuação capaz de provocar alguma sensibilidade em julgadores e julgadoras que ainda se negam a qualquer mínima permeabilidade à realidade das mulheres. Deve também preparar seu fôlego para provocar as cortes superiores, dado que são elas que têm se mostrado mais propícias à garantia de direitos das minorias de gênero, como a própria decisão do STF no já mencionado HC 143.641/SP demonstrou, bem como as ADI’s 4275 e 4277 e a ADPF 132. Também vale recordar a recente decisão do STJ no REsp 1.977.124/SP, de abril desse ano, em que se reconheceu a aplicação da Lei Maria da Penha em caso de violência doméstica contra mulheres trans, concedendo, no caso concreto, medidas protetivas em face do pai agressor.
"É descabida a preponderância, tal qual se deu no acórdão impugnado, de um fator meramente biológico sobre o que realmente importa para a incidência da Lei Maria da Penha, cujo arcabouço protetivo se volta a julgar autores de crimes perpetrados em situação de violência doméstica, familiar ou afetiva contra mulheres. Efetivamente, conquanto o acórdão recorrido reconheça diversos direitos relativos à existência de pessoas trans, limita à condição de mulher biológica o direito à proteção conferida pela Lei Maria da Penha.
A vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas."
Em suma, consolidar a defesa criminal com perspectiva de gênero requer: por um lado, resistir à tentação de se valer de argumentos probatórios defeituosos porquanto construídos com base em estereótipos negativos; por outro, é igualmente importante não esmorecer diante de uma justiça criminal que, em grande medida, insiste em confundir imparcialidade judicial com simples indiferença. A defesa criminal pode se fortalecer e se inspirar nos versos eternizados por Gal, que foi uma mulher livre como todas nós também temos o direito de ser.
"Por isso uma força me leva a cantar
Por isso essa força estranha
Por isso que eu canto, não posso parar
Por isso essa voz tamanha."
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


