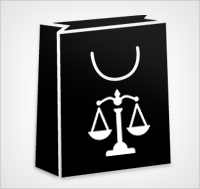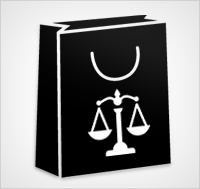Superior Tribunal de Justiça, clareza semântica e contratos de consumo
14 de maio de 2025, 13h13
O reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa consumidora (e da consequente desigualdade do contrato de consumo) é princípio do Direito do Consumidor (artigo 4º, I do Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor) e premissa fundamental para a compreensão e eficácia da ordem constitucional constante dos artigos 5º, XXXII e 170, V da Constituição, de modo que:
“(a) O contrato de consumo é, essencialmente, uma relação entre partes desiguais, demandando ferramentas específicas para sua validade e eficácia, não se confundindo com contrato cível ou empresarial; (b) A validade da manifestação de vontade da pessoa consumidora está diretamente ligada à sua vulnerabilidade; (c) As proteções oferecidas pelo direito do consumidor não podem ser flexibilizadas e precisam ter sua autonomia (re) conhecida, pois existem para assegurar a liberdade de escolha da pessoa consumidora, a qual está cada vez mais ameaçada em um mundo dominado por algoritmos” (Rocha, Perdigão, 2024)
Se se diz “sou piauiense”, estar-se-á dizendo “sou brasileira”. Se se diz “sou consumidora”, estar-se-á dizendo “sou vulnerável”. Ser vulnerável não é ser incapaz, dependente ou coitadinho, mas estar em uma condição de desigualdade que lhe suprime a “capacidade de resistir às influências do meio” [1], o que se agrava na realidade digital, como bem lembra André Perin Schmidt Neto, você pode até não lembrar o que pesquisou na internet há alguns meses, mas certamente o algoritmo lembra e assim, seria “livre ou provocada uma escolha baseada em uma sugestão deste sistema”?
Ignorar a vulnerabilidade é ignorar qualquer possibilidade de cumprimento da ordem constitucional supramencionada. Quando um idoso recebe um telefonema com uma oferta, será que ele realmente compreende que uma simples foto ou “selfie” pode equivaler a uma assinatura e autorização? Como podemos considerar válido um contrato previsto nestas condições, em que uma pessoa sequer teve acesso às cláusulas, contrariando diretamente o artigo 46 do CDC?
A ausência de transparência semântica nas comunicações comerciais não apenas compromete o exercício pleno da liberdade de escolha, mas inviabiliza a formação de consentimento válido nos termos do ordenamento consumerista. Tal “atropelo” impacta no próprio adimplemento contratual, na necessidade de judicialização e gera uma série de equívocos graves. É do fornecedor o ônus de estruturar comunicações que efetivamente possibilitem a compreensão leiga das cláusulas contratuais.
Talvez por sua juventude, o contrato de consumo ainda é confundido com como se contrato civil, e ainda não se compreendeu que sua validade não depende de uma “assinatura”, principalmente quando esta “assinatura” é feita por meio que a uma pessoa simples sequer sabe que é assinatura (como uma foto por exemplo), mas depende da sua compreensão dos termos e condições do contrato.
Assim, para contribuir com este debate, é que aqui se traz entendimentos ainda não devidamente propagados e conhecidos do Superior Tribunal de Justiça, dando concretude ao basilar direito à informação da pessoa consumidora, sobre a imprescindibilidade clareza semântica — e não apenas literal — para a validade do contrato de consumo.
Informação no contrato de consumo
O STJ, por meio de sua Corte Especial e relatoria do ministro Humberto Martins (EREsp 1.515.895/MS, DJe 20/9/2017), decidiu que:
“O direito à informação está relacionado com a liberdade de escolha daquele que consome, direito básico previsto no inciso II do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor e vinculado à correta, fidedigna e satisfatória informação sobre os produtos e os serviços postos no mercado de consumo. A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente, incompleta ou omissa, retira-se-lhe a liberdade de escolha consciente.”
Ou seja, a autodeterminação do consumidor depende essencialmente da qualidade informacional que lhe é transmitida, sendo este um dos principais meios para formar opinião e produzir tomada de decisão consciente no mercado de consumo.
O dever de informar, portanto, ultrapassa a mera obrigação legal, constituindo-se, como afirmou o ministro, “uma forma de cooperação, uma necessidade social. Na atividade de fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar tornou-se autêntico ônus proativo incumbido aos fornecedores, pondo fim à antiga e injusta obrigação que o consumidor tinha de se acautelar” (REsp 1.364.915, DJe 24/5/2013).
Nesse sentido, além da mera transmissão de informações, a clareza semântica — entendida como a qualidade do texto em produzir sentido inequívoco e compreensível ao destinatário — constitui verdadeiro pressuposto de validade dos contratos de consumo no ordenamento jurídico brasileiro.
Para além das assinaturas, a clareza semântica nos contratos de consumo
Assinaturas, sejam físicas ou eletrônicas, por si só, não garantem a autenticidade, a legitimidade e a efetiva manifestação de vontade das pessoas consumidoras. A simples coleta de assinaturas ou outros elementos formais de consentimento não assegura que o consumidor compreendeu o objeto contratual, suas condições e, principalmente, as consequências futuras de sua contratação. Na lição de Bruno Miragem (2018, p. 329), “o consentimento informado ou vontade qualificada” só se manifesta quando o consumidor tem pleno acesso e compreensão das informações relevantes para sua tomada de decisão.
Não se pode, portanto, considerar válido e eficaz um contrato de consumo apenas por estar “assinado”, pois só se pode aferir a manifestação de vontade em contratos de consumo, com especial atenção à clareza semântica das informações prestadas.
Importância da clareza semântica e construção de entendimento do STJ
O Superior Tribunal de Justiça tem construído, ao longo das últimas décadas, uma sólida jurisprudência em favor da exigência de clareza semântica nas relações contratuais de consumo. Esta construção pode ser observada através da análise de precedentes emblemáticos que progressivamente consolidaram este entendimento:
REsp 814.060/RJ
No REsp 814.060/RJ, julgado em 2010, sob relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, o STJ estabeleceu um importante marco ao determinar que cláusulas limitativas em contratos de seguro devem apresentar não apenas “clareza física” (com destaque visual), mas também “clareza semântica”. Na decisão, o relator afirmou que se mostra:
“(…) inoperante a cláusula contratual que, a pretexto de informar o consumidor sobre as limitações da cobertura securitária, somente o remete ao texto da lei acerca de tipicidade do furto qualificado, cuja interpretação, ademais, é por vezes controvertida até mesmo no âmbito dos tribunais e da doutrina criminalista. (…)”
No caso concreto em julgamento, não foi explicado o que seria o furto qualificado que ensejaria a excludente da cobertura securitária, mas apenas transcrito o artigo 155 do Código Penal:
“(…) O esclarecimento contido no contrato acerca da abrangência dacobertura securitária que reproduz, em essência, a letra do art. 155 do Código Penal, à evidência, não satisfaz o comando normativo segundo o qual as cláusulas limitadoras devem ser claras, por óbvio, aos olhos dos seus destinatários, os consumidores, cuja hipossuficiência informacional é pressuposto do seu enquadramento como tal. (…)”
Será que se a pessoa consumidora contratante soubesse que seria furto qualificado teria feito o contrato? É este o ponto! Em contrato de consumo, inclusive, a informação prestada na oferta — a exemplo de uma conversa por WhatsApp com o vendedor — integra o contrato e admite execução especifica da obrigação (artigo 30 do CDC). Em 2015, no julgamento do REsp 1.262.132/SP, também relatado pelo ministro Luis Felipe Salomão, o STJ reforçou que “(…) em se tratando de relação de consumo – como é o caso -, o CDC confere garantias mais ampliadas ao consumidor (…)”.
REsp 1.837.434/SP
No REsp 1.837.434/SP, a ministra Nancy Andrighi consolidou o entendimento de que
“(…) O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.a cláusula securitária que prevê cobertura apenas contra o furto qualificado, sem que tenha sido esclarecido o seu alcance e significado ao consumidor, diferenciando-o do furto simples, pode ser considerada abusiva pela falha do dever geral de informação da seguradora. (…)”
Observa-se que o próprio fundamento de admissibilidade deste recurso especial foi a violação ao direito de informação “tendo em vista que não recebeu das recorridas, quando da contratação, nenhuma informação e nenhum documento, em especial a que trata das condições do seguro contratado e, tampouco, acerca da distinção entre furto simples e furto qualificado”. A ministra relatora, enfatiza, inclusive que:
“(…) Essas regras visam assegurar e proteger um padrão mínimo de qualidade do consentimento do consumidor no momento da celebração do contrato. Logo, o desrespeito ou embaraço desta qualidade de consentimento implica espécie de abusividade formal, a ser reprimida igualmente com a nulidade a teor do que preconiza o art. 51, do CDC.”
Este “padrão mínimo de qualidade do consentimento” impede, em outros casos, que uma simples foto, uma selfie que uma pessoa leiga inclusive não pode presumir ser uma “assinatura”, possa considerar válido um contrato, no qual a pessoa consumidora não conhecia previamente seus ônus e bônus.
Conclusão
A análise desses precedentes demonstra que a clareza semântica constitui elemento essencial para a validade dos contratos de consumo. Ou seja, todo contrato de consumo precisa ser analisado, no mínimo, a partir da análise conjunta dos artigos 30, 31, 35, 46 e 47 do CDC.
Esta construção alinha-se à doutrina contemporânea do direito do consumidor, que reconhece a informação não como mera formalidade, mas como elemento constitutivo do próprio negócio jurídico. Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp 1.121.275/SP, em 2012, “o direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada”.
A exigência de clareza não apenas física, mas principalmente semântica, reflete a compreensão de que o consentimento genuíno só se manifesta quando há efetiva compreensão do objeto contratual e suas implicações. A informação compreendida (e não apenas “dita”) é pressuposto de validade dos contratos de consumo no ordenamento jurídico brasileiro.
Referências
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2022.
BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.515.895/MS, Relator: Ministro Humberto Martins, julgado em 20 set. 2017, publicado em 27 set. 2017. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 13 maio 2025.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 814.060/RJ, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 6 abr. 2010, publicado em 13 abr. 2010. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 14 maio 2025.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.121.275/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27 mar. 2012, publicado em 17 abr. 2012. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 13 maio 2025.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.262.132/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18 nov. 2014, publicado em 3 fev. 2015. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 14 maio 2025.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.364.915/MG, Relator: Ministro Humberto Martins, julgado em 14 maio 2013, publicado em 24 maio 2013. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 13 maio 2025.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.837.434/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3 dez. 2019, publicado em 5 dez. 2019. Disponível em: https://www.stj.jus.br. Acesso em: 14 maio 2025.
MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.
ROCHA, Amélia Soares da; SILVA, Enzo Perdigão e. Vulnerabilidade, pessoa consumidora e Defensoria Pública: angústias e caminhos sobre a difícil conjugação entre direito e a justiça no “consumo” de todo dia. In: BRASILCON. Direito do consumidor contemporâneo: desafios, transformações e efetividade. São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2024. p. 49-71.
SCHMIDT, André Perin Neto. O livre-arbítrio na era do Big Data. 2ª ed. São Paulo: Editora Tirant, 2023.
[1] Expressão usada pelo professor Carlos Alberto Menezes Direito e citada por Felipe Comarela Milanez.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!