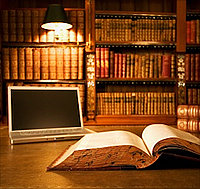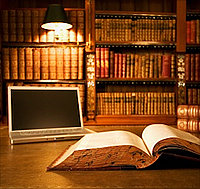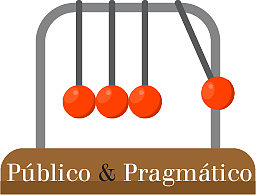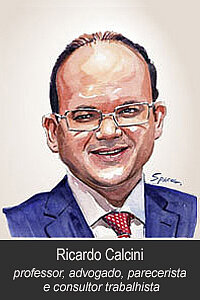Interpretação 'contra proferentem' no Direito brasileiro
5 de maio de 2025, 11h20
Luigi Ferri ressalta que a interpretação jurídica diz respeito à lei, ao negócio jurídico em geral e ao contrato. Em qualquer caso, busca-se descobrir uma vontade: do legislador (considerada objetivamente), do testador ou dos contratantes [1]. Orlando Gomes lembra que “a função tradicional do intérprete é perquirir e aclarar a vontade dos contraentes, manifestada no contrato, mediante declaração destinada a provocar efeitos jurídicos” [2].
Ferri e Gomes citam passagem em que Bonfante, embora sem admiti-la como fonte normativa [3], explicava que a vontade, uma vez separada do seu autor, assume caráter objetivo e tamanha força, que a pessoa menos indicada para aferir o seu valor é quem a emitiu. Assim, sujeitando-se um contrato a um processo adversarial (na jurisdição estatal ou arbitral), um terceiro é chamado a esclarecer o sentido das manifestações explicitadas pelos agentes [4].
Dois mil francos franceses ou belgas
Reinhard Zimmermann ilustra de forma muito interessante o problema da interpretação do contrato: se um francês vende seu carro a um belga em Hamburgo por 2 mil francos (quando o euro ainda não era moeda comum), não se sabe se a intenção das partes era ter como moeda francos franceses ou belgas, pois ambos os sentidos são. Se firmado o contrato em Bruxelas, esse problema não existiria [5].
Pelo cânone interpretatio contra proferentem (contra o predisponente), a cláusula ambígua deve ser interpretada contra o redator (ônus da clareza) ou em favor do devedor [6] (presumindo ser o credor quem a redigiu).
A regra deriva da função interpretativa da boa-fé [7]. Esgotada a fase subjetiva (ou recognitiva [8]) da interpretação do contrato, passa-se à fase objetiva (ou complementar [9]). A transição para a fase objetiva (que a interpretação contra proferentem incide subsidiariamente) decorre da presença de uma declaração negocial lacunosa (sem regulação expressa), ambígua (com mais de um sentido possível) ou obscura (sem sentido aparente) [10].
Contra proferentem: experiências históricas e no Direito estrangeiro
Zimmermann relata que, à sua época de estudante, causava-lhe espanto que o Direito Romano e o Direito Privado moderno pareciam constituir dois mundos intelectuais diferentes, embora fosse “fácil notar que existiam conexões entre eles” (como a máxima jurídica latina interpretatio contra proferentem [11]). Seu clássico “The Law of Obligations” descreve a elaboração casuística (própria do Direito Romano) do cânone e a sua presença no direito medieval e moderno [12].
Aldo Petrucci [13] faz o mesmo ao adotar a regra como exemplo de migração de conceitos e institutos, tanto no plano sincrônico (abrangendo ordenamentos de uma mesma época) quanto no diacrônico (de experiências jurídicas passadas para experiências jurídicas sucessivas). Essa migração inevitavelmente envolve a adaptação às várias condições que caracterizam todo país e toda experiência jurídica, mas isto não impede de identificar características comuns [14]. Guilherme Nitschke [15], nesse sentido, apresenta o histórico da regra no Brasil e as experiências da França, Portugal, Itália, Alemanha, Argentina, Uruguai e Chile.
A interpretatio contra proferentem no Brasil
No sistema legal brasileiro contemporâneo, a interpretação contra proferentem está presente no Código de Defesa do Consumidor (artigo 47) [16] e no Código Civil (artigo 113, § 1º, IV, e artigo 423 [17], além da legislação especial – como, e.g., o artigo 57 da Lei 15.040/2024, em vacatio legis até dezembro de 2025, com regra específica para os contratos de seguro [18].
Em contratos não-paritários são aplicáveis o artigo 47 do CDC ou o artigo 423 do CC, caso se trate, respectivamente, de contrato consumerista ou por adesão (não-consumeristas).
A Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), ao inserir o § 1º, inciso IV, no artigo 113, ampliou a incidência da contra proferentem aos contratos em geral [19], gerando críticas e problemas [20].
Disto derivam ao menos duas questões: qual o âmbito de incidência e os requisitos para aplicação desses dispositivos?
Outros temas estão na raiz dessas indagações: contratos simétricos e paritários são expressões sinônimas ou designam institutos diferentes [21]? Há critério para diferenciá-los? Essas perguntas desafiam reflexões que escapam aos limites dessa coluna, como a discussão sobre o terzo contratto na Itália e sobre os contratos sob dependência econômica na França [22].
Contratos por adesão e de consumo
Nos contratos por adesão (não-consumeristas) e de consumo o fundamento para a incidência da regra contra proferentem é a proteção do polo mais fraco da relação contratual, amparando o status de aderente e de consumidor, como destaca Nitschke [23].
Sua aplicação não guarda maior dificuldade: nos contratos de consumo, a cláusula será interpretada favoravelmente ao consumidor, enquanto parte vulnerável. Nos contratos por adesão regulados pelo Código Civil (especialmente os interempresariais sob dependência econômica), a cláusula ambígua será interpretada em favor do aderente.
Contratos civis e empresariais
Maria Cândida do Amaral Kroetz adverte que a regra geral do artigo 113, § 1º, IV do CC tem parca utilização por exigir três requisitos dificilmente verificáveis: (1) ambiguidade que possibilite ao menos duas interpretações; (2) flagrante domínio de uma das partes na redação do contrato; (3) não se tratar de contrato por adesão ou de consumo, que atraem regime jurídico próprio (artigo 423 do CC e artigo 47 do CDC). É improvável que em contratos não padronizados uma das partes imponha à outra uma minuta, sem oportunidade de revisão [24].
Além disso, em contratos atípicos as partes costumam regular mais explicitamente seus efeitos porque sabem que inexistem regras supletivas, como destaca Orlando Gomes [25], do que resulta significativo debate das cláusulas contratuais, dificultando a identificação do seu redator.
Possibilidade de afastar o artigo 113, § 1º, IV
Como lembram Rodrigo Xavier Leonardo e Rodrigues Jr, houve amplo debate no Direito brasileiro (semelhante ao ocorrido em outras culturas) sobre (1) a conveniência da lei prever regras de interpretação; (2) se são normas jurídicas ou meras diretrizes e; (3) a natureza cogente ou dispositiva dessas regras. Prevaleceu, à época, a posição que constituem autênticas normas jurídicas de natureza cogente [26].
A despeito disso, o § 2º do artigo 113 reabriu a discussão ao permitir que os negociantes estabeleçam critérios de interpretação próprios, afastando certas regras de interpretação previstas na lei. É possível, v.g., afastar a interpretação contra proferentem exatamente para prevenir embaraços na negociação de cláusulas contratuais, como advertem Rodrigues Jr e Rodrigo Xavier Leonardo [27].
A natureza dispositiva do artigo 113, § 1º, IV, por si só, torna inócua a norma por possibilitar seu afastamento pelas partes. Situação diferente se verifica quanto ao artigo 423 do CC e ao artigo 47 do CDC, que possuem natureza cogente por regular contratos não-paritários.
Não é à toa, e.g., que a regra geral do artigo 113, § 1º, IV tem pouca expressão no STJ. No julgamento do REsp 2.150.776/SP, foi suficiente aplicar o artigo 423 do CC para resolver a pretensão de indenização pelo incêndio de um guindaste, cabendo ao artigo 113, § 1º, IV a função de argumento de reforço. No REsp 1.876.762/MS são referidos apenas o artigo 47 do CDC e 423 do CC, pois constituem regime próprio que dispensa a aplicação da regra geral do artigo 113.
Outras críticas
Gustavo Tepedino e Laís Cavalcanti censuram ainda o artigo 113 por aludir desnecessariamente a regras comezinhas de hermenêutica, sem acrescentar parâmetros úteis para a interpretação dos negócios jurídicos. O inciso IV do § 1º, v.g., “desconhece[ria] o fato que a redação material do contrato nem sempre é efetuada por quem o concebeu” [28].
Similarmente, Nitschke [29] critica a regra por estabelecer apenas um requisito (identificação do redator), ocasionando diversos problemas. A propositura de uma cláusula por uma das partes não presume unilateralidade, pois a negociação em contratos paritários é complexa, envolve minutas e dispositivos específicos, com concessões e intransigências recíprocas, elaborando-se cláusulas com certos sentidos. Ao final, uma das partes fica de minutar o negociado, sem isto significar unilateralidade.
A regra também pode gerar hesitação entre os negociantes na redação das minutas pelo receio de sofrer o prejuízo da interpretação em favor da parte adversa. A verificação do requisito ainda demandaria uma “frenética” reconstituição das tratativas pré-contratuais, incentivando as partes a se preocupar com a documentação de toda a tratativa para evitar a incidência da regra contra si. Por último, a regra se aplicaria residualmente a contratos interempresariais sob dependência econômica (ou terzo contratto, na doutrina italiana), figuras que não estão consolidadas dogmaticamente e que demandam maior aprofundamento.
*Esta coluna é produzida pelos membros e convidados da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo (USP, Humboldt-Berlim, Coimbra, Lisboa, Porto, Girona, UFMG, UFPR, UFRGS, UFSC, UFPE, UFF, UFC, UFBA e UFMT).
___________________________
[1] FERRI, Luigi. Curso de Derecho Civil: lecciones sobre el contrato. Lima: Editora Jurídica Grijley, 2004, p. 143.
[2] GOMES, Orlando. Contratos. Atualizado por Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de Crescenzo Marino. Rio de Janeiro, Forense, 2007, p. 229.
[3] “Para os preceptivistas a vontade a ser interpretada no contrato é a que nele se encontra objetivada, a vontade normativa ou objetiva, não a vontade subjetiva” (GOMES, Orlando. Op. cit., p. 239). Para síntese das duas concepções (subjetiva e objetiva), cf. GOMES, Orlando. Op. cit., p. 14-17.
[4] LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JR., Otavio Luiz. A interpretação dos negócios jurídicos na Lei da Liberdade Econômica. In: CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; PICELLI, Roberto Ricomini; MACIEL, Renata Mota. (Orgs.). Lei da Liberdade Econômica Anotada: Lei n. 13.874, de 2019. São Paulo: Quartier Latin, 2020, v. 2, p. 221.
[5] ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition. Cape Town: The Rustica Press Ltd., 1990, p. 621-622.
[6] O “favor debitoris” está presente, e.g., nos arts. 244 e 252 (obrigação genérica e alternativa) e 327, caput (lugar do pagamento – obrigação buscável) do CC. Exceção é o parágrafo único do art. 327 (favor creditoris).
[7] Vide Judith Martins-Costa, A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. 1. ed., 2.tir. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 427-472.
[8] MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. São Paulo: Saraiva, 2011.
[9] Ibidem.
[10] Cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Interpretação do negócio jurídico. Op. cit.; NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Lacunas Contratuais e Interpretação: História, Conceito e Método. São Paulo: Quartier Latin, 2019.
[11] Mensagem de Reinhard Zimmermann sobre a tradução de “The Law of Obligations”. Disponível aqui
[12] ZIMMERMAN, Reinhard. The law of obligations. Op.cit., p. 637-642. Sobre a interpretação subjetiva ou objetiva (verba or voluntas) nos diferentes períodos do Direito Romano, a combinação de ambas e o papel da regra interpretatio contra proferentem, cf. p. 637 e ss).
[13] PETRUCCI, Aldo. Dois exemplos de migração de conceitos e princípios em matéria contratual: do Direito Romano ao DCFR (e outros). Revista da AJURIS. Porto Alegre, v. 45, n. 145, dez., 2018, p. 295-302.
[14] PETRUCCI, Aldo. Op. cit., p. 294.
[15] NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Comentários ao art. 113, §1.º. IV do CC, in MARTINS-COSTA, Judith e NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro (coords.), Direito Privado na Lei da Liberdade Econômica. São Paulo: Almedina, 2022, p. 390-406.
[16] Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
[17] Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.
[18] Art. 57. Se da interpretação de quaisquer documentos elaborados pela seguradora, tais como peças publicitárias, impressos, instrumentos contratuais ou pré-contratuais, resultarem dúvidas, contradições, obscuridades ou equivocidades, elas serão resolvidas no sentido mais favorável ao segurado, ao beneficiário ou ao terceiro prejudicado.
[19] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) […]
IV – for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
[20] Otavio Luiz Rodrigues Junior já fazia essa advertência em sua retrospectiva das mudanças legislativas no Direito Privado no ano de 2019. Um ano conturbado para o Direito Civil (parte 2). Consultor Jurídico. Disponível aqui
[21] O PL 04/2025 tem despertado acesa polêmica neste sentido.
[22] Para uma síntese, cf. MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Comentário ao art. 421-A do Código Civil: presunção de paridade e simetria em contratos civis e empresariais in MARTINS-COSTA, Judith; NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro (Orgs.). Direito Privado na Lei de Liberdade Econômica: comentários. São Paulo: Almedina, 2022, p. 511-528).
[23] NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Comentário ao art. 113, §§ 1º e 2º do Código Civil. Op. cit., p. 393.
[24] KROETZ, Maria Cândida do Amaral. Interpretações – art. 113 do Código Civil. In: NETO, Floriano Peixoto Marques Neto; RODRIGUES JR, Otavio Luiz; LEONARDO, Rodrigo Xavier (Orgs). Comentários à Lei de Liberdade Econômica: Lei 13.874/2019. São Paulo: Thomson Reuters Revista dos Tribunal, 2019, p. 351.
[25] GOMES, Orlando. Contratos. Op. cit., p. 125.
[26] LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JR., Otavio Luiz. A interpretação dos negócios jurídicos na Lei da Liberdade Econômica. In: CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro da; PICELLI, Roberto Ricomini; MACIEL, Renata Mota. (Orgs.). Lei da Liberdade Econômica Anotada: Lei n. 13.874, de 2019. São Paulo: Quartier Latin, 2020, v. 2, p. 224-225.
[27] LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JR., Otavio Luiz. A interpretação dos negócios jurídicos na Lei da Liberdade Econômica. Op. cit., p. 226.
[28] TEPEDINO, Gustavo; CAVALCANTI, Laís. Notas sobre as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019 nos artigos 50, 113 e 421 do Código Civil. In: SALOMÃO, Luís Felipe; CUEVA, Ricardo Villas Bôas; FRAZÃO, Ana (Coord.). Lei de Liberdade Econômica e seus impactos no Direito Brasileiro. São Paulo: RT, 2020, p. 500.
[29] NITSCHKE, Guilherme Carneiro Monteiro. Comentário ao art. 113, §§ 1º e 2º do Código Civil. Op. cit., p. 398-402.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!