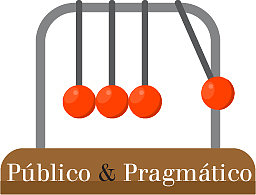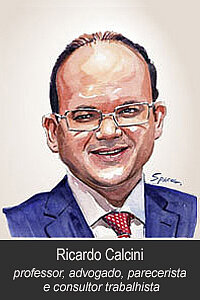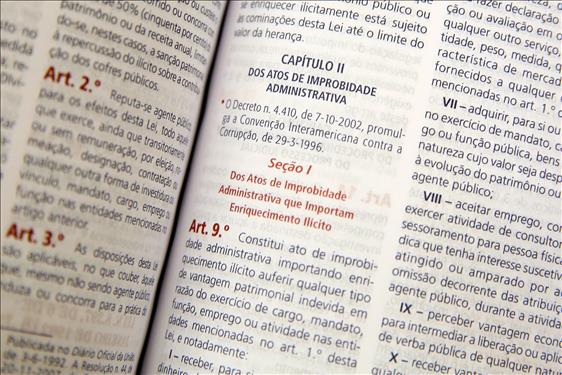Consensualismo na esfera pública e materialização do princípio da efetividade
21 de agosto de 2024, 16h23
Entre os temas mais abordados no último semestre, o desenvolvimento das soluções consensuais de conflitos no setor público, e, em especial, os resultados das iniciativas promovidas pelos órgãos e entidades da administração pública, certamente, é um deles.

A mudança de paradigma no processo decisório público tem uma nítida razão: o direito administrativo tradicional brasileiro — alicerçado na noção francesa de aplicação estrita da indisponibilidade e supremacia do interesse público — está em processo de derrocada ante a era da globalização.
Além disso, diante da diminuição acelerada da “autossuficiência” do Estado, até mesmo os agentes públicos, que antes eram reticentes à ideia da adoção de soluções heterogêneas, passaram a identificar que a imposição da vontade estatal pode ocasionar um verdadeiro “tiro pela culatra” no atendimento da ordem pública, pois a determinação unilateral não é suficiente para garantir a tempestividade esperada e o próprio cumprimento pelo administrado [1].
A despeito de experiências pontuais e menos institucionalizadas, pode-se considerar que a adoção da consensualidade como método de resolução de conflitos no setor público foi introduzida a partir da mediação e da autocomposição previstas pela Lei nº 13.140/15, assim como da possibilidade de atuação estatal preventiva e compromissória, indicada na Lindb (Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro).
Entre as medidas que são consideradas exitosas na administração pública, destaca-se a publicação da Instrução Normativa 91/2022 pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a qual instituiu, no âmbito do tribunal, a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), cujo objetivo é examinar as propostas de solução consensual de conflitos relacionados à atuação de órgãos e entidades da administração pública federal.
Em menos de dois anos da iniciativa institucional, conforme dados disponibilizados pelo TCU, 23 solicitações de resolução conciliatória foram levadas à SecexConsenso [2]. Entre os temas discutidos, destacam-se energia, infraestrutura e telefonia.
Avanço na solução consensual
A medida proposta pela Corte de Contas pode ser considerada um avanço na cultura institucional da solução consensual — em especial, pelo papel constitucional do TCU de proteção dos princípios da governança pública —, uma vez que outros órgãos públicos também estão seguindo o movimento de adoção de práticas autocompositivas.
Em julho de 2024, o Decreto 12.091 deu origem à Rede Federal de Mediação e Negociação (Resolve) — uma estrutura de mecanismos voltados para a resolução consensual de disputas. Além disso, o Projeto de Lei 2481, de 2022, em trâmite no Senado, e cujo objetivo é a reforma da Lei de Processo Administrativo (Lei 9.784/99), dispõe a possibilidade de composição: “Os órgãos e entidades podem, em consenso com o administrado, celebrar negócio jurídico processual administrativo que estipule mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da situação concreta, antes ou durante o processo”.

No entanto, o contexto brasileiro se mostra particularmente sensível, pois, apesar dos avanços normativos, é possível identificar que entraves burocráticos de ordem prática, alta judicialização de conflitos, interpretações equivocadas dos acordos e discussões quanto ao papel das instituições nas negociações ainda impedem o desenvolvimento de um ambiente consensual.
A perspectiva é mais dramática nos contratos de infraestrutura, pois, além da importância do setor para o desenvolvimento do País, os instrumentos contratuais são complexos, de longa duração e envolvem a disponibilização massiva de recursos financeiros.
Atendo-se aos dados, de acordo com a última auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, apesar do aumento do investimento previsto (passando de R$ 75,95 bilhões em 2020, para R$ 113,65 bilhões em 2023), a porcentagem de obras paralisadas no país aumentou de 29%, em 2020, para 41% em 2023, totalizando 8,6 mil empreendimentos parados [3].
Com base no diagnóstico realizado pela Corte de Contas, nota-se que as principais causas para a paralisação das obras se relacionam com a ausência de adaptabilidade contratual e a rigidez da atuação estatal, a saber: motivo técnico (mau planejamento, gerenciamento ineficiente, falta de capacidade técnica); abandono pela empresa; orçamentário/financeiro [4].
Cidadãos em geral são prejudicados
Nesse contexto, a prejudicialidade da adoção de uma postura demasiado engessada pelo Estado se torna mais patente no contexto de celebração de contratos envolvendo a infraestrutura pública, porquanto há uma maior complexidade nessas relações jurídicas que atrelam e afetam não só a administração, enquanto contratante, e o ente privado, enquanto contratado, mas os cidadãos como usuários desses serviços e a quem se volta a satisfação do interesse público primário.
A ausência de flexibilidade e abertura para diálogo e negociação importa, muitas vezes, na dificuldade de obtenção, pelo poder público, do cumprimento voluntário, célere e satisfatório das obrigações pactuadas nos contratos administrativos, o que resulta em perda de eficiência, haja vista a aplicação improdutiva de recursos públicos e a inefetividade da busca do objeto contratual.
Uma gestão eficiente, seja no setor público seja no âmbito privado, pressupõe, dentre outros princípios e objetivos, a prevenção e minimização de conflitos, o que não se compatibiliza com a adoção de uma postura inflexível e com a estrita formalização de instrumentos com caráter de contratos de adesão que têm como consequência uma alta litigiosidade e a tardia e ineficiente consecução dos objetos contratados.
Desse modo, mesmo sob a ótica da supremacia do interesse público, mostra-se mais coerente a primazia de uma atuação voltada para o acordo de vontades, com prestígio à atividade consensual, porquanto, em muitos casos, o interesse público primário será satisfeito exatamente por meio de uma solução pragmática, não contenciosa, que atenda, concomitantemente, aos interesses da administração e aos interesses individuais dos agentes privados que, por sua via, também são legítimos e tutelados pelo ordenamento jurídico vigente.
Com efeito, a adoção de métodos consensuais pelo poder público deve ser cada vez mais prestigiada, pois a maior flexibilização das negociações e dos contratos celebrados com entidades privadas enseja uma melhor e mais eficiente alocação de tempo e de recursos, bem como reduz a quantidade de demandas judiciais que tanto oneram a estrutura estatal, além de resultar, inegavelmente, em uma maior segurança jurídica nas relações e na obtenção mais célere de resultados verdadeiramente satisfatórios ao interesse público.
[1] GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de direito administrativo. Tradução José Alberto Froes Cal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
[2] https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/resultado/processo/*/TIPO%253A%2522Solicita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520Solu%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520Consensual%2522
[3] https://paineis.tcu.gov.br/pub/?workspaceId=8bfbd0cc-f2cd-4e1c-8cde-6abfdffea6a8&reportId=013930b6-b989-41c3-bf00-085dc65109de
[4] https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/brasil-tem-8-6-mil-obras-paralisadas-financiadas-com-recursos-federais.htm#:~:text=Atualmente%2C%20o%20Brasil%20tem%208,%2C%20para%2041%25%20em%202023.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!