A história do Direito é a história do Brasil
26 de abril de 2009, 9h22
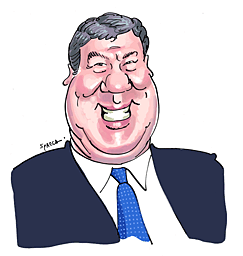 Spacca" data-GUID="cassio-schubsky.png">
Spacca" data-GUID="cassio-schubsky.png">Pouca gente tem conhecimento para achar que Ruy Barbosa não é o maior jurista da história do Brasil. Entre esses privilegiados das ciências humanas está o bacharel em Direito e historiador Cássio Schubsky. Antes que se desate a polêmica, vale explicar que Schubsky não questiona o valor do bom baiano. Ele só defende que Ruy foi beneficiado por um marketing pessoal que o fez se destacar em relação a figuras tão imponentes para o Direito como Clóvis Beviláqua, Teixeira de Freitas ou o Barão de Ramalho. Para ele, o pensamento jurídico do Brasil vai muito além de Ruy Barbosa.
Ao juntar seus dois diplomas – é formado em Direito pela USP e em História pela PUC-SP – Cássio tornou-se ele mesmo um caso raro: historiador especializado na área jurídica. Já escreveu e publicou – é também dono da editora Lettera.doc – uma série de livros, todos focados no Direito e na Justiça e em seus operadores.
Tem preferência por contar a história das instituições. Sua última obra é sobre a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo: Apontamentos sobre a História da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Antes já havia colocado no papel as histórias da Associação dos Advogados de São Paulo e do Centro Acadêmico XI de Agosto. Sua próxima aventura literária é sobre a Apamagis, a Associação Paulista dos Magistrados.
Já está pesquisando também a vida de Clóvis Beviláqua, jurista que dá nome à praça onde fica o Palácio do Tribunal de Justiça de São Paulo é o autor do Código Civil de 1916 que vigorou até 2003. Na linha da biografia é co-autor de Estado de Direito Já – Os trinta anos da Carta aos Brasileiros, que trata tanto da publicação do documento que deflagrou o processo de distensão que pôs fim à ditadura militar nos anos 70, quanto do seu autor Goffredo da Silva Telles Junior. Organizou também um livro de depoimentos sobre San Tiago Dantas, e outro, interessantíssimo, que analisa o conteúdo jurídico da obra de Machado de Assis: Doutor Machado – O Direito na vida e na obra de Machado de Assis.
Corintiano, 43 anos de idade, Cássio Schubsky fala nessa entrevista à Consultor Jurídico sobre sua obra e também sobre a evolução histórica do Judiciário. E desfaz outro mito: se há descrença no país com a Justiça e se o Judiciário é lento para cumprir sua missão, não é por falta de insistir: juízes, promotores e advogados chegaram à terra de Pindorama quase ao mesmo tempo dos descobridores.
Leia a entrevista
ConJur — Qual a representação histórica do juiz no Brasil?
Cássio Schubsky — Os juízes existem desde sempre e sempre tiveram muito poder político. O aspecto interessante é que o procurador, o promotor de justiça, o próprio juiz têm origem fidalga. Eram nomeados pelo rei, seus asseclas. Com o desenrolar da história, depois da Colônia, do Império, sobretudo com a República e principalmente com a Constituição de 1988, todos os operadores se transformaram efetivamente em servidores públicos. Isso implica uma mudança de mentalidade enorme. Hoje, todos sabem que o temor reverencial que o juiz inspira tem que se circunscrever ao âmbito do processo. Fora disso, o juiz é um cidadão. No âmbito da sua atividade judiciária, ele é um servidor público. Ele tem direitos, prerrogativas, mas também tem obrigações. Antigamente o que existia era desmando. Quem era soberano? Não era o povo, era o rei. O operador do Direito devia satisfações ao rei. Hoje, deve satisfações ao povo brasileiro, este sim soberano. Essa mudança vem se construindo não apenas no âmbito do Judiciário.
ConJur — Essa questão das origens nobres é muito forte no Judiciário?
Cássio Schubsky — É muito forte ainda. A própria ritualística judicial, que é um resquício daquela época, tem que evoluir. Os hábitos evoluem e o Judiciário tem que evoluir junto. O temor reverencial é uma circunstância necessária no âmbito do processo. O juiz tem que inspirar esse temor, porque é uma autoridade, investida de poder, mas sem exageros. Esse poder não transforma o juiz no dono da verdade. Mas já há muita evolução. Eu tenho convivido com juízes para escrever o livro sobre a história da Apamagis [Associação Paulista dos Magistrados]. O presidente, Calandra [Henrique Nelson Calandra] ou o presidente anterior, Sebastião Amorim, inspiram respeito pelas pessoas que são, mas não exercem um convívio incomum, uma atitude opressiva. Pelo contrário, eles têm bastante consciência do papel de cidadãos que têm de exercer.
ConJur — Até que ponto a linguagem do Direito, o chamado juridiquês, é um anacronismo ou uma necessidade de precisão?
Cássio Schubsky — É uma maneira de criar distância, o temor reverencial. Isso não é só no juridiquês. No economiquês, no tucanês também. Tudo isso serve para as pessoas se postarem numa posição de soberba, de poder. Esse é o lado ruim. Outro lado é o técnico. No âmbito do processo, ele é necessário. O jargão é uma necessidade de um público especializado. O Machado de Assis usava muito o juridiquês em seus livros.
ConJur — O senhor escreveu um livro sobre o escritor, não é?
Cássio Schubsky — Sim, O Direito na vida e na obra de Machado de Assis. Machado usa e abusa da linguagem jurídica. Até na poesia. Há uma infinidade de personagens jurídicos na obra de Machado. De nove romances que analisei nessa obra, seis têm protagonistas bacharéis em Direito, a começar pelo Bentinho, do Dom Casmurro. A maioria era formada na Faculdade do Largo São Francisco e alguns poucos na Faculdade de Direito de Recife. Ao pesquisar para escrever sobre ele, a primeira surpresa foi descobrir que era um advogado público. Ele escrevia pareceres jurídicos e elaborava projetos de lei para o Ministério da Agricultura, da Viação. Não havia o cargo de advogado público na época, mas, na prática, ele era isso. Era um rábula, não tinha formação jurídica. Aliás, Machado de Assis não tinha formação nenhuma, mal foi à escola. Era 100% autodidata. Os primeiros 15 anos de sua vida são obscuros. Até onde se sabe, nem neste período ele frequentou a escola formalmente. Era um gênio, um self made man.
ConJur — O senhor defende que o juridiquês deve continuar no Judiciário. E o uso da toga, como poderia evoluir?
Cássio Schubsky — Uma medida que poderia constar da reforma do Judiciário é a contratação de um estilista para mudar a toga e um decorador para mudar as mesas antigas (risos). Falando sério, entendo que é preciso modernizar. Este processo é longo, demorado, aos poucos vai vencendo resistências. Hoje, há a Associação dos Juízes para a Democracia, o Ministério Público Democrático, movimentos importantes para a modernização. Mesmo as entidades mais tradicionais, como a Apamagis, a Ajufe [Associação dos Juízes Federais], a Ajufesp [Associação dos Juízes Federais de São Paulo] já estão mais antenadas com a necessidade de se atualizar, de tornar o operador do Direito cada vez mais cidadão. Mas como diria Caetano Veloso, “a mente apavora o que ainda não é mesmo velho”. As mudanças são gradativas. Não tem cabimento, o juiz despachar de short. Antigamente, o estudante de Direito tinha de trajar terno e gravata. Era obrigatório. Os estudantes fizeram uma campanha que durou anos, talvez décadas. Era a campanha pela “abolição da esgravatura”. Só em 1972, os estudantes da Faculdade de Direito da USP deixaram de ser obrigados a usar terno e gravata.
ConJur — É a dificuldade em acomponhar a evolução da sociedade que impede o Judiciário de desempenhar cabalmente sua missão?
Cássio Schubsky — O Judiciário precisa de uma consultoria de organização e método. No Rio de Janeiro, houve modernização em relação aos procedimentos por conta da informatização, onde São Paulo está muito atrasado. Mas estamos num país de muitas demandas. Faltam juízes, faltam promotores. Os operadores do Direito, como um todo, é um pessoal que trabalha muito. Via de regra, vejo gente trabalhando, não enrolando. Para mim, deve haver um consenso em termos de rituais e uma dose de racionalidade em termos de procedimento.
ConJur — A professora Maria Tereza Sadek, diz que os juízes detém um poder muito grande em suas mãos. Foi sempre assim?
Cássio Schubsky — A Súmula Vinculante é um exemplo de evolução. Tira o poder autocrático dos juízes de primeira instância. É discutível em alguns casos, mas há boa aceitação dessa novidade. O Judiciário, como a vida em sociedade, é imperfeito, tem falhas que devem ser corrigidas, revigoradas. Esse processo vem enfrentando uma depuração. Assistimos pela primeira vez a prisão de juízes. O número de juízes respondendo a processo, sendo afastados a bem do serviço público vem aumentando. A propina era uma instituição no Brasil, no período colonial e no período imperial. Era como uma gorjeta. A lei permitia a propina para o servidor público. Era quase uma remuneração por produtividade (risos) admitida. Continua a existir, mas é cada vez menos aceita e mais punida. Sou bastante otimista em relação à evolução da sociedade brasileira, do Judiciário.
ConJur — O Conselho Nacional de Justiça tem um papel importante na evolução do Judiciário?
Cássio Schubsky — O CNJ exerce um papel muito importante, que é o de funcionar como um foro de debates entre os vários operadores do Direito. Isso é maravilhoso. Um acaba conhecendo melhor as mazelas do outro. Havia esse debate no âmbito do Legislativo, mas não entre os próprios operadores do Direito para resolver suas questões. O CNJ é um órgão recente. Daqui a 20 anos vamos poder avaliar os seus frutos, mas já há decisões bastante interessantes.
ConJur —O Executivo e o Legislativo reclamam que o Judiciário está invadindo o espaço dos outros poderes. Historicamente como tem sido a convivência entre os poderes?
Cássio Schubsky — O que se tinha era uma exacerbação do Executivo. Antes disso, não havia separação de poderes. As pessoas se confundiam. Havia uma superposição de poderes, de atribuições, de circunscrição e uma concorrência. Os poderes eram concorrentes. O Executivo legislava e julgava. A separação vem de Montesquieu, da Revolução Francesa, no final do Século XVIII: Legislativo, Judiciário, Executivo.
ConJur — O senhor considera que essa maior ingerência do Judiciário foi possível a partir da Carta de 1988?
Cássio Schubsky — Sem dúvida nenhuma a Constituição deu maior autonomia à Justiça. O que é positivo e tem produzido bons frutos. Mas há a possibilidade de distorções, exageros. O Judiciário pode dizer: “Bom, mas o Legislativo não legisla”. E aí o Legislativo diz que não legisla porque tem medida provisória que tranca a pauta. Aí o Executivo diz assim: “Bom, mas eu faço medida provisória porque eles não legislam”. A evolução depende de treino. O nosso aprendizado histórico e democrático tem contribuído para a solução dos conflitos.
ConJur — Quais os fatos da história do Judiciário que considera mais importantes?
Cássio Schubsky — Temos marcos regulatórios importantes em termos de Judiciário. Quando se forma o governo geral no Brasil, em 1548, nasce o primeiro regimento organizando o aparelho do Judiciário. O rei escrevia o regimento, conferindo atribuições e nomeando pessoalmente algumas pessoas para exercer cargos. Em 1609, há 400 anos portanto, há a criação do primeiro Tribunal de Relação, na Bahia. O conceito de procuradores gerais é outro marco importante, em 1822, às vésperas da Constituinte do Império, que depois vai ser dissolvida. As Constituições são sempre marcos importantes para o Judiciário.
ConJur — Antes dos Tribunais de Relação, não havia como recorrer das sentenças?
Cássio Schubsky — Na origem não havia atividade judicial no país. Na época das Capitanias Hereditárias não se podia entrar na Justiça. A História do Brasil diz isso claramente. Não havia advogados. O capitão hereditário era o governador e ele tinha poder total no âmbito do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Mandava e desmandava. Mais tarde, começam a aparecer os advogados para recorrer na corte. A última instância no Brasil só aparece no Século XIX.
ConJur — O senhor pesquisou e contou a história da Aasp [Associação dos Advogados de São Paulo] em livro. O que o surpreendeu?
Cássio Schubsky — A Aasp é voltada para a defesa das prerrogativas dos advogados e oferece todo apoio ao exercício da profissão. Mas existia um mito de que a entidade não tem vocação política. Durante a pesquisa, constatei que não é verdade. Uma entidade de advogados criada em 1943, em pleno Estado Novo, que não surgiu para defender o estado de Direito. É esquisito, não é? Como vivíamos uma ditadura, nas atas de fundação da Aasp não há qualquer referência a ação política. De forma sutil, entretanto, encontrei referências em boletins distribuídos. Em muitas passagens de sua história, a Aasp assumiu um posicionamento político inevitável. Em 1964, o conselho da entidade apoiou o golpe militar. Depois se voltou contra a ditadura. O mesmo aconteceu com o Conselho Federal da OAB, com a Fiesp [Federação das Indústrias do Estado de São Paulo].
ConJur — O senhor escreveu também um livro sobre a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo.
Cássio Schubsky — É o livro Advocacia Pública — Apontamentos sobre a História da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. A história da PGE me fascinou, porque não havia referências. O tema da advocacia pública é muito importante. Durante a pesquisa, me deparei com Ulisses Guimarães, que foi advogado do estado de São Paulo por alguns anos, com o ex-governador André Franco Montoro, advogado da assistência judiciária por vários anos e que militou na área. O Valdir Troncoso Peres, grande criminalista que morreu recentemente, também trabalhou na assistência judiciária por bastante tempo. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a origem remota dessas atividades. A consultoria jurídica, que é uma das atribuições do advogado público, do procurador do estado, do advogado da União ou do procurador do município, remonta à formação do estado por poderes. Quando se constitui um Estado, já se tem a figura do jurista, para orientar sobre a formação administrativa.
ConJur — A figura do procurador-geral já existia?
Cássio Schubsky — No Século XIV existia uma espécie de procurador-geral. Quando se implanta a colônia no Brasil, vão se formando os tribunais. Nos Tribunais de Relação, por exemplo, havia o Procurador dos Feitos da Coroa, da Fazenda, promotores. A origem é bastante remota. A história é fascinante.
ConJur — Em que o senhor está trabalhando agora?
Cássio Schubsky — Estou pesquisando para contar a história da Apamagis. A entidade vai completar 56 anos e nunca teve uma publicação com uma pesquisa de fôlego. E tem uma história riquíssima. Quando se materializa essa história, as pessoas percebem o valor real que a entidade tem e que às vezes fica diluída. Com o registro, até quem trabalha há anos na entidade ou que passou pela diretoria, descobre histórias novas.
ConJur — O que já descobriu sobre a Apamagis?
Cássio Schubsky — Em sua origem, a entidade era beneficente, visava ajuda mútua. Aliás, essa é a origem de várias das entidades na área jurídica: proporcionar auxílio entre os membros. Além disso, a Apamagis sempre teve fortíssima participação cívica. Sempre foi ativa e importante. Muitas acham que livro de história, inclusive na área jurídica, é perfumaria. Quando fica pronto, as pessoas lêem e conhecem mais a própria instituição e acabam ficando encantadas.
ConJur — Por que o senhor se especializou na área jurídica?
Cássio Schubsky — Eu tenho formação jurídica. Sou bacharel em Direito pela USP e em História pela PUC-SP. Juntei as duas coisas. Na minha editora [Lettera.Doc] cuidamos de outras áreas também, mas a área jurídica é o carro-chefe. Desde que o Brasil foi colonizado tem operadores do Direito, tem juízes. No trabalho feito para a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, descobrimos que essa função existe desde o Século XVI, com o Procurador dos Feitos da Coroa. Então, contar a história do Direito é contar a história do próprio Brasil. Quando se fala da história humana naturalmente se esbarra na questão jurídica. As leis sempre acompanham a vida em sociedade.
ConJur — O senhor também editou livro sobre Goffredo Telles Junior.
Cássio Schubsky — Sim, chama-se Estado de Direito Já – Os trinta anos da Carta aos Brasileiros. O professor Goffredo era muito querido na Faculdade de Direito da USP. No meu entender, evoluiu de uma posição extremamente conservadora para uma posição progressista, avançada, democrática. A Carta aos Brasileiros foi um marco na luta contra a ditadura militar. Em 1977, o general Geisel fechou o Congresso Nacional. O país continuava sob a tutela do Ato Institucional 5. Havia muita violência policial, um clima de medo. Embora se falasse numa distensão lenta e gradativa ainda estava muito lenta, muito gradual e pouco segura. A Carta aos Brasileiros foi um grito que ecoou pelo país todo, pelo Congresso Nacional, na imprensa. Reuni a documentação, ouvi vários depoimentos de que a carta foi realmente um marco da resistência e que suscitou um debate sobre a reinstitucionalização do país: convocação de uma Constituinte, eleições diretas, anistia, enfim, a volta do estado democrático de direito. Nesse livro tem um depoimento do jornalista Carlos Chagas, em que ele compara a importância da Carta aos Brasileiros à importância do Manifesto dos Mineiros,de 1943, durante o Estado Novo. Nessa época também foram os juristas que se reuniram para defender a volta do país à democracia, a volta do estado democrático de direito. A Carta teve a mesma função.
ConJur — A História, enquanto ciência, tem uma visão diferente hoje?
Cássio Schubsky — Quando me formei em História a visão era de que a história é o documental. Hoje, sabemos que não é bem assim. Há também a História Oral, que na área jurídica é ainda incipiente. No caso do livro da PGE e da Apamagis, parte do trabalho é feito através de História Oral. Há um material riquíssimo e ainda pouco explorado, apesar de ser fundamental para se contar uma boa história. Na minha época de estudante, havia um preconceito. Diziam que a memória é falha, tendenciosa, subjetiva. O documento oficial não é? Quem escreve também tem suas intenções. No jornalismo também é assim. A fonte sempre quer plantar alguma coisa. E na história não é diferente. Quem produz uma fonte histórica tem intenção, qualquer fonte tem intencionalidade. O trabalho de pesquisa, para ser bem feito, depende da diversidade de fontes e de leituras.
ConJur — Quais são as referências históricas na área jurídica?
Cássio Schubsky — Hoje em dia, o acesso à informação é muito mais rápido. Além da internet, há o processo de digitalização de documentos, impressão mais rápida. Antes não era possível fazer um trabalho de arte em menos de três, quatro anos. Atualmente, em seis meses você faz. Eu brinco respondendo dizendo o seguinte: “na verdade, esse trabalho demora 20 anos porque são 20 anos de leituras e das minhas referências na área jurídica”.
ConJur — Quais leituras em especial o historiador deve dominar para fazer estudos na área jurídica?
Cássio Schubsky — Os clássicos da historiografia brasileira estão em Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Hollanda. Eles dão uma base de compreensão do que era a estrutura administrativa e jurídica do país. Os donos do poder, de Raimundo Faoro, também é importante. Ele conta a história a partir da organização do estado, do patronato político. E, portanto, como é a organização jurídica do estado. Caio Prado faz a mesma coisa em Formação do Brasil Contemporâneo. Há um capítulo específico sobre a organização administrativa e jurídica. Eles são “os caras”. São a base da formação de um bom trabalho histórico, historiográfico.
ConJur — Como as instituições percebem a pesquisa histórica?
Cássio Schubsky — Há um movimento no Brasil, muito alvissareiro, de valorização da história. Hoje, há publicações periódicas mensais de duas ou três revistas com excelente qualidade. A revista da Biblioteca Nacional e a revista História Viva, sobre história geral, são exemplos de que existe mercado para História. Há best sellers no mercado, como o 1808 [escrito por Laurentino Gomes, a obra trata da chegada da família real portuguesa ao Brasil naquele ano], um livro de História do Brasil. Este foi um dos mais vendidos no país durante muito tempo e continua sendo. Ganhou o Prêmio Jabuti em 2008, na categoria melhor livro de não-ficção. A série do Elio Gaspari sobre a ditadura também é um exemplo. São obras de jornalistas, mas que são trabalhos de historiador. Como historiador não é uma profissão regulamentada, você vira historiador pelo exercício da atividade. O que faz o historiador é a alma. É de bom tom que você tenha formação, mas ela não é suficiente.
ConJur — E quanto à história das instituições?
Cássio Schubsky — Na história institucional, há muita coisa por fazer. A Aasp tem 65 anos e até três anos não tinha uma obra para contar a sua história. A OAB tem muitas publicações, mas ainda há muita coisa para contar. No momento estou fazendo uma pesquisa sobre a Apesp [Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo], que é uma entidade de 60 anos. O trabalho começa com a formação do acervo da entidade. Recolhemos imagens, fotos, documentos, publicações, fazemos entrevistas, para formar um centro de documentação e memória.
ConJur — Quais são as leituras fundamentais para conhecer a história da Justiça brasileira?
Cássio Schubsky — A História do Direito Brasileiro, de José Reinaldo [Lima Lopes], por exemplo. Ele é professor da faculdade de Direito da USP e ganhou o Prêmio Jabuti na primeira vez que a premiação contemplou a categoria jurídica. É um belo trabalho. Mas não é um trabalho de pesquisa histórica, é um trabalho teórico sobre a história do Direito. No Século XIX havia grandes juristas. A memória dessas pessoas, a lembrança sobre elas vai se perdendo, aí você começa a pesquisar e encontra um livrinho raro aqui, outro ali, e vai reconstituindo.
ConJur — Ruy Barbosa é o maior jurista brasileiro?
Cássio Schubsky — Em estatura não é, porque ele era baixinho [1,58 m]. O maior? Eu não sei. Quando o personagem se autocultua e acabam criando, à revelia de sua vontade, instituições para cultuar a sua memória, ele acaba se projetando mais. Ruy Barbosa tem a Casa Ruy Barbosa, que cuida desde sempre de sua memória. O grande jurista Augusto Teixeira de Freitas não tem. Publicamos uma obra com depoimentos sobre San Tiago Dantas, Atualidade de Santiago Dantas. Para minha surpresa, está na segunda edição. Quem conviveu com o Santiago, nutre por ele grande admiração: era um jurista, um político, um economista, um escritor, um ensaísta, um homem de muitas atividades, um sujeito fabuloso. Mas morreu muito jovem, com 52 anos. Teve um câncer fulminante. A memória dele foi se perdendo. Se ele tivesse vivido mais 20 anos, provavelmente seria mais conhecido.
ConJur — Quem foi Augusto Teixeira de Freitas?
Cássio Schubsky — Era um grande nome do Direito, como era o Clóvis Bevilaqua, como era o Ruy Barbosa, aquela figura enciclopédica, que tinha uma formação humanística muito elaborada. Hoje, temos o jurista especialista. Antigamente, o jurista era uma figura com formação bastante variada, rica. O Teixeira de Freitas era pouco conhecido no país. Clóvis Bevilaqua também. Este ano é o sesquicentenário do seu nascimento. Ele nasceu no dia 4 de outubro de 1859. Ninguém está falando sobre ele.
ConJur — Qual a contribuição de Clóvis Bevilaqua para o país?
Cássio Schubsky — Eu estou pesquisando a vida deste jurista, para um perfil biográfico. Trata-se de um ser extraordinário. Ele escreveu a história da Faculdade de Direito do Recife, uma obra monumental, tem um ensaio sobre a relação entre Literatura e Direito. A obra está esgotada e desconhecida. É uma raridade. Ele era um filósofo importantíssimo, professor e acima de tudo um sujeito modesto. Ele não ficava fazendo propaganda de si mesmo. Levou uma vida modesta, não era dado a badalar socialmente. A sua mesa de trabalho era super bagunçada, dizem. Ele prestava serviço jurídico de graça porque às vezes a pessoa não podia pagar. A mais recente biografia dele tem 20 anos. A praça Clóvis [no centro de São Paulo] é uma homenagem a ele. É na Praça Clóvis Bevilaqua que fica o Palácio da Justiça [sede do Tribunal de Justiça de São Paulo]. Foi ele quem concebeu o Código Civil de 1916, que entrou em vigor no ano seguinte e durou até 2003. Antes deste código, vigoravam as Ordenações do Reino.
ConJur — Quais personagens da área jurídica teriam tanta relevância?
Cássio Schubsky — José Antonio Pimenta Bueno, o Visconde e Marquês de São Vicente, considerado por muita gente o grande constitucionalista do Império. Tem até um instituto constitucional que é o Instituto Brasileiro Pimenta Bueno. Tirando os constitucionalistas, boa parte da comunidade jurídica nunca ouviu falar dele. Outro grande personagem foi o Barão de Ramalho [Joaquim Ignacio Ramalho], que foi o fundador e primeiro presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp). Foi ele também que fundou o Museu Paulista.
ConJur — Quais as iniciativas mais importantes do Barão de Ramalho, em termos jurídicos?
Cássio Schubsky — Ele era professor e tinha atividade política. Foi vereador em São Paulo, doutrinador e advogado. Fez trabalho de doutrina jurídica, foi diretor da Faculdade de Direito da USP durante muitos anos e presidiu pela primeira vez o Iasp, que é uma instituição importantíssima. Era, ainda, conselheiro do Império.
ConJur — O que pode dizer sobre o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP?
Cássio Schubsky — O XI de Agosto tem uma atividade gloriosa. É de 1903, a mais antiga entidade estudantil do país em atividade. Já tem 106 anos. A UNE [União Nacional dos Estudantes] faz 70 anos em 2009. O XI de Agosto tem uma trajetória rica de lutas e conquistas. Por exemplo: o voto feminino existiu antes no XI de Agosto do que no Brasil. Só começou a ter voto feminino no Brasil a partir da Constituição de 1934. No XI de Agosto, já tinha em 1905.
ConJur — E já tinha mulher no XI de Agosto em 1905?
Cássio Schubsky — Pouquíssimas mulheres. Com o voto secreto foi a mesma coisa: chegou antes no XI de Agosto que no país, em 1925. Foi também o centro acadêmico que criou a assistência judiciária, em 1919. No estado de São Paulo, a assistência judiciária começou em 1920. A atividade cultural também era muito intensa, o coral, o teatro. O Largo São Francisco também foi o celeiro de muitas lideranças políticas. O Monteiro Lobato foi da primeira diretoria do XI de Agosto e era diretor do jornal do XI. O Oswald de Andrade foi orador do XI em 1919. O Aluísio Nunes Ferreira Filho, que é o atual secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, foi presidente do XI de Agosto em 1967. Época brava da ditadura militar. A bibliografia sobre a escola e o movimento estudantil é pequena. Para escrever o livro A heróica pancada — Centro Acadêmico XI de Agosto: 100 anos de lutas (são quatro coautores) reunimos uma documentação vastíssima, desde 1903.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


