Entrevista: Hugo de Brito Machado, tributarista
5 de novembro de 2006, 6h00
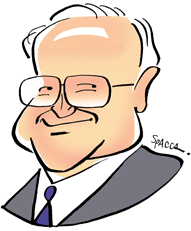 Spacca" data-GUID="hugo_brito_machado.png">O Brasil é um país de contradições, em que os três Poderes quase sempre não cumprem suas atribuições. Em matéria tributária, pelo menos, é assim que funciona: “O Executivo busca sempre obter leis que lhe permitam arrecadar mais. O Legislativo quase sempre é subserviente ao Executivo. E o Judiciário funciona como freio, mas nem sempre é eficaz”. A opinião é do advogado tributarista Hugo de Brito Machado, um dos autores mais citados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
Spacca" data-GUID="hugo_brito_machado.png">O Brasil é um país de contradições, em que os três Poderes quase sempre não cumprem suas atribuições. Em matéria tributária, pelo menos, é assim que funciona: “O Executivo busca sempre obter leis que lhe permitam arrecadar mais. O Legislativo quase sempre é subserviente ao Executivo. E o Judiciário funciona como freio, mas nem sempre é eficaz”. A opinião é do advogado tributarista Hugo de Brito Machado, um dos autores mais citados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.Para Brito machado, o Legislativo usa e abusa do poder de fazer leis. Deixa muitas vezes a Constituição de lado ou a manipula a seu bel prazer. O Executivo, que deveria se submeter a essas leis, é campeão em desrespeitá-las. Ao Judiciário, então, fica o papel de dizer qual norma é constitucional e fazer com que o Executivo cumpra estas regras. “Na maioria dos julgados, porém, o Judiciário favorece o governo em matéria tributária. Aceita o argumento de que o governo não pode perder receita”. O resultado disso é que o Executivo acaba sendo executado, as leis criadas pelo Legislativo são anuladas e o Judiciário se torna cada vez mais ativo na formação da política tributária do país.
Nesse jogo de interesses, a segurança jurídica fica abalada. As leis mudam sempre, a jurisprudência, muitas vezes, também, e a já complexa legislação tributária se torna cada vez mais confusa. Nesse cenário, Brito Machado acredita que o melhor a se fazer em matéria tributária é não fazer nada. Ou seja, nada de reforma tributária por 10 anos. “Durante esse tempo, uma comissão de financistas e tributaristas poderia estudar uma reforma para, no final desse prazo, ser discutida e votada.”
Leia a entrevista que Hugo de Brito Machado concedeu por e-mail para a Consultor Jurídico.
ConJur — É possível fazer uma reforma tributária?
Hugo de Brito Machado — Sempre é possível reformar qualquer coisa.
ConJur — Qual é a reforma desejável e a possível?
Hugo de Brito Machado — Desejável para quem? Para o governo, é desejável aumentar os tributos. Assim têm sido as reformas tributárias em nosso país. Possível é a que resulta da conciliação dos interesses em conflitos, especialmente interesses do governo federal, dos governadores e dos prefeitos. Como todas as reformas feitas até hoje implicaram aumento de tributos e agravamento das complexidades e da burocracia no sistema tributário, a melhor reforma consiste em proibir toda e qualquer mudança de toda e qualquer norma durante cinco ou dez anos. Durante esse tempo, uma comissão de financistas e tributaristas poderia estudar uma reforma para, no final desse prazo, ser discutida e votada.
ConJur — Como o senhor vê a qualidade e quantidade das leis tributárias editadas pelo Congresso Nacional?
Hugo de Brito Machado —Quanto à qualidade, as leis tributárias deixam muito a desejar. O legislador não cumpre as normas da Lei Complementar 95/98 [que dispõe sobre as regras para elaboração de leis]. A falta de sistematização e o uso de terminologia inadequada são dois graves defeitos de nossa legislação tributária. A quantidade de leis também é lamentável. É indiscutível o exagero na produção normativa em matéria tributária. O Executivo busca sempre obter leis que lhe permitam arrecadar mais. O Legislativo quase sempre é subserviente ao Executivo. E o Judiciário funciona como freio, mas nem sempre eficaz. Aliás, pode-se dizer que, na maioria dos julgados, o Judiciário favorece o governo em matéria tributária. Aceita o argumento de que o governo não pode perder receita. Mas não há dúvida de que, sem o Judiciário, seria muito pior.
ConJur — Cabe ao Supremo, então, um papel ativo na política tributária do país?
Hugo de Brito Machado — A administração pública (o Poder Executivo) insiste na criação e na cobrança de tributos contrariando a Constituição. Por isto é que o Supremo vive abarrotado de questões tributárias.
ConJur — Nesse cenário, como fica a segurança jurídica?
Hugo de Brito Machado — Muito abalada. A jurisprudência, especialmente em razão da demora nos julgamentos e da rapidez com que as leis são alteradas, não tem o chamado efeito didático. Quando uma questão é resolvida definitivamente, a interpretação dada à norma questionada já não tem a utilidade que deveria ter, pois a lei vigente em muitos casos já é outra.
ConJur — O senhor é autor da tese de que o contribuinte não pode ser processado por sonegação fiscal antes do fim do procedimento administrativo. Que mudança essa tese provocou na relação contribuinte-fisco?
Hugo de Brito Machado — Com o acolhimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese segundo a qual não se pode admitir ação penal por crime contra a ordem tributária antes da decisão definitiva no processo administrativo, tem-se pelo menos a garantia de que o contribuinte não será processado criminalmente antes de ser apreciada a defesa que tiver apresentado à autoridade administrativa. Evita-se que o contribuinte seja processado por crime que não cometeu. Não são raros os autos de infração com exigência de tributo indevido, ou maior do que o devido. Em alguns, a própria autoridade administrativa (os conselhos de contribuintes, por exemplo) reconhecem que a exigência é indevida, ou que o valor devido é menor. Assim, fica assegurado ao contribuinte o direito de pagar somente o devido e, assim, extinguir a punibilidade do crime que eventualmente tenha cometido.
ConJur — Apesar de essa tese estar praticamente consolidada nos tribunais, o Ministério Público insiste em denunciar contribuintes por sonegação sem que o processo administrativo tenha chegado ao fim. Como isso afeta a segurança jurídica?
Hugo de Brito Machado — Isto afeta significativamente a segurança jurídica porque dá oportunidade para o juízo penal condenar por crime tributário quem na verdade não praticou esse crime. Dá oportunidade a decisões divergentes: uma condenando pelo crime e outra, no juízo cível, dizendo que o contribuinte não é devedor de tributo. Aos poucos, porém, o Judiciário vai tornando pacífico o entendimento segundo o qual é necessário o esgotamento da via administrativa.
ConJur — A ação penal pode ser usada como meio de coação para a cobrança tributária?
Hugo de Brito Machado — Com certeza, não. Na prática, porém, em muitos casos, ela é usada para coagir o contribuinte.
ConJur — Há lugar no Direito Tributário para a transação?
Hugo de Brito Machado — Sim, o Código Tributário Nacional prevê isso expressamente.
ConJur — Qual a sua posição a respeito do lançamento de tributo por homologação?
Hugo de Brito Machado — O lançamento por homologação é uma criação inteligente do mestre Rubens Gomes de Sousa, que o introduziu em nosso Código Tributário Nacional, do qual foi o artífice maior. Para alguns tributaristas, pode haver tributo sem lançamento. Aliás, a maioria dos impostos atualmente existentes em nosso sistema seriam tributos sem lançamento. Não posso concordar com essa tese. Na verdade, não existe tributo sem lançamento. O lançamento sempre existe, ainda que apenas por ficção jurídica, como é o caso do tributo cujo lançamento resulta de homologação tácita, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, do Código Tributário Nacional.
ConJur — Há lugar para os direitos humanos no Direito Tributário?
Hugo de Brito Machado — Sim. Que o diga o professor Ricardo Lobo Torres, do Rio de Janeiro, que tem sustentado isso em excelentes estudos já publicados e em palestras que faz nos seminários e congressos.
ConJur — O contribuinte deveria ser visto como cliente do fisco?
Hugo de Brito Machado — O cliente assim como o fornecedor podem ser escolhidos. A relação entre eles é voluntária. Situa-se no momento da liberdade. A relação tributária é impositiva. Ninguém é contribuinte porque quer. Em contextos bem específicos, pode ser colocada a relação tributária como relação de consumo, se daí decorrer benefícios para o contribuinte. Como regra geral, todavia, penso que isso não é possível.
ConJur — Qual a opinião do senhor sobre estas questões pontuais?
Hugo de Brito Machado — Crédito prêmio do IPI — Acho que subiste e que é um bom incentivo às exportações;
Local de pagamento do ISS — Como regra, deve ser o local em que está o estabelecimento prestador. Excepcionalmente, pode ser o local da prestação do serviço, conforme, aliás, ficou bem esclarecido na Lei Complementar 116;
Local de pagamento do ICMS — Deve ser no destino e não na origem do produto;
Alíquota zero de insumos — Não gera direito ao crédito do IPI;
Cofins para sociedades de profissionais liberais — Subsiste a isenção, pois uma lei ordinária não pode revogar uma lei complementar. Por outro lado, a Constituição Federal exige que as isenções sejam tratadas em leis específicas (CF/88, art. 150, § 6º) e isto não foi obedecido. Assim, seja por uma, seja pela outra razão, certo é que a norma que se propôs a abolir a isenção da Cofins para as sociedades de profissionais é inconstitucional.
ICMS na base de cálculo da Cofins — Nosso sistema tributário contempla várias situações em que o tributo incide sobre outro tributo, o que é realmente um verdadeiro absurdo. Mesmo assim, não acredito que o ICMS venha a ser excluído da base de cálculo da Cofins, embora isto devesse ocorrer.
ConJur — O senhor defende a limitação de incentivos fiscais. Por quê?
Hugo de Brito Machado — O incentivo fiscal, em princípio, é válido. Mas, infelizmente, é objeto de abusos e distorções. É um instrumento que exige muitas cautelas.
ConJur — Por que a súmula vinculante ainda não foi usada?
Hugo de Brito Machado — Parece que é porque o principal atingido será a administração pública (o fisco) que é quem mais descumpre decisões judiciais. Aliás, por isto mesmo, temos em nosso sistema jurídico a execução contra a Fazenda Pública. O processo de execução é um instrumento destinado a compelir o vencido a cumprir a decisão judicial. Em um Estado de Direito, é um contra-senso pensar em execução contra a Fazenda Pública. O Estado de Direito caracteriza-se precisamente porque se submete ao Direito. Não se explica, portanto, a necessidade de um instrumento para obrigar o Estado a cumprir as decisões judiciais.
ConJur — Embora seja proibido, o governo edita Medida Provisória sobre matéria tributária. O que o senhor pensa disso?
Hugo de Brito Machado — A MP já é, por si mesma, um instrumento de arbítrio, que afeta sensivelmente o princípio da separação dos poderes. Em matéria tributária, não deveria ser possível o seu uso. No caso do Refis 3, tem-se um exemplo do inconveniente. O governo já não tem nenhum interesse na aprovação da MP. Não interessa mais à Fazenda.
ConJur — O senhor defende a responsabilização do agente público por danos causados ao contribuinte. Por quê?
Hugo de Brito Machado — A única forma de conter as práticas arbitrárias em nosso país é a responsabilização pessoal do agente público pelos danos ao cidadão. Não só ao contribuinte, mas aos cidadãos em geral. Se o contribuinte começar a cobrar judicialmente do agente público indenização pelos danos que sofre em decorrência de práticas arbitrárias, com certeza as práticas arbitrárias ficarão reduzidas a bem poucos casos. A indenização tem duas finalidades: reintegrar o patrimônio lesado e castigar aquele que cometeu a ilegalidade. Ocorre que a indenização cobrada da entidade pública (União, estado ou município), embora atenda à primeira dessas duas finalidades, não atende à segunda. O valor correspondente sai dos cofres públicos. Da comunidade, portanto. E o agente público continua, por isso mesmo, agindo de modo irresponsável, pois nada sofre em decorrência da cobrança da indenização. Se a ação de cobrança da indenização for dirigida diretamente ao agente público, por menor que seja o valor da indenização, o efeito didático, educativo, da condenação fará com que o agente público pense duas vezes antes de praticar uma ilegalidade contra o cidadão.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


