Entrevista: Francisco de Queiroz Cavalcanti
2 de abril de 2006, 7h00
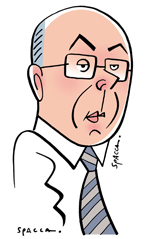 Spacca" data-GUID="francisco_queiroz_cavalcanti.png">O direito à ampla defesa e ao contraditório é um dos principais — senão o principal — pilares do Estado Democrático de Direito. Em certas ocasiões, contudo, ele é usado com o claro objetivo de atrapalhar as investigações. A opinião é do presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Francisco de Queiroz Cavalcanti.
Spacca" data-GUID="francisco_queiroz_cavalcanti.png">O direito à ampla defesa e ao contraditório é um dos principais — senão o principal — pilares do Estado Democrático de Direito. Em certas ocasiões, contudo, ele é usado com o claro objetivo de atrapalhar as investigações. A opinião é do presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Francisco de Queiroz Cavalcanti.“Muitas vezes as provas requeridas num processo não têm pertinência nenhuma, são simplesmente para fazer com que o processo se arraste”, afirma.
Especialista em Direito Administrativo, Cavalcanti não se acanha em falar sobre as demais áreas sem qualquer precaução para tentar agradar ou obedecer ao que se estabeleceu como politicamente correto. Fala o que pensa: “A idéia liberal de que a pena visa ressocializar é irreal. A pena não socializa ninguém”.
Com 52 anos, Cavalcanti presidirá o TRF-5 até março de 2007. Nesta entrevista à Consultor Jurídico, não foge à polêmica: “No Brasil já existe a pena de morte. Só que como não foi formalizada, ela não tem processo e as pessoas morrem sem direito à defesa”.
O desembargador que começou a carreira na magistratura como juiz do Trabalho e passou em primeiro lugar no concurso quando decidiu se tornar juiz federal tem uma visão clara do inchaço do Judiciário. “Imaginar que eu vou resolver o problema de solução de conflitos com maior número de juízes é como pensar em resolver a gripe do frango construindo mais hospitais. É preciso que o Estado pare de demandar.”
Francisco Cavalcanti é professor dos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. O jornalista Márcio Chaer também participou da entrevista.
Leia a entrevista
ConJur — Hoje uma das grandes discussões que se coloca é em relação ao direito de defesa, ao sigilo. O direito de defesa está sendo utilizado como instrumento político?
Francisco de Queiroz Cavalcanti — Está. Em certas circunstâncias onde a verdade não interessa. Muitas vezes as provas requeridas num processo não têm pertinência nenhuma, são simplesmente para fazer com que o processo se arraste.
ConJur — O senhor afirma que temos excesso de direito de defesa. Há o exemplo do caso Pimenta Neves, que matou a ex-namorada. Já vão seis anos e ele está solto, apelando. Existe o corpo, a arma, a confissão. O senhor diria — e aqui busco uma frase da procuradora Janice Ascari — que pior do que um inocente preso só um culpado impune?
Francisco Cavalcanti — Eu diria que a gente raciocina pela exceção. Qual o risco de um inocente ser preso? Se eu imaginar o risco que um inocente sofre, eu não permito que ninguém dirija um caminhão, porque o caminhão pode atropelar algum pedestre. Os riscos existem. Por isso digo que às vezes há excesso. Agora, em tese, seis anos é um tempo absurdo para julgamento de qualquer coisa. Em seis anos alguém termina o curso de medicina e vai fazer cirurgia.
ConJur — Um curso de Direito…
Francisco Cavalcanti — É muito tempo. Eu diria que a gente condena muito fácil o criminoso pobre. Mas isso é culpa da nossa legislação. Quais são os crimes hediondos que você conhece? São os crimes que envolvem normalmente violência contra pessoa, são aqueles crimes onde há grande possibilidade de nós, classe média, sermos vítimas. Consideramos hediondo o crime que é capaz de alcançar sobretudo quem legisla, quem julga. Não é crime hediondo eu tirar os recursos de alguém que passou a vida toda poupando e botou no banco.
ConJur — Nós temos um debate no país. A maior parte da sociedade se mostra um pouco perplexa em um país com tanta criminalidade e, no lugar de termos um enrijecimento da apenação, nós temos uma espécie de flexibilização. Como é que o senhor vê essa situação?
Francisco Cavalcanti — Não temos de discutir o tempo da pena, mas sim a forma como a pena é executada. Eu faço sempre — apesar de que não ser especialista em Direito Penal, minha área é administrativa — uma comparação entre o sistema japonês e o nosso. No sistema japonês as penas são muito duras e você as cumpre integralmente. De que adianta condenar alguém a doze anos de reclusão, quando com dois anos ele está liberado? Ele vai para o semi-aberto. Se ele ficar três anos, quatro anos em regime integralmente fechado, é uma pena muito mais pesada do que doze anos. No sistema japonês — e ressalto que não estou fazendo apologia ao Japão — o preso não tem encontro conjugal, a correspondência que ele recebe é aberta e lida pelo diretor, ele não vê televisão, não lê jornal. Ele sai penalizado. Porque a idéia é que pena tenha caráter pedagógico para o individuo não repetir aquele tipo de ação por medo da sanção.
ConJur — Mas a idéia não é ressocializar?
Francisco Cavalcanti — A idéia liberal de que a pena visa ressocializar é irreal. A pena não socializa ninguém. Aí vão mostrar estatísticas: “quem cumpre pena alternativa não reincide”. Mas não reincide porque os crimes que geram pena alternativa são crimes muito pequenos. Aquele preso não causaria qualquer mal à sociedade. Mas se tivéssemos pena alternativa para quem assalta bancos, não adiantaria, porque ele iria assaltar do mesmo jeito. Eu diria que a sociedade tem de ter grupos: um grupo em que poderia nem haver pena para ele, que se pautaria pelas regras normais; um grupo intermediário, que o agir corretamente ou não depende do medo da sanção; e o grupo daqueles que não têm jeito. Esse grupo realmente não tem outra solução que não o encarceramento. Ou até a pena de morte.
ConJur — Pena de morte?
Francisco Cavalcanti — No Brasil já existe a pena de morte. Só que como não foi formalizada, ela não tem processo. A nossa sociedade aceita que um indivíduo que responde a 30, 40 homicídios seja morto. Quando se vê a notícia de que ele foi morto sabe-se lá por quem, ou não se quer saber por quem, a sociedade respira aliviada. Essa é a realidade, não é a visão jurídica. Qualquer um de nós se sente aliviado quando lê que o indivíduo que estava estuprando mulheres aqui na cidade de São Paulo morreu. Quem disser que não, está mentindo. Então, por quê não pensar em formalizar isso com um processo rigoroso? Veja o exemplo dos Estados Unidos. A espera no corredor pela pena de morte leva vários anos. Há vários recursos. A possibilidade de se cometer uma injustiça é mínima. Mas será que esse mínimo risco de cometer injustiça justificaria a falta de um processo para pena de morte? Hoje, as pessoas morrem sem ter nem processo.
ConJur — Mas nessa discussão dos crimes hediondos, o raciocínio dos progressistas, no sentido de que a pena progrida, é o de que ao ver que há uma recompensa, o preso teria um estímulo para ser uma pessoa melhor. E se ele vê que ele não tem chance nenhuma mesmo, isso embruteceria ainda mais o cidadão. Outro ponto que justifica a gradação da pena é que não é justo tratar uma pessoa que mata dois cidadãos e uma que mata 100 da mesma forma. E que mesmo na cadeia continue matando. Esse raciocínio não é válido?
Francisco Cavalcanti — Em termos. Ele é valido se a gente colocar os dois extremos: o extremo que eu coloquei e o extremo que você colocou. Eu penso que uma progressão é possível. Agora, a progressão como está hoje no Brasil é inaceitável. Crime hediondo, por exemplo, não deveria ter progressão. Talvez alguém diga: “alguém ser condenado a 30 anos em regime fechado é um absurdo”. Muito bem, mas que sejam então 20 ou 15 anos em regime fechado. Hoje no Brasil e no mundo se fala muito em custo. Então, o custo de uma prisão efetiva mais curta é menor do que uma prisão longa com progressão, porque tem que manter todo um aparelho judicial, uma estrutura de apoio para acompanhamento. E, na realidade, o preso que é liberado no Brasil não tem acompanhamento. Em outros países, sim. Há, por exemplo, uma pulseira monitorada por GPS. Mas há críticos que dizem que isso é um absurdo. Qual é o absurdo de alguém poder sair da prisão desde que tenha uma pulseira que possa identificar onde ele está. Eu vou dar o exemplo de Recife. Muitos presos, que saem no fim de semana, assaltam e voltam. É comum o preso que está no regime semi-aberto aproveitar o momento de saída para assaltar ou matar e depois volta para a prisão. E muitas vezes os presídios não têm um controle efetivo da entrada e saída. Eu li que a Lei de Execução Penal no Brasil assegura mais direito ao preso do que a Lei assegura aos beneficiários da Previdência Social.
ConJur — O Exército, que é um símbolo, o ícone da segurança, teve recentemente suas armas roubadas. Quer dizer, roubaram o ícone do ícone. E, em uma ação dissuasória, o Exército invadiu o morro para ir atrás das armas. Foi criticado por desrespeitar direitos humanos. O senhor acha o Exército desrespeitou direitos humanos?
Francisco Cavalcanti — Eu acho que aí existem várias discussões. Primeiro, se não me engano o Exército tinha um mandado judicial para apreensão daquelas armas.
ConJur — Se questionou que o mandado foi genérico.
Francisco Cavalcanti — Mas como é que um mandado poderia ser específico para indicar em qual daqueles barracos do morro estava a arma. Então, como eu mando fazer uma busca em um barraco de uma rua que não tem nome, em uma casa que não tem número?
ConJur — Houve a coincidência de termos os dois principais tribunais do país presididos por juízes que eram políticos, que publicamente tinham opções políticas, partidárias e que pretendem se candidatar. Há desconforto na magistratura por esse fato? Como é que o senhor descreveria esse desconforto?
Francisco Cavalcanti — Imaginar que o juiz é um elemento neutro, sem posições e sentimentos, é irreal. Tanto que nos tribunais constitucionais europeus as indicações passam pelo Parlamento. Eu lembro do caso de Portugal, onde se procura ter no Tribunal Constitucional mais ou menos uma composição de magistrados que represente as várias tendências políticas. Quando eu fazia doutorado lá em 1993, havia mais ou menos 20% de comunistas. Então, eles achavam que se havia 20% de eleitores que votavam nos comunistas, tinha que ter um comunista no Tribunal Constitucional. Agora, não que fosse um representante de partido. Transformar o cargo em uma plataforma para me promover para um cargo eletivo é inaceitável. Deveria haver quarentena. Se há quarentena para o juiz voltar a advogar… O juiz que nunca foi promovido, passou 35 anos ali na primeira instância, não tem influência, quando sai e quer abrir um pequeno escritório de Direito para atuar na comarca em que ele era juiz, precisa esperar dois anos. Por quê o juiz que sai do Supremo Tribunal Federal para ser candidato a presidente da República não tem quarentena?
ConJur — Nem para deputado.
Francisco Cavalcanti — Nem para ser deputado, senador ou governador. Claro que num determinado momento da vida qualquer pessoa pode mudar de rumo, deixar de ser advogado, estudar medicina e se tornar médico, por exemplo. Agora, não se valendo de cargo público. Isso é inaceitável. Mas eu não estou dizendo que isso acontece. Em tese, se isso acontecer na Chechênia, é inaceitável. Se o presidente do Tribunal Constitucional da Chechênia fizer isso, é um absurdo.
ConJur — O presidente Lula indicou cinco ministros para o Supremo e deverá indicar outros dois. O senhor acha que isso mudou de alguma forma o pensamento…
Francisco Cavalcanti — Olha, no Brasil já se defendeu o modelo de Corte Constitucional europeu. No modelo europeu você tem o mandato de seis anos, como é o caso de Portugal, ou até de doze anos, como é o caso da Alemanha. O modelo do Brasil, de ministro vitalício, não é ruim porque o presidente passa e os ministros ficam. Ou seja, ele não tem vínculos com o próximo governante. Geralmente, não guarda vínculo nem com quem indicou. Quer um exemplo? O ministro Moreira Alves, um dos indicados pelo regime militar, foi um ministro coerente. Conservador, eu discordo das posições dele, mas ele teve coerência. Outro exemplo: o ministro Carlos Velloso, que deixou agora o Supremo. Um excelente ministro, de postura irretocável, e foi indicado pelo Collor. Não tinha nada de Collor.
ConJur — O senhor, então, discorda das críticas à decisão que impediu o caseiro de depor à CPI dos Bingos? Muitos identificam isso como uma defesa do governo.
Francisco Cavalcanti — A maioria dos ministros defende essa postura, mas eu penso que o Supremo deveria estar mais apartado do Congresso. Certas discussões são internas.
ConJur — Mas o Congresso não tem que seguir o devido processo legal, como todo mundo? Quando o Legislativo escorrega ao não seguir o devido processo legal, o Supremo não tem de intervir?
Francisco Cavalcanti — O papel do Supremo em relação ao Congresso seria muito melhor se fosse mais a posteriori do que de impedir os atos. Por exemplo, se eu começar a negar a maioria dos pedidos de quebra de sigilo no TRF-5, no final não será produzido um conjunto probatório adequado para eu saber como as coisas de fato aconteceram. Aí eu entro na questão da CPI. O maior problema é que nossas CPIs viraram palco de briga partidária. O Congresso deveria ter criado cargos de especialistas em fiscalização, em investigação. Deveria ter uma estrutura, uma secretaria especial para assessorar as Comissões Parlamentares de Inquérito. É preciso haver técnicos, porque o parlamentar na CPI tem as mesmas prerrogativas do juiz, mas não age do mesmo modo. E por isso há a intervenção do Supremo. E aí se justifica.
ConJur — Houve uma revolução recente. Não tão recente, porque o ministro Celso de Melo começou esse trabalho já faz pelo menos quatro anos. O Congresso agia como se a Constituição se submetesse ao regimento da casa.
Francisco Cavalcanti — Exatamente. Mas não é só o Congresso. Tantos membros dos três poderes durante tanto tempo se acharam capazes de parar um avião na pista, não respeitar a Constituição.
ConJur — Na Chechênia.
Francisco Cavalcanti — É, na Chechênia. É preciso aprender que o princípio republicano impõe limitações a todos nós. Noutro dia ia chegando um carro de um determinado juiz na garagem do Tribunal e havia um motorista manobrando outro carro na passagem. Ele tinha a preferência porque estava adiantado e aí terminou a manobra, não recuou. O juiz reclamou do manobrista. Afinal, se ele estava chegando e é juiz, como é que o outro não saiu da frente? Falta o espírito republicano.
ConJur — No Supremo, até hoje o motorista mais antigo não pode jamais ficar à frente do mais novo, não pode ultrapassar. No TRF da 5ª Região é assim também?
Francisco Cavalcanti — Não chegamos a esse ponto. Mas temos esse problema cultural, um temor reverencial dos servidores em relação aos magistrados. Para nós juízes, por exemplo, nada mais salutar do que a modificação trazida com a Emenda 45, que tornou os processos judiciais todos públicos. Por quê o processo do cidadão é público e um processo similar do juiz é reservado? O juiz, mais do que ninguém, deve ter um processo público. Vamos avançando aos poucos. Quer um exemplo de um retrocesso absurdo? A Emenda Constitucional 51 permitiu o ingresso no serviço público sem nenhum concurso de mais de cem mil agentes de saúde. E esses agentes de saúde foram recrutados como? Se você fizer uma pesquisa, os parlamentares de cada local tinham as suas cotas e indicaram aqueles que eram seus cabos eleitorais, o dirigente de associação.
ConJur — Cem mil?
Francisco Cavalcanti — Mais de cem mil no Brasil todo. A emenda diz que de agora em diante os agentes de saúde serão sujeitos a procedimento seletivo. Mas permite que fique quem já está contratado.
ConJur — Voltando um pouco ao Supremo, o presidente Lula teve um papel histórico, o de reformar a maioria da Corte que nos últimos 30 anos foi dominada, pelo menos numericamente, por ministros indicados durante os anos militares. Nós tínhamos o clima do regime militar em que o Judiciário era atrofiado e o Executivo hipertrofiado. O fato concreto, sem entrar no campo ideológico, é que houve uma mudança de um Tribunal defensivo, intimidado talvez, para um que está dando as cartas. Corre o risco de o STF ir além do tamanho de seus sapatos?
Francisco Cavalcanti — Eu acho que ele irá. Mas tudo na vida se faz com uma falta, um excesso e uma adequação. É sempre assim. É como aconteceu com o Ministério Público. Depois de 1988, o MP se tornou importantíssimo. Excedeu-se um pouco…
ConJur — Um pouco?
Francisco Cavalcanti — Mas excede, volta e se adequa.
ConJur — O que o senhor acha da forma de indicação dos ministros do Supremo?
Francisco Cavalcanti — A forma é boa. O chefe do Executivo, um poder da República, indica, a Casa maior do outro Poder, que é o Senado, sabatina na Comissão, o Plenário aprova e aí ele vai integrar outra Casa. O que falta, talvez, é o Senado assumir seu papel no processo, como se faz nos Estados Unidos.
ConJur — Nos Estados Unidos a sabatina dura várias sessões. Aqui a sabatina dura apenas algumas horas.
Francisco Cavalcanti — O Senado é conivente.
ConJur — O senhor se surpreendeu com as acusações de corrupção contra o governo Lula?
Francisco Cavalcanti — Não. Eu diria que está dentro da média. Se você tiver o trabalho de pegar qualquer prefeitura e estudar as sucessões verificará que as empresas que ganham as licitações com um determinado grupo político, perdem com outro. Se a licitação tem regras objetivas, por que uma empresa que ganhava uma licitação desaprendeu a ganhar?
ConJur — O senhor não se surpreendeu, mas veio à tona um escândalo que a população não imaginava compatível com o partido que levantava a bandeira da ética. O senhor acha que muda algo para as próximas eleições?
Francisco Cavalcanti — Para mudar precisamos de votos em listas fechadas, não em pessoas, financiamento público de campanhas. E o principal: você tirar as formas de sedução. Acabar com a maioria dos cargos em comissão e ter regras muito objetivas em relação à questão do orçamento. Ter uma certa restrição em relação a emendas parlamentares. Acabar com a possibilidade de usar o orçamento público como elemento de barganha.
ConJur — O senhor acredita que a classe política, que é quem pode fazer essas mudanças, tem interesse em fazê-las?
Francisco Cavalcanti — A grande questão é a seguinte: não há pirâmide social. Nossa sociedade é uma tábua e um prego. Se tivéssemos um bom número de pessoas representando a tábua… Se a base não pressionar, não modifica, porque de cima para baixo vai ser só benesse para manter o sistema. Quer ver um exemplo? A luta do Judiciário para não perder vantagens. As pessoas brigam para manter uma remuneração de R$ 40 mil no serviço público de um país pobre. O equivalente a R$ 40 mil não é uma remuneração nem de um juiz da Corte Superior da Inglaterra. E como é que eu, de um Tribunal de estado bem pobrezinho, quero manter isso? Eu tenho um auxiliar de enfermagem lá no meio Norte ganhando R$ 350 e o desembargador entendendo que tem que ganhar R$ 40 mil. Não tem sentido.
ConJur — E o direito adquirido?
Francisco Cavalcanti — O direito adquirido é um problema muito sério.
ConJur — Como o senhor classifica o colega que briga por um salário de R$ 40 mil?
Francisco Cavalcanti — Eu diria que ele é o retrato da pseudo-elite da sociedade brasileira: olha muito para si e não vê que a violência das ruas não se resolve só com mais policiamento ou com um muro mais alto. Um dia ele não vai ter como resistir, um dia a bastilha cai. Ou eu crio uma sociedade mais igual e dou oportunidades àqueles indivíduos que estão na marginalidade, ou a bastilha cai. Enquanto não tivermos a visão de que somos parte de um conjunto, não temos condições de melhorar.
ConJur — Por outro lado, como o senhor vê a ação de movimentos sociais como o MST, que no afã de pressionar, muitas vezes passam por cima da Lei?
Francisco Cavalcanti — O MST e os vários MSs estão funcionando à margem da lei, mas são um mal necessário. Eu diria que serve como lembrança de que algo está errado. Por exemplo, a destruição do berçário de plantas no Rio Grande do Sul é um absurdo, mas serve como estímulo para lembrar à sociedade que existe um conjunto de pessoas no campo que precisariam de um certo apoio. Se nós não dermos, eles vão fazer por conta própria. Eu diria que o MST tem um papel pedagógico da pior espécie, lembrando que a questão agrária não está sendo resolvida. O modelo de reforma agrária brasileiro é péssimo, até porque não faz o que é principal. O primeiro projeto em Pernambuco, que foi da usina Caxangá, foi implantado, houve a divisão das parcelas e depois não se deu continuidade. As pessoas ficaram no campo com pedaços pequenos de terra sem ter nenhuma condição de colocar os produtos no mercado. Agora, é preciso punir os excessos.
ConJur — Como presidente de um tribunal, que tem de administrar recursos, como o senhor vê a Lei de Responsabilidade Fiscal?
Francisco Cavalcanti — A Lei de Responsabilidade Fiscal tem problemas. Em relação à Justiça está previsto que até 6% da receita corrente líquida da União será destinada ao Judiciário. E se fixou que esse percentual é dividido entre os vários órgãos da Justiça de acordo com a média dos três anos anteriores à lei. O problema é que à época a Justiça Federal estava pequena, não estava interiorizada, e ficou com pouco mais de 1%. Só que a Justiça Federal passou a crescer, ir para o interior e, agora, estamos engarrafados, pleiteando a reforma dos percentuais.
ConJur — A Justiça Federal está no limite?
Francisco Cavalcanti — Está. Mas, veja, eu não acho que é aumentando a Justiça que se resolve o problema. O grande erro é imaginar que eu vou resolver o problema de solução de conflitos com maior número de juízes. É como pensar em resolver a gripe do frango construindo mais hospitais. Não resolve. Eu tenho de enfrentar a epidemia. A Espanha passou por uma situação semelhante à nossa. Em 1978 veio a Constituição espanhola, saiu-se de uma ditadura e as pessoas não tinham mais medo de demandar contra o Estado. Mas eles perceberam que não adiantava criar mais órgão judicial. Era necessário que a administração pública fosse saneada, funcionasse adequadamente, respeitasse a lei. A conseqüência disso é um número menor de questões na Justiça.
ConJur — O mesmo Estado que entope a Justiça Federal é aquele que tem de dar recursos para que ela dê conta de julgar a demanda.
Francisco Cavalcanti — Exatamente. A Justiça Federal está sendo inchada e cria outro problema, que é o preenchimento de quadros. Por exemplo, na 5ª Região nós temos mais de 50 cargos vagos em primeiro grau. Porque no último concurso, com mais de 70 vagas, apenas 16 foram aprovados. No anterior, com 60 vagas, só passaram 12.
ConJur — E o número de candidatos?
Francisco Cavalcanti — Entre três e cinco mil candidatos. Ou seja, de quatro mil bacharéis, você só consegue 12 com condições razoáveis para ser juiz. Então imaginar que você vai criar 400 varas e resolver o problema é irreal porque eu precisaria 800 juízes. E não vou encontrar. A qualidade vai cair. É melhor que não tenha a demanda. O nível de conflitos da sociedade brasileira é muito alto.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


