Contrato de escrow: da compra de ativos custodiados em ato escuso
16 de maio de 2023, 15h31
Se a causa em que se funda um contrato é viciada, os termos do pacto — em consequência — são também viciados. Logo, nulos. Isso se aplica a contratos de depósito de ações em instituição bancária, para fins de custódia (comumente chamado também de contrato de escrow), destinados a operações de compra de ações de empresa.
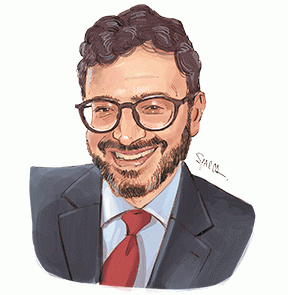 Esse mecanismo visa garantir o bom andamento da compra de ativos. Observada a boa-fé e a higidez do trato, o contrato é hígido. Mas pode se convolar em instrumento de abuso e (ou) coerção contra as próprias partes se houver vício em seu itinerário.
Esse mecanismo visa garantir o bom andamento da compra de ativos. Observada a boa-fé e a higidez do trato, o contrato é hígido. Mas pode se convolar em instrumento de abuso e (ou) coerção contra as próprias partes se houver vício em seu itinerário.
O depósito custodiado se verifica quando as partes decidem depositar ações, objeto da compra e venda junto a terceiro (usualmente banco ou cartório, que exerce a custódia). Tem-se, então, uma forma de garantia. Basicamente, o terceiro providenciará a "liberação" e a "transferência" das ações exatamente quando o depositante adquire o ativo. Em síntese, a ratio é para garantir que a transferência seja feita simultaneamente, com a recíproca entrega!
Provavelmente, se trata de um dos melhores instrumentos para assegurar o concomitante cumprimento das obrigações próprias dos contratos de compra e venda (entrega do bem objeto da venda de um lado e pagamento do preço doutro), ainda que geralmente — se trate — de instrumento caro!!
Aparentemente não existem contraindicações à sua utilização, todavia, existem incidentes que merecem atenção!
Refiro-me a eventuais patologias que podem surgir sobretudo em relação às "instruções" que as partes usualmente fornecem ao terceiro (banco) para regulamentar a operacionalização e a correta funcionalidade do instituto do contrato de deposito aos fins de custódia. Típicos casos patológicos são aqueles nos quais (1) as instruções são sujeitas a diferentes interpretações; ou (2) as instruções vinculam a "liberação" das ações à emanação de decisão ou sentença em âmbito judiciário e (ou) arbitral.
Na situação especificada, o caso de quo prevê que as partes estabelecem que as instruções acerca o momento "liberatório" (entrega das ações contra o pagamento do preço) seja condicionado ao conteúdo da decisão do mesmo tribunal arbitral, que além de decidir se a venda é válida, e conseguintemente realizável, estabelecerá modalidades, tempos e efetividades da transação: em outras palavras, o terceiro (banco) precisará seguir as instruções da decisão arbitral. A ratio de submeter as instruções "liberatórias" ao conteúdo da decisão arbitral se justifica pela necessidade de que o mesmo tribunal arbitral preliminarmente resolva questões acerca a própria validade da venda (i.e. condições precedentes, etc.).
Em particular, as dúvidas não abrangem tanto os efeitos da própria sentença arbitral (no caso, ação declaratória de nulidade de sentença arbitral por violação de dever de informação), quanto à validade do próprio contrato de deposito ou escrow cuja vontade dos assinantes se fundamente no errado pressuposto de que o tribunal arbitral seja de fato legítimo a decidir a questão principal, ou seja, a validade da venda das ações.
Portanto, a vexada quaestio é: o que acontece em relação ao contrato de venda e ao contrato de deposito se o tribunal arbitral resulte ilegítimo a decidir?
A questão releva, não tanto a causa da declaratória de nulidade de sentença arbitral por violação do dever de informação (que — como antecipado — não é objeto da presente reflexão), quanto por vício da vontade de uma das partes de subscrever um contrato no pressuposto que o terceiro (exatamente, o mesmo tribunal arbitral) seria legitimado a defender e tutelar os recíprocos interesses (1) na venda e (2) no escrow.
A questão é importante e delicada, sendo que estamos na frente de um paradoxo jurídico: de fato, o mesmo tribunal arbitral — ao mesmo tempo — seria (1) chamado a decidir sobre determinadas questões preliminares à venda principal das ações (i.e. realização de determinadas condições precedentes funcionais à validade da venda); (2) chamado a responder sobre a legitimidade da sua decisão, assim como da sua própria composição, através de ação declaratória de nulidade de sentença arbitral por violação de dever de informar; e, por último, (3) chamado a decidir quando e como "liberar" as ações contra o pagamento do preço em uma venda, cuja a validade ainda é judicialmente em discussão.
Em outras palavras, a patologia que se refere à legítima composição do tribunal arbitral (objeto de contestação por violação de dever de informar por parte de um dos árbitros nomeado por uma das partes) é diretamente coligada ao equilíbrio contratual que supostamente deveria existir no contrato do deposito para o cumprimento da própria sua função. Sem o recíproco interesse das partes de que a transação seja mediada de forma neutra, o próprio contrato de deposito não teria motivo de existir.
É, portanto, verossímil que a desconfiança em relação ao contrato de venda afete também o próprio contrato de depósito! Paradoxalmente, se fosse comprovado que o tribunal arbitral premiasse ilegitimamente uma das partes (ficando comprovada a violação do dever de informação), esta mesma parte presumivelmente seria premiada também nos efeitos liberatórios do contrato de deposito (sendo que é o mesmo tribunal arbitral a decidir), criando ilegítima assimetria prejudicial aos interesses doutra parte.
A ação declaratória de nulidade de sentença arbitral por violação de dever de informação comprova que a vontade das partes em nomear um tribunal arbitral para resolver a controvérsia jurídica referente à venda, talvez (melhor, provavelmente) não seja mais a mesma de quando foi decidido que fosse um tribunal arbitral ou, pelo menos, aquele tribunal arbitral, a decidir a controvérsia, porque supostamente ilegítimo.
Da mesma forma — considerada a direta ligação entre as duas questões (venda e depósito) — a vontade das partes de atribuir ao tribunal arbitral a responsabilidade de estabelecer os efeitos "liberatórios" sobre o depósito ou escrow, verossimilmente, não deve ser a mesma.
Quem, sabendo da existência de um tribunal arbitral ilegítimo (apesar do crivo judiciário), atribuiria ao mesmo tribunal arbitral um direito contratual de dispor sobre as próprias ações? A dúvida já comprova o vício!
Evidentemente, são questões delicadas cuja legitimação para julgamento exige o respeito na forma e no mérito, no que se refere às jurisdições competentes. Mas situações deste tipo — antes de tudo — devem respeitar o princípio fundamental do processo justo, tendo em consideração que o tribunal arbitral é sempre o resultado do exercício da autonomia privada das partes, exercitada através de subscrição de cláusula ou compromisso arbitral e cuja decisão pode ser inquirida e declarada nula pelo Poder Judiciário no caso de desrespeito e/ou ofensa aos próprios princípios fundamentais do ordenamento jurídico, como o do processo justo!
É justamente na base dessas premissas que se torna imperativa a questão: o que acontece se o tribunal arbitral se conduz de forma ilegítima, de forma a infeccionar a decisão? a resposta será que estamos diante de um paradoxo jurídico que prejudica uma das partes!
Longe de querer discutir aspectos de pura competência jurisdicional ou processual, vale a pena destacar pelo menos duas questões de ordem material referentes ao contrato de deposito: (1) o vício da vontade na subscrição do contrato; (2) a violação do princípio da boa-fé objetiva.
Principalmente, o vício da vontade na subscrição do contrato de depósito culmina na declaração de invalidade do negócio jurídico através da própria ação de anulabilidade. O artigo 171 do Código Civil de 2002, literalmente, estabelece que "além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I — por incapacidade relativa do agente; II — por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores".
A doutrina é pacífica ao definir e individualizar — especificamente — o erro como a falsa percepção da realidade: algo diferente do que é! O erro deve ser (1) substancial e essencial, e a falsa percepção da realidade deve ser motivo para a celebração do negócio jurídico; (2) cognoscível, enquanto deve ser possível o conhecimento posterior sobre a existência do erro, de modo a ser visível que a manifestação de vontade se expressou de forma equivocada na errada percepção do que é; (3) escusável, no sentido que qualquer pessoa, mesmo diligentemente, poderia cometer [1].
Diversamente do erro, o dolo é a conduta maliciosa praticada por uma das partes ou terceiro com o objetivo de levar outra parte a erro sobre as circunstâncias reais do negócio, de modo a manifestar vontade que lhe seja desfavorável, e que ele não manifestaria, não fosse o comportamento ilícito de que foi vítima. Em outras palavras, é o comportamento que induz alguém a concluir um contrato por engano [2]! O dolo é punido pelo Ordenamento Jurídico de formas diferentes (vejam-se, por exemplos, o artigo 186 e artigo 927 do CC), além de concretizar — como no caso de espécie — o vício apto a anular a validade do negócio jurídico.
A diferença principal entre erro e dolo — ambos vícios aptos a anular o negócio jurídico — se baseia no fato de que (1) no erro, o engano a respeito da realidade em que o contratante insere sua vontade é espontâneo; (2) no dolo, o engano é consequência do comportamento de má-fé de alguém! Inútil destacar que as duas patologias [erro e(ou) dolo] devem ser lidas juntamente ao próprio princípio da boa-fé objetiva, princípio cardial da defesa da confiança — necessariamente presente — em todos os negócios jurídicos, que devem primariamente depender da livre, ciente e expressa manifestação de vontade das partes.
No caso de espécie, o "engano" (seja por erro, seja por dolo) consiste em ter acreditado na legitimidade e imparcialidade do tribunal arbitral (fato do terceiro) para regulamentar o próprio contrato de deposito. É, de fato, verosímil que se uma das partes tivesse conhecido a ilegitimidade da decisão do terceiro, por irregularidade na composição do tribunal arbitral — ou tivesse só tido a suspeita de que não teria sido neutral — verossimilmente não teria assinado o contrato de depósito com a específica cláusula de reenvio ao conteúdo da sentença arbitral!
Difícil estabelecer — pelo menos nesse contexto — se o engano foi determinado por causa do erro ou por causa do dolo, mas (1) o fato de que uma das partes assinou um contrato de depósito em momento póstumo à antecedente indicação de árbitro (feita por ela mesma); (2) o fato de que o árbitro, supostamente, deveria informar conflito, o que não foi feito; (3) o fato de que contra a decisão arbitral, na qual o mesmo árbitro exprimiu o próprio voto — num segundo momento — foi acionada ação declaratória de nulidade; (4) o fato de que as ações, objeto da venda, ficam "presas" em contrato de depósito, que não está mais cumprindo a sua função de garantidor neutral de ambas as partes, com certeza levaria os mais maldosos a pensar em uma pré-constituída "armação" para tornar um contrato de depósito em suposta legitima "expropriação" das ações!
Felizmente, o ordenamento possui remédios por isso!
Assim como o artigo 171 do CC tutela (através da ação de anulabilidade) as partes em relação ao contrato de depósito, o próprio artigo 32 da Lei da Arbitragem dispõe a tutela (nulidade da sentença arbitral) em relação aos casos de irregularidade da própria arbitragem, quando prejudicar qualquer direito de defesa ou a própria legitimidade do tribunal arbitral constituído.
Em outras palavras, o ordenamento protege as partes contra a violação dos direitos das partes em todas as manifestações de autonomia privada! Não podendo esquecer que a própria decisão de utilizar a arbitragem para resolver as controvérsias é de fato um exercício de autonomia privada, que precisa ser tutelado de acordo com o inteiro ordenamento jurídico, e no específico também pela Teoria dos Contratos (sendo a fonte jurídica que legitima a utilização da arbitragem incluída na própria cláusula contratual).
Definido o âmbito de reflexão, é preciso lembrar que o princípio da boa-fé objetiva concretiza fonte autônoma de deveres e independente da vontade.
Couto e Silva destaca que o conteúdo da "relação obrigacional já não se mede somente nela (vontade) e, sim, pelas circunstâncias ou fatos referentes ao contrato, permitindo-se construir objetivamente o regramento do negócio jurídico, com a admissão de um dinamismo que escapa ao controle das partes" [3]. Enquanto cláusula geral, o princípio da boa-fé permite atividade "criadora" por parte do juiz, desde que contida nos limites da realidade do contrato, sua tipicidade, estrutura e funcionalidade, através de princípios admitidos pelo próprio ordenamento jurídico. A boa-fé há função integradora do contrato, atuando como fonte de direitos e obrigações ao lado do conteúdo do acordo das partes, além de servir para a interpretação das cláusulas convencionadas.
A cláusula da boa-fé objetiva permite, portanto, que o juiz reconheça e aplique — no caso concreto — a expectativa de que a obrigação seja cumprida por meio de comportamento ético e leal, necessário e indispensável não unicamente para o respeito da recíproca convivência na sociedade, mas também no desenvolvimento das relações jurídicas entre as partes [4].
O princípio da boa-fé objetiva, codificado no artigo 422 CC, integra — portanto — regra geral de conduta, presente em todas as fases das relações contratuais e tem como principais objetivos exigir das partes que observem os principais parâmetros de lealdade, probidade, honestidade, além de exigir a observância das regras gerais de convivência e do respeito das normas jurídicas em geral. A ratio do princípio da boa-fé objetiva busca restringir o exercício arbitrário e assimétrico (e abusivo) da autonomia privada das partes, de forma que indivíduos e pessoas jurídicas possuem para contratar livremente, criando uma série de deveres anexos às obrigações principais assumidas e concretizadas pelo acordo contratual que firmam. O princípio de boa-fé objetiva é "vivo" e consequentemente flexível e mutável de acordo com as circunstâncias do momento histórico e do ambiente em que o negócio jurídico é firmado.
As normas que regulamentam o contrato não são unicamente o fruto das negociações entre as partes, expressão da própria autonomia privada, mas o contrato é sobretudo disciplinado pelo próprio ordenamento jurídico, e consequentemente não somente por normas expressas (Carta Constitucional, leis, tratados, etc.), mas também por valores sociais que estão à base e devem transparecer no exame de cada fato relevante para a vida das pessoas ou grupos, levando em conta suas crenças e ambiente em que vivem. Desta forma, a boa-fé objetiva revela aos fins de: (1) certeza de agir no amparo do ordenamento jurídico ou sem ofensa a lei; (2) ausência de intensão dolosa; (3) sinceridade e transparência das partes. Em outras palavras, o princípio de boa-fé impõe não unicamente o dever de respeitar a legislação aplicável, mas impõe de agir conforme padrões sociais e regras de condutas implícitas a serem extraídas do inteiro ordenamento jurídico [5].
Anulabilidade por vício da vontade e boa-fé objetiva, portanto, refletem dois aspectos da mesma "preocupação" do ordenamento jurídico: garantir que a autonomia privada das partes seja livre, autêntica e espontânea! E sobretudo que a expressão da vontade seja fruto de decisão e manifestação não consequência de nenhum engano!
O assunto é assim relevante que o próprio Menezes Cordeiro descreve de forma muito clara o objetiva como o princípio da boa-fé objetiva precisa ser identificado em várias tipologias jurídicas que representam (e representariam) descumprimento ao próprio princípio. Entre as demais, o Professor destaca (1) o venire contra factum proprium; (2) a exceptio doli [generalis ou specialis]; (3) o desequilíbrio no exercício jurídico; (iv) a supressio; e (v) a surrectio.
Em particular, parece-nos importante destacar a figura da exceptio doli para evidenciar — ainda mais uma vez — que a boa-fé objetiva é de fato um princípio de tutela a caractere não unicamente "material", mas também "processual", e que precisa ser respeitado não unicamente na disciplina do relacionamento obrigacional codificado no contrato, mas também em curso funcional de qualquer ação judiciaria avente a objeto a tutela do mesmo relacionamento contratual, para evitar justamente que a parte traia vantagem a partir de uma situação de dolo ou abuso do direito [6].
O abuso do direito e a exceptio doli não se concretizam unicamente no exclusivo princípio de não laedere aos outros, mas se concretizam também na neutralização do uso objetivamente anormal do próprio Direito, prescindindo de qualquer indagação sobre estados subjetivos [7]. Em síntese, a exeptio doli generalis preclui o exercício fraudulento ou desleal dos direitos previstos e estatuídos pelo ordenamento jurídico, com a finalidade de paralisar a eficácia de um ato ou de justificar a rejeição da demanda judicial fundamentada no próprio ato. Assim, a violação do princípio da boa-fé objetiva (lealdade, honestidade e integralidade) é em si suficiente a fundamentar a rejeição de qualquer demanda judiciária que — por todos os seus específicos pressupostos — se não pela situação de abuso e (ou) dolo mereceriam acolhimento!
Em palavras simples, o ordenamento jurídico consegue tutelar também aquela situação de ilegítima ou abusiva "coerção" de um contrato de deposito ou escrow tornado (por interesse de uma única parte) forma ilegítima de penhora e (ou) expropriação do objeto da custódia!
[1] ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988
[2] PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil, I, Forense, 2022
[3] COUTO E SILVA, CLOVIS. A obrigação como processo, FGV Editora, 2006.
[4] MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo, RT, 2019.
[5] MARTINS-COSTA, Judith, A boa-fé no Direito Privado, São Paulo, 2015
[6] A doutrina, desde sempre, individua dois tipos de exceptio doli, dependendo do tipo de fonte que produz e determina a situação de dolo: (i) generalis, quando o comportamento doloso se refere a atos de caractere negocial; e (ii) specialis, quando refere – de forma específica – aos atos decorrentes. Inútil evidenciar como a situação determine a grave consequência da insegurança jurídica, além do prejuízo à outra parte contratual.
[7] PORTALE. G.B. Impugnative di bilancio ed exceptio doli, em Giur Comm. 1982, I, spec. 421.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


