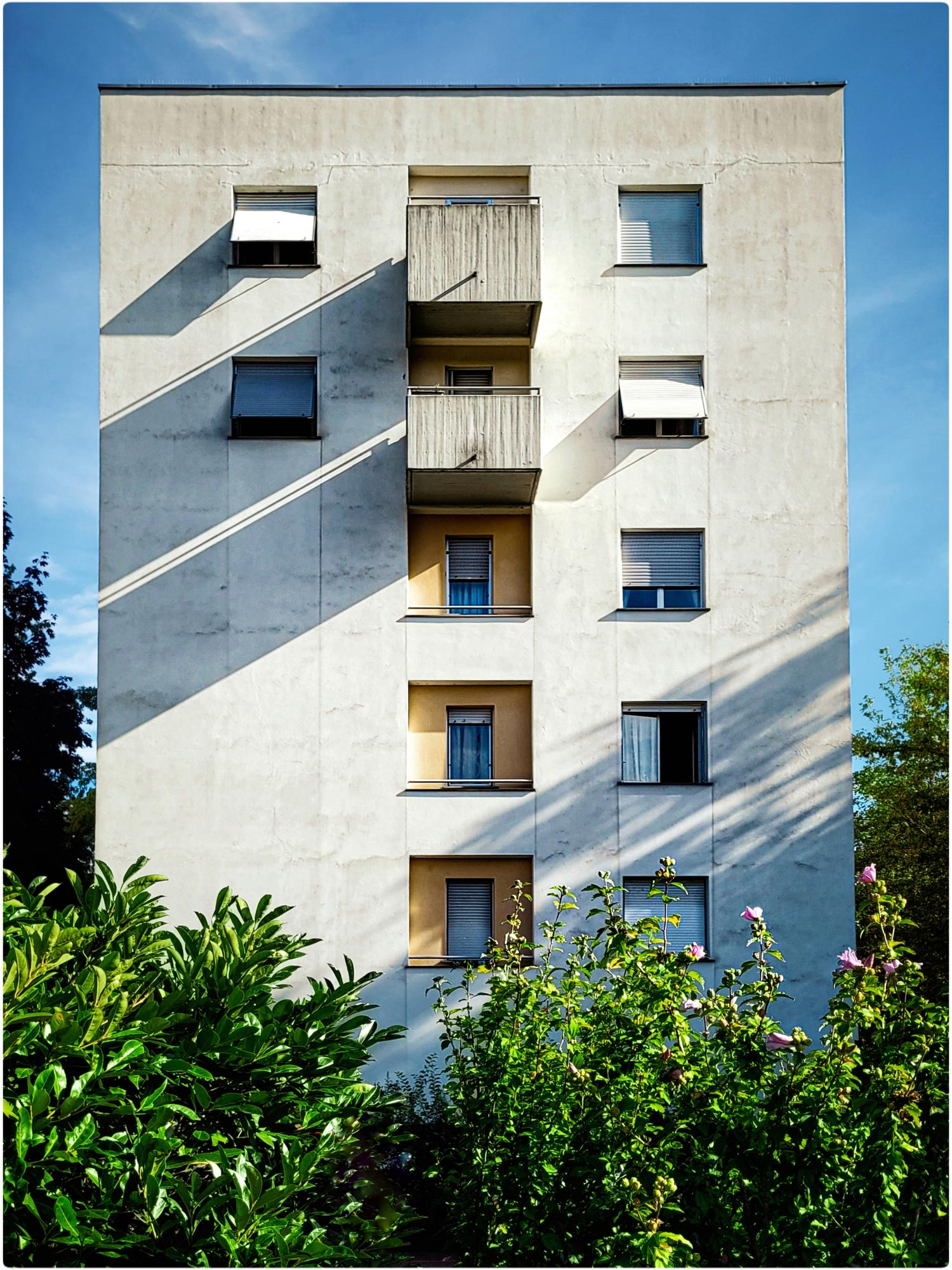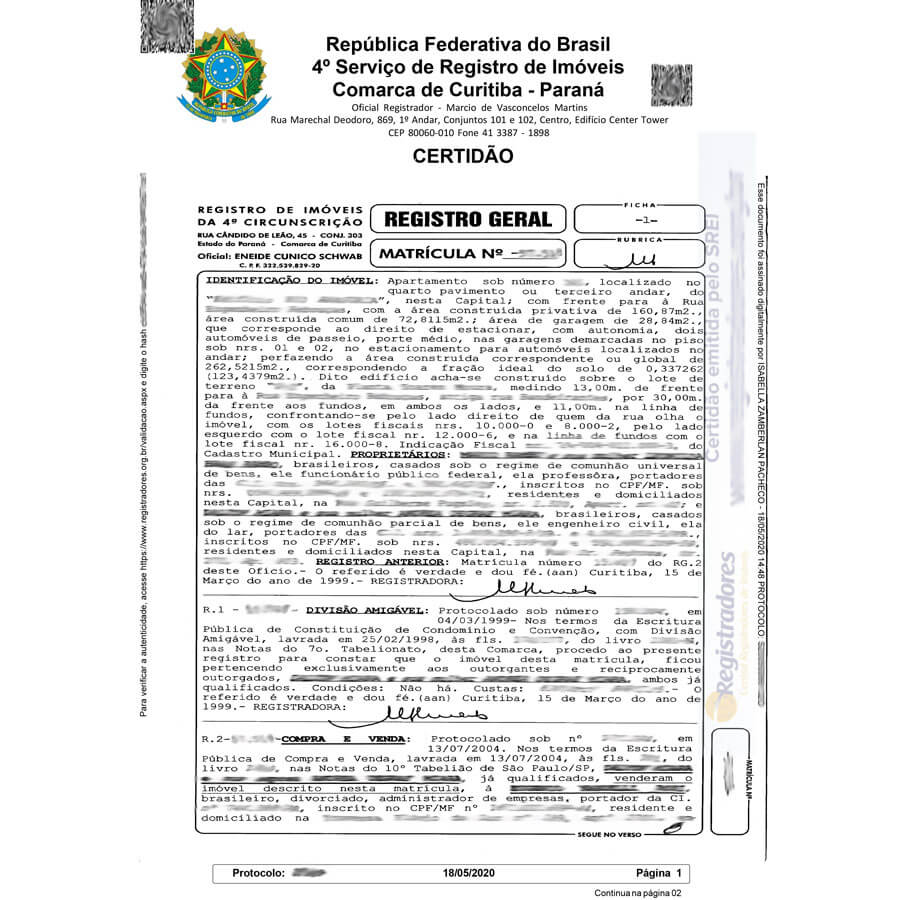Locatário pode renunciar antecipadamente ao direito de preferência na locação?
26 de dezembro de 2023, 20h41
Sem muita digressão, a resposta para essa pergunta é exatamente a seguinte: a cláusula que prevê a renúncia antecipada do locatário ao seu direito de preferência na aquisição do imóvel locado é nula de pleno direito e isso se dá pelas razões que estão expostas abaixo.
Fernando Pessoa, poeta e filósofo português, certa vez disse que “a renúncia é a libertação. Não querer é poder”. A renúncia é um ato jurídico que existe no direito brasileiro, mas que se afasta daquilo que normalmente se procura: adquirir direitos ou resguardar e manter os direitos que já se possui.

O ato da renúncia, nas palavras de Marcella Campinho Vaz, “deve ser interpretado como um verdadeiro ato de vontade, sendo ele, por si só, um ato de escolha, devendo-se afastar a sua menção como um mero resultado indireto de outro ato” [1]. Quer dizer, no mundo do direito não se aplica a máxima de “cada escolha, uma renúncia”. Isso se dá pelo fato de que a renúncia tem como finalidade a eliminação do vínculo que existe entre o sujeito de direito que o renuncia e o direito renunciado. Com a renúncia haverá, necessariamente, a perda da titularidade daquele direito e isso deixa claro e evidente que o ato de renunciar tem a função única e exclusiva de abdicar de um direito.
Importante, aliás, saber que o ato de renúncia tem a natureza jurídica de negócio jurídico e isso se dá por se tratar de “uma declaração de vontade que demanda um maior controle valorativo, sendo determinado, para isso, o efeito essencial da perda de direitos que deverá ser almejado pelo agente renunciante” [2].
Segundo Anderson Schreiber, “tanto o ato jurídico em sentido estrito quanto o negócio jurídico são atos voluntários do homem, mas, enquanto no ato jurídico em sentido estrito, o efeito jurídico independe da intenção do agente, no negócio jurídico, o efeito jurídico somente se verifica se tiver sido pretendido pelo agente”. Traduzindo o juridiquês, significa que a renúncia é um negócio jurídico uma vez que se verifica claramente o efeito negocial pretendido pelo agente: se desfazer de direito cuja titularidade ele detém. Mais especificamente, a renúncia é um negócio jurídico de disposição extintivo ou abdicativo.
Apesar de existirem inúmeras referências na doutrina e na jurisprudência à chamada “renúncia translativa” (que seria passar o direito para outra pessoa — o famoso “renunciar em favor de alguém”), esse ato não poderia ser considerado propriamente uma renúncia, mas um ato puro e simples de transmissão de direitos — seja gratuita ou onerosa [3]. Percebam que a transmissão do direito pode ocorrer em decorrência da renúncia, mas é apenas um mero efeito que dela decorre, não a sua finalidade. A finalidade da renúncia é abdicar de um direito e ponto final.
Os próprios tribunais assumem a existência de uma renúncia translativa, cuja finalidade seria transmitir o direito. Em seu livro, Marcella Campinho Vaz menciona um caso muito interessante em que o STJ [4] trata da renúncia pelos filhos à herança do pai falecido com o objetivo único de transmitir tais direitos à mãe (aplicando-se o artigo 1.810 do CC). No referido caso, após os filhos realizarem a renúncia da herança surgiram outros filhos — até então desconhecidos — que se habilitaram como herdeiros no inventário. Assim, diante dessa nova realidade, ao invés da herança ir para a mãe após a renúncia — como planejado pelos filhos –, os novos herdeiros passariam a ter direito ao quinhão renunciado. Por essa razão, os herdeiros renunciantes ajuizaram ação para declarar a nulidade do negócio jurídico de renúncia pelo vício de erro [5], visto que a finalidade pretendida com a renúncia não havia sido alcançada em razão do desconhecimento de que existiam outros herdeiros e que, com isso, o quinhão não iria para a mãe como pretendido. Essa alegação foi erroneamente acolhida pelo STJ por entender que houve mudança da situação fática que justificou a renúncia pelos filhos. Segundo o STJ, houve erro substancial visto que, se soubessem da existência dos outros herdeiros, os filhos não renunciariam à herança.
Ao revés do que entendeu o STJ, vejam que a finalidade da renúncia não é transmitir o direito à herança para a mãe, mas abdicar do direito — que, por via de consequência, levaria à transmissão da herança à mãe se não existissem os demais herdeiros. Sendo assim, é bastante claro que ao renunciar à herança, a finalidade foi devidamente alcançada — abdicar da herança —, não havendo falar sobre vício do erro. A transmissão do direito à mãe era mero efeito decorrente da abdicação do direito pelos herdeiros, não a sua finalidade. Se a intenção fosse a transmissão do direito, não deveria ser feita por meio de uma renuncia, mas por meio de uma cessão de direitos hereditários, devendo ser recolhido o ITCMD tanto em razão do recebimento da herança (quando do falecimento do pai), quanto pela cessão dos direitos à mãe. Quando há “renúncia”, apenas quem recebe a herança, no fim das contas, é que pagará o ITCMD.
Sendo assim, não seria correta a exclusão do “risco assumido pelo agente renunciante em relação às possíveis consequências de seu ato” [6]. Dessa forma, conclui Campinho, “diante da sua função meramente abdicativa, enquanto o efeito essencial do ato de renúncia será apenas a perda do direito, os eventuais efeitos reflexos serão produzidos independentemente da vontade do declarante e não parecem passíveis de questionamento, tais como os introduzidos pelo instituto do erro” [7].
Levando-se em conta que a função da renúncia de direitos é simplesmente abdicar do direito, é fácil de concluir que para abrir mão desse direito, primeiro é preciso tê-lo. Logo, não seria possível renunciar a “direitos eventuais”, espécie dos “direitos futuros”. Mas notem que não quer dizer que direito futuros nunca possam ser objeto de renúncia prévia; apenas que é fundamental entender qual espécie de direito futuro é passível de ser renunciado e como ela ocorre.
Os direitos futuros podem ser entendidos como aqueles que só serão verificados em concreto em momento futuro, como o próprio nome sugere. Nas palavras de Pereira Coelho, “direitos futuros sê-lo-ão desde logo todos aqueles direitos que não se encontrem (ainda) na esfera jurídica do respectivo titular” [8]. Mas ele pode ser subdividido em duas espécies.
Enquanto de um lado existe o direito futuro que, apesar de “já existir”, ainda não está plenamente formado na esfera dos direitos do seu titular em razão de uma condição [9] imposta; em outras palavras, direito que tem seus efeitos subordinados à implementação de um evento futuro e incerto, mas que é equiparado a um direito atual. De outro lado, existe o direito futuro que sequer existe ainda, sendo, portanto, um “direito eventual”, uma mera expectativa de fato, uma mera expectativa de que o direito venha a existir e que se constitua no conjunto de direitos de determinado sujeito.
No primeiro caso, “direito futuro já existente”, é possível haver a renúncia exatamente por que o sujeito já é titular de um direito cujos efeitos dependem de implementação de uma condição. Contudo, nos casos em que há um “direito eventual”, uma mera expectativa de fato, ou seja, expectativa de que algo aconteça e que, a partir daí, surja um direito para o sujeito, não é possível haver renúncia. Não há o que ser renunciado, visto que o sujeito ainda não é titular de qualquer direito. Nas clara explicação de Francesco Macioce, “o problema da renúncia ao direito futuro deve ser diversamente resolvido a depender se se refere tal conceito a um direito ainda não surgido ou a um direito já surgido, ainda que condicionado” [10].
Pois bem. Após uma breve introdução teórica acerca do ato de renúncia, como fica a cláusula de renúncia prévia ao direito de preferência nos contratos de locação de imóveis urbanos?
Nos contratos de locação de imóveis urbanos, negócio jurídico regido pela Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações), o locatário possui o direito de ter a preferência na aquisição do imóvel objeto da locação, em igualdade de condições, caso o proprietário-locador pretenda vendê-lo a terceiros estranhos à relação locatícia. Essa é uma regra geral nos contratos de locação – típicos ou atípicos – por força do artigo 27 [11] e seguintes da Lei de Locações.
Nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, o locador deverá comunicar ao locatário acerca da proposta recebida e essa comunicação deverá conter todas as condições do negócio, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente do imóvel e do negócio proposto.
Interpretando o artigo 27, caput e parágrafo único, chega-se à conclusão de que toda vez que o locador receber uma proposta de um terceiro interessado na aquisição, surgirá para o locatário a preferência de adquirir o imóvel nas mesmas condições. Aliás, se qualquer condição for alterada na proposta, ainda que de um mesmo terceiro interessado, “reiniciará” o prazo para o locatário exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel.
Ora, se sempre que houver uma proposta nova ou modificação de qualquer condição de uma proposta já recebida surge a preferência para o locatário adquirir, significa dizer que o direito de preferência somente surge nessa ocasião (quando recebida uma proposta de compra do imóvel por um terceiro interessado). Ou seja, antes de o locador receber uma proposta de um terceiro interessado, o direito de preferência não passa de uma mera expectativa de direito para o locatário, visto que o locador pode sequer receber qualquer proposta, não surgindo para o locatário qualquer direito de preferência a ser exercido.
Consequentemente, uma vez que o recebimento da proposta pelo locador é uma mera expectativa de fato, não há direito de preferência constituído para o locatário, fica evidente a impossibilidade de renunciar antecipadamente ao direito de preferência nos contratos de locação de imóveis urbanos.
Como se não bastasse essa explicação, há que lançar luz à nulidade da cláusula com fundamento em expressa disposição legal. Isso porque, “pelo nosso sistema civil, o negócio jurídico é nulo nos termos do art. 166 do Código. Desse modo, além de a nulidade decorrer de falta de agente capaz, da ilicitude ou impossibilidade do objeto ou da preterição da forma legal, será nulo o negócio quando a lei taxativamente o declarar nulo (art. 166, VII)”. E é exatamente o que acontece no presente caso.
O artigo 45 da Lei de Locações menciona expressamente que são nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Segundo Silvio de Salvo Venosa, “[é] nula, de acordo com o art. 45, qualquer cláusula que vise elidir esse direito do locatário” [12].
Sendo assim, a cláusula de renúncia antecipada ao direito de preferência afronta os objetivos da Lei de Locações, razão pela qual essa cláusula seria considerada nula de pleno direito, por força do artigo 45.
Dessa forma, não restam dúvidas que é inválida a cláusula nos contratos de locação regidos pela Lei de Locações que ajuste a renúncia antecipada do direito de preferência do locatário — seja em razão da impossibilidade de se renunciar a um direito que não se tem, seja em razão da aplicação do artigo 45 da Lei de Locações.
Referência bibliográfica
MACIOCE, Francesco. Il negozio di rinuncia nel diritto privato. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1992, p.189-190;
PEREIRA COELHO, Francisco Manuel de Brito. a renúncia abdicativa no Direito Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 149
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, t. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 216;
SCHREIBER, Anderson. In: Código Civil comentado – Doutrina e jurisprudência. Anderson Schreiber [et al.]. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2019, p.87;
VAZ, Marcella Campinho. Renúncia de Direitos: limites e parâmetros de aplicação no direito civil. Rio de Janeiro: Editora Processo. 2022
VENOSA, Sílvio de S. Lei do Inquilinato Comentada – Doutrina e Prática. 16ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2021
[1] VAZ, Marcella Campinho. Renúncia de Direitos: limites e parâmetros de aplicação no direito civil. Rio de Janeiro: Editora Processo. 2022
[2] VAZ, Marcella Campinho. Renúncia de Direitos: limites e parâmetros de aplicação no direito civil. Rio de Janeiro: Editora Processo. 2022, p.56.
[3] De acordo com Pontes de Miranda, “A renúncia é abdicativa, não, porém, translativa; se o fosse, confundir-se-ia com a alienação, a transferência” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado, t. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 216).
[4] STJ, 4ªT., REsp 685.465/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/10/2015, v.u., DJ 25/11/2015.
[5] O erro é um defeito do negócio jurídico atrelado ao vício do consentimento. Segundo Anderson Schreiber: “Erro ou ignorância é a falsa representação da realidade que influencia a declaração de vontade do agente. […] O efeito do erro é tornar anulável o negócio jurídico celebrado”. (SCHREIBER, Anderson. In: Código Civil comentado – Doutrina e jurisprudência. Anderson Schreiber [et al.]. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2019, p.87)
[6] VAZ, Marcella Campinho. Renúncia de Direitos: limites e parâmetros de aplicação no direito civil. Rio de Janeiro: Editora Processo. 2022, p.42
[7] VAZ, Marcella Campinho. Renúncia de Direitos: limites e parâmetros de aplicação no direito civil. Rio de Janeiro: Editora Processo. 2022, p.42
[8] PEREIRA COELHO, Francisco Manuel de Brito. a renúncia abdicativa no Direito Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 149.
[9] Nos termos do art. 121 do Código Civil, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.
[10] MACIOCE, Francesco. Il negozio di rinuncia nel diritto privato. Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 1992, p.189-190.
[11] Art. 27. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar – lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca.
[12] VENOSA, Sílvio de S. Lei do Inquilinato Comentada – Doutrina e Prática. 16ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2021.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!