"Em nome da liberdade individual, Direito Civil pré-88 deu salvo-conduto a abusos"
17 de março de 2019, 8h00
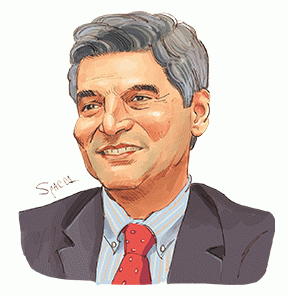 Com a importância dada a princípios como os da igualdade, dignidade da pessoa humana e solidariedade, a Constituição Federal de 1988 forçou o Direito Civil a confrontar práticas abusivas e discriminatórias. Quem afirma é o professor de Direito Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Gustavo Tepedino, sócio do Gustavo Tepedino Advogados.
Com a importância dada a princípios como os da igualdade, dignidade da pessoa humana e solidariedade, a Constituição Federal de 1988 forçou o Direito Civil a confrontar práticas abusivas e discriminatórias. Quem afirma é o professor de Direito Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Gustavo Tepedino, sócio do Gustavo Tepedino Advogados."Em nome da sua liberdade, que todos prezamos, ]sou um defensor da autonomia privada, no fundo conseguíamos uma espécie de salvo-conduto para que, nos espaços privados, fizéssemos o que queríamos. A família permanecendo com machismo, as relações de consumo com abuso dos fornecedores, a propriedade excluindo todos aqueles que não tinham acesso a esses bens essenciais. De alguma maneira, o Direito Civil, diante desses novos princípios – da solidariedade, da dignidade, da igualdade – passou a perceber que também nos espaços privados, onde a autonomia privada e a liberdade têm que ser defendidas e promovidas, o respeito à dignidade deve ser o mesmo. O mesmo respeito que se tem na rua tem que se ter no quintal da casa de cada um."
Como procurador da República, Tepedino atuou na demarcação de terras indígenas no Rio nos anos 1990. Ele discorda da visão do governo Bolsonaro de não reservar áreas para índios e rever territórios já protegidos. No entanto, defende maior assistência aos indígenas por parte do Estado e de organizações da sociedade civil.
Com relação ao uso do nome social por pessoas trans, o professor da Uerj destaca que a questão precisa ser melhor regulamentada. Isso porque há áreas em que ser homem ou mulher muda o tratamento jurídico conferido à pessoa – como na Previdência, que tem regras diferentes para os sexos.
No fim de 2018, entrou em vigor a Lei 13.777/2018, que disciplinou a multipropriedade. A norma foi fortemente inspirada na tese de Gustavo Tepedino, como lembra o colunista da ConJur Otavio Luiz Rodrigues Junior. O professor da Uerj aprovou o resultado: “A lei permite ao Brasil alcançar uma nova etapa em termos de investimento imobiliário”.
Leia a entrevista:
ConJur — A Constituição fez 30 anos em 2018. Qual foi o seu impacto para o Direito Civil?
Gustavo Tepedino — A Constituição mudou profundamente a maneira de interpretar o Direito Civil. Até a Constituição de 1988, os textos constitucionais eram tidos como uma norma dirigida ao legislador ordinário. Você ia despachar com um juiz da vara cível e ele sequer tinha uma sobre a mesa. A Constituição não era considerada uma norma jurídica, eram só princípios endereçados ao legislador. E como a Constituição de 1988 foi uma Constituição muito analítica, que diretamente criou princípios vinculativos não só para o legislador e não só para o Estado-legislador, o Estado-juiz, mas também para os particulares, acerca da propriedade, da família, princípios e normas que, de maneira geral, dizem respeito a matérias de Direito Privado.
Essa alteração do texto constitucional de alguma maneira instigou a doutrina de Direito Civil a criar métodos de interpretação capazes de tornar a Constituição mais eficaz nas relações de Direito Civil e Direito Privado. Então esse esforço, que eu vou chamar de metodológico, foi superar uma primeira impressão, que era o fato do legislador constituinte ter sido atécnico e, assim, ter se metido onde não era chamado. Isso por ter tratado de família, de propriedade.
ConJur — Muitos criticam o detalhismo da nossa Constituição. Não seria melhor um texto mais enxuto, uma "carta de princípios"?
Gustavo Tepedino — Ao contrario, o que se viu é que era um compromisso histórico que o Brasil teve, que decorre das suas próprias falhas. Não se precisa garantir direito à vida em um país onde se respeita a vida, não se precisa garantir o direito à integridade psicofísica em país em que a saúde é respeitada. As nossas próprias falhas, de alguma maneira, levaram um compromisso histórico no qual a Constituição foi muito intervencionista. Portanto, essa profunda alteração se deu quando os profissionais do Direito, doutrinadores, magistrados passaram a verificar na Constituição uma norma, aplicável diretamente às relações privadas. Por outro lado, muitas pessoas perguntam: "Mas sempre houve princípios, sempre houve texto constitucional, o que nessa Constituição tinha de tão relevante que passa a ter esse impacto nas relações privadas, isso para além da própria preocupação analítica, intervencionista do constituinte?".
ConJur — E qual a resposta?
Gustavo Tepedino — Algumas circunstâncias históricas influenciaram essa alteração de rota do Direito Civil. Uma delas é o fato de a dignidade da pessoa humana, da solidariedade social, buscar a igualdade substancial, ou seja, igualdade para além da igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, como está no artigo 5º, a igualdade no sentido de diminuição das desigualdades regionais e sociais em busca da verdadeira igualdade, esses princípios, ao serem incluídos no texto constitucional como princípios fundamentais vinculativos, não só do Estado, que tem que garantir tudo isso, mas também dos particulares, leva o interprete do Direito Privado a um certo compromisso.
ConJur — Qual?
Gustavo Tepedino — Vincular também os espaços de liberdade, da propriedade privada, espaços contratuais, espaço das relações familiares, ao cumprimento desses deveres constitucionais. É como se, ao final do século XX, o Direito Constitucional pudesse se vangloriar de uma série de conquistas admiráveis da democracia, como a liberdade de ir e vir, liberdade de voto, igualdade entre homem e mulheres, liberdade de acesso a informação.
E o Direito Civil, por outro lado, deveria se envergonhar. Em nome da sua liberdade, que todos prezamos, sou um defensor da autonomia privada, no fundo conseguíamos uma espécie de salvo-conduto para que, nos espaços privados, fizéssemos o que queríamos. A família permanecendo com machismo, as relações de consumo com abuso dos fornecedores, a propriedade excluindo todos aqueles que não tinham acesso a esses bens essenciais. De alguma maneira, o Direito Civil, diante desses novos princípios, passou a perceber que também nos espaços privados, onde a autonomia privada e a liberdade têm que ser defendidas e promovidas, o respeito à dignidade deve ser o mesmo. O mesmo respeito que se tem na rua tem que se ter no quintal da casa de cada um. Essa foi a grande transformação que passou a sensibilizar a magistratura para aplicar diretamente a Constituição e os princípios constitucionais nas relações interprivadas.
ConJur — Qual foi o papel do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça na construção do Direito Civil pós-Constituição de 1988?
Gustavo Tepedino — O STJ teve um papel relevantíssimo. Ele assumiu competências que eram do Supremo. O Supremo tem um papel importantíssimo no sentido de, em última análise, garantir as liberdades fundamentais das relações privadas, como matéria de família, de sucessão ou de proibição de prisão civil por divida. O Supremo teve uma grande importância e tem tido uma repercussão nacional. Mas no dia a dia o STJ, a quem se atribuiu competência mais de perto para as matérias do Direito Civil, deu uma guinada enorme no que tange à responsabilidade civil, à propriedade. O STJ passou a utilizar os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade no dia a dia das suas decisões.
A importância dos tribunais superiores foi essencialmente no sentido de definir a aplicabilidade dos princípios nas relações intersubjetivas. Tradicionalmente, o Direito Civil lidava com regras, e essas regras eram fazer ou não fazer, dar ou não dar. Eram regras aparentemente claras. E os princípios, que respondem a uma técnica das cláusulas gerais, são muito abertos. Isso gerava certa insegurança na magistratura. Afinal, qual o conteúdo que esses princípios hão de ter na prática? Todos têm dignidade, autor e réu, todos merecem solidariedade, autor e réu. Os tribunais superiores foram dando conteúdo aos princípios e ás clausulas gerais, densificando esses princípios, que eram muito fluidos, fazendo com que a construção da legalidade constitucional, que é a legalidade do Direito Civil à luz da Constituição que incorpora esses princípios, tivesse um conteúdo mais denso, mais especifico, para o caso concreto. Então, a importância dos tribunais superiores foi enorme no sentido de efetivamente garantir a aplicação dos princípios constitucionais e das clausulas gerais das leis infraconstitucionais com um sentido de alguma maneira homogêneo com os valores do sistema jurídico.
ConJur — Alguns criticam esse excesso de princípios da Constituição. Segundo eles, isso dá margem para o juiz decidir como ele quiser. Por exemplo, o princípio da vedação ao retrocesso pode ser alegado para fundamentar praticamente qualquer posição. Como avalia essa crítica?
Gustavo Tepedino — Em alguma medida, a crítica é pertinente. Porque quando se dá poder para alguém decidir, sempre se corre o risco de certo subjetivismo. Na medida em que a sociedade fica cada vez mais complexa, o legislador constituinte, e o legislador de maneira geral, do Código do Consumidor, Código Civil, passa a utilizar conceitos abertos, que são as clausulas gerais. O legislador transfere ao magistrado um poder de definir, decifrar, densificar esse conteúdo prescritivo tão geral. Então corre-se o risco de subjetivismo.
ConJur — O que fazer, então?
Gustavo Tepedino — Na sociedade democrática, esse risco vai sendo debelado com a fundamentação, com a argumentação, com a persuasão, com a possibilidade de recursos, e é isso que tem ocorrido. Se nós tomarmos o princípio da boa-fé objetiva, que foi introduzido nos anos 1990 pelo Código do Consumidor, vamos ver que, no primeiro momento, há certo romantismo na interpretação da boa-fé, como se os contratantes fossem ter uma relação de cordialidade. Claro que isso não ocorreu. As pessoas estão em litígio, têm interesses conflitantes. Então o conteúdo das cláusulas gerais, como no caso da boa-fé, vai sendo definido por padrões de comportamento que o Judiciário passa a considerar lícitos ou ilícitos, abusivos ou não abusivos, merecedores de tutela ou não merecedores de tutela. E através da fundamentação o juiz permite que a sociedade veja por que ele chegou àquela conclusão. E através dos recursos se permite uma discussão em várias instâncias.
ConJur — Após mais de 15 anos em vigor, como o senhor avalia o Código Civil?
Gustavo Tepedino — O Código Civil tem alguns problemas de difícil solução. Refiro-me à matéria sucessória, à matéria de família. Por exemplo, o tratamento da matéria de família se dá todo em torno do casamento, e havia um artigo que tratava da união estável entre homem e mulher. Tivemos uma dificuldade enorme para absorver a evolução social, porque temos milhares de famílias brasileiras que são monoparentais, famílias de pessoas do mesmo sexo, arranjos familiares dos mais variados, e um Código Civil em torno da monogamia e do casamento. Isso se reflete na sucessão do cônjuge, do companheiro. Todas essas dificuldades acabaram sendo levadas ao Supremo, que evidentemente não é a melhor instância para regulamentar uma matéria como essa. Acaba que as soluções em matéria de sucessão não são definitivas. Temos segurança social com uma alteração legislativa.
Um exemplo: decidiu-se que o companheiro tem igualdade de direitos na sucessão em relação ao cônjuge, mas o Supremo não decidiu ainda se o companheiro é o herdeiro necessário, porque existe um artigo que não o inclui. Então pergunto: será que por testamento seria possível excluir o companheiro? Alguns dizem "claro que não, senão estaríamos desobedecendo o que o Supremo disse". Mas o Supremo não disse isso.
Outro exemplo: união de pessoas do mesmo sexo. O Supremo não disse que autorizava o casamento, foi a interpretação feita no dia seguinte. E o Supremo deu uma volta técnica muito complexa. Naquela altura houve duas ações, houve uma ADI que depois acabou prevalecendo, determinando que a interpretação do Código Civil seria inconstitucional se não fosse a interpretação dada pelo Supremo. Ou seja, a inconstitucionalidade do artigo do Código Civil que dizia exatamente o que a Constituição dizia. O Supremo preferiu esta via do que a outra, que era a via da ADPF na qual se dizia que o Código Civil tem todo o direito de regular a união de pessoas do mesmo sexo. Isso não impede que as pessoas do mesmo sexo também tenham sua união.
Note então nesses dois exemplos como o Supremo não é nem a instância adequada, nem ali necessariamente estão os especialistas em matéria do Direito Privado para resolver essas questões. Melhor seria isso ocorrer pelo Parlamento. Em matéria de sociedade limitada também há vários problemas. Penso que esses problemas devem ser resolvidos, como estão sendo resolvidos, ora pela jurisprudência, ora por alterações legislativas pontuais, e não com uma mudança radical de um código. Em geral, a sociedade incorporou o Código Civil, e temos tido bons frutos. A jurisprudência hoje é uma jurisprudência de que o Direito é progressista em matéria de Direito Privado.
ConJur — Com medo de que o presidente Jair Bolsonaro proíba o casamento gay, diversos casais de pessoas do mesmo sexo estão correndo aos cartórios para formalizar suas uniões. Mas uma lei teria poder para proibir o casamento gay ou a união estável homoafetiva no país? Ou a decisão do Supremo prevaleceria sobre essa nova lei?
Gustavo Tepedino — A decisão do Supremo prevalece. Mas é claro que, às vezes, uma lei pode driblar uma decisão do Supremo regulando indiretamente a matéria. Mas aí temos os princípios constitucionais. O princípio da igualdade e o princípio da solidariedade são suficientes para fazer com que cada pessoa organize a sua vida como bem entender, como uma expressão da liberdade individual, de tal maneira que as questões religiosas, as preferências políticas não podem interferir na forma de organização da sua vida. Essa é a liberdade individual na Constituição. Portanto, qualquer norma restritiva, que atentasse contra esses direitos seria inconstitucional. Mas as matérias reguladas por leis futuras não necessariamente estão cobertas por aquela decisão do Supremo. A decisão do Supremo tem o espectro determinado. Por isso é importante, às vezes, o legislador ser firme na garantia de preceitos constitucionais e na garantia de modos de vida que tragam estabilidade para as relações sociais.
ConJur — Mas como uma lei poderia driblar essa decisão do Supremo?
Gustavo Tepedino — Em alguns países existem, ao lado do casamento, outras relações que não são de casamento, próprias para pessoas do mesmo sexo. Haveria uma discussão neste caso se estariam ferindo a igualdade. Se a sua resposta fosse no sentido de que o casamento tem peculiaridades que mais se ajustam a um modelo tradicional, talvez pudesse conviver como em alguns outros países, como na Alemanha, na França, que são países desenvolvidos e convivem com modelos de famílias diferentes. Mas aqui nós não temos muitas opções de família. Um importante juiz italiano, Francesco Prosperi, nos anos 1970 escreveu uma monografia dizendo que, em matéria de família, nós tínhamos um gosto paradoxal: todos falam mal da família, desse modelo tradicional, do casamento, e todos querem casar, querem todos os modelos de vida. Por exemplo, o poliamor. Eu fui participar de um debate com a tabeliã Fernanda Leitão, que havia feito aquela polêmica escritura da família de três mulheres, e o Eduardo Jardim, o jornalista que fez aquela série Amores Livres. Foi muito rica essa discussão. Aí a gente vê como, curiosamente, pessoas que têm um modo de vida bastante diferente daquele que é o modo de vida planejado pelo codificador buscam muitas vezes o casamento. O que de alguma maneira nos faz pensar que cada um se organiza como quer organizar. E cabe ao legislador oferecer o maior possível número de modelos para que cada um seja feliz.
ConJur — Quem é contra a união estável homossexual ou ao casamento gay argumenta que a Constituição, no artigo 226, estabelece que essas relações são formadas entre homem e mulher. Mas o ministro Luís Roberto Barroso sustenta que em alguns casos, como nesse em que o Supremo autorizou a união homoafetiva, as supremas cortes têm o papel de fazer avançar a história, possivelmente até decidindo contra a letra da lei. Concorda? O Supremo pode assumir esse papel "iluminista", como diz o ministro?
Gustavo Tepedino — Aí a gente tem duas questões. A primeira se refere ao caso concreto. O ministro Barroso, na época professor, e eu demos os dois pareceres para os autores da ADPF. Não entramos com ADI, não concordei com ela. Achei que seria melhor entrar com ADPF porque, afinal, o texto constitucional dizia aquilo. Então eu achava preferível dizer o seguinte: “A Constituição não pode ser, ela própria, inconstitucional. Então é mais simples a gente dizer que o fato de haver uma previsão constitucional da família fundada no instituto do casamento de pessoas de sexos diferentes não impede que todos tenham direitos iguais de construírem os seus arranjos familiares da forma como quiserem por igualdade, por solidariedade”.
É uma forma de interpretar que mantém o texto constitucional e utiliza outros princípios para realizar a medida. Então, no que tange à interpretação da Constituição, uma coisa é dar maior efetividade a ela, criando outro modos de vida ou padrões de comportamento que não estão diretamente regulados, mas que atendam aos mesmos princípios e valores constitucionais. A outra coisa, que houve discussão da Filosofia do Direito, bastante ampla, é quanto aos limites do magistrado. O ministro Barroso tem tido essa discussão no seio do próprio Supremo Tribunal Federal. Talvez a via intermediária seja que o juiz não pode ser a boca da lei, mas, ao mesmo tempo, não pode legislar. Esse tem sido um debate nacional. Talvez a via intermediária seja dar o máximo possível de eficácia aos princípios constitucionais, para extrair ao máximo as potencialidades do legislador sem criar uma crise com o legislativo, sem transformar o intérprete e o juiz em legisladores.
ConJur — Como procurador da República, o senhor atuou na demarcação de duas terras indígenas no Rio de Janeiro, em Bracuí e Paraty Mirim. Como avalia a posição do governo Bolsonaro contra a demarcação de terras indígenas?
Gustavo Tepedino — Difícil falar de posições do governo Bolsonaro, porque muitas das posições de campanha estão sendo ou revistas ou a gente não sabe se são para valer. No que tange às terras indígenas, hã coisas julgadas em algumas questões, como a Raposa Serra do Sol, e que, portanto, não podem ser alteradas. Agora, talvez a gente pudesse prestar um serviço à sociedade ao tentar esclarecer um pouco mais o que há de fundamental para os índios, que é manter a sua natureza, os seus direitos fundamentais, e ao mesmo tempo não fazer com que isso seja uma forma de abandonar os índios à própria sorte, como diz o general Heleno. De fato, não podemos pregar igualdade e respeito aos índios abandonando-os à mendicância ou às mãos de grileiros ou de donos de garimpo. Se você olhar para Bracuí e Paraty Mirim, onde eu ajudei na demarcação, os índios estão se tornando mendigos ali, sem nenhum apoio nem de órgãos governamentais, nem da sociedade civil. Isso favorece um maniqueísmo da discussão. Então a gente tem que respeitar os índios, afastar qualquer tentativa de afirmar que o ideal para eles seja a sua colonização aos modos brasileiros, mas temos também que reconhecer que nós não demos garantia de vida digna a muitas tribos, e elas não podem ser abandonadas à própria sorte ao argumento de que assim nós demos liberdade, porque essa é uma falsa liberdade.
ConJur — Também como procurador da República, o senhor atuou na defesa dos direitos humanos dos atingidos pela operação Rio, dos militares na capital fluminense nos anos 90. Em 2018, militares assumiram o comando da segurança do Rio. Com isso, houve o maior número de mortes causadas por intervenção policial da história. As forças de segurança no Brasil respeitam os direitos humanos?
Gustavo Tepedino — Infelizmente, a nossa história é uma história de desrespeito aos direitos humanos. A história policial e da investigação brasileira é uma história muito vinculada à tortura. É triste isso, mas se você pensar na quantidade até de piadas macabras que há acerca das investigações no Brasil tem-se na percepção popular que, sem violência, não se consegue arrancar a verdade de ninguém. Nos anos 1990, eu fiquei realmente assustado com a operação Rio. O que se viu foi que houve tortura até dentro de uma igreja no Morro do Borel [zona norte do Rio]. Na época, eu disse ao cardeal Eugênio Sales que nem o nazismo tinha feito isso nas igrejas dos países invadidos. E a sociedade tem a falsa impressão de que isso dá segurança. Nós vimos aqui no estado do Rio que não houve nenhum planejamento [na intervenção federal na segurança do estado], não houve nenhum índice confiável de melhora. Só teve aumento nas mortes causadas por atuações da polícia, que talvez possa nos dar uma sensação boa de vingança, mas infelizmente isso não dá segurança para o cidadão. Está na hora de aprimorar a nossa política de segurança sem necessariamente passar pelo "olho por olho, dente por dente", por práticas altamente condenáveis. Lamentavelmente, falar de direitos humanos hoje parece que é falar a favor dos criminosos. Se violência por violência e desrespeito aos direitos humanos melhorasse a segurança, nós seríamos hoje uma Suíça, uma Dinamarca, um país com grande tranqüilidade. E nunca tivemos isso.
ConJur — Outra questão também está bastante em voga ultimamente é a do nome social de pessoas trans. Como conciliar isso com, por exemplo, a Previdência, que tem regras diferentes para homens e mulheres? Ou com a identificação social. Por exemplo, na relação com credores. Uma pessoa é conhecida por um certo nome associado a um gênero e tem dívidas, daí ela muda de nome e de gênero. Como evitar que, nesse cenário, os credores saiam prejudicados?
Gustavo Tepedino — Eu acho muito difícil quem queira superar a questão do gênero. Em alguns momentos, a sociedade precisa de uma definição. Muitos sustentam que o gênero tem que aquele ao qual a pessoa se sente pertencer. Mas isso muitas vezes não é definitivo, o que gera insegurança social. Não é uma solução simples. O gênero ainda tem importância para uma serie de regulamentações e de normas. Penso que deve prevalecer o gênero que foi definido pela lei ou admitido pelas partes quando se contrata, de tal maneira que os vínculos assumidos devem respeitar esse gênero. Agora, em matérias como famílias, quando o sujeito muda de gênero, isso talvez seja menos grave do que em matérias patrimoniais ou de Direito Público. Com relação à Previdência, você disse bem, se a pessoa se sente mulher ou homem, o impacto pode ser diferente. Nos dias de hoje, deve prevalecer como consta no registro que se trabalhou. Ou, no caso concreto, o juiz tem que avaliar a colisão entre liberdade e excesso de liberdade. Mas não há resposta simples para a questão de gênero.
ConJur — A nova lei de arbitragem permitiu que disputas envolvendo a administração pública sejam resolvidas por procedimento arbitral. A seu ver, procuradores públicos estão preparados para representar o Estado em arbitragens?
Gustavo Tepedino — De maneira geral, tanto entre os advogados como entre os procuradores do Estado, existem profissionais muito competentes profissionais e profissionais não tão competentes. Não se deve ter um preconceito acerca do funcionário público. Quem for representar em arbitragem, seja advogado, seja procurador, tem que estudar e conhecer não só o direito substantivo sobre o qual se discute como a metodologia deliberativa da arbitragem. Não basta o sujeito ser um especialista em regulamento de arbitragem e não conhecer a questão de fundo que está se discutindo. Porque, no fundo, é um problema de direito que sempre existiu. Muitas pessoas se especializam nos regulamentos, mas não dominam a matéria a ser tratada. Não basta também dominar muito a matéria e ter o que a gente chama de vício do contencioso, que é criar muitas preliminares, muitas brigas, muitas discussões em questões que a gente espera que os árbitros julguem da forma mais célere possível.
ConJur — Dados de arbitragens envolvendo entes estatais devem ser públicos?
Gustavo Tepedino — É uma questão que tem sido debatida, porque existe uma questão de privacidade aí. Em alguns momentos, a lei exige publicidade. Em matéria privada, companhias abertas, a CVM exige um fato relevante, por exemplo. Quando um interesse público exigir a publicidade, tem que ser dada publicidade. Mas, por si só, pode se respeitar a privacidade quando ela ajuda na preservação do patrimônio publico e das questões concorrências. É preciso tentar conciliar, no procedimento arbitral, a discrição com uma certa publicidade, na medida em que a lei a exija para preservar interesses públicos.
ConJur — O sigilo das arbitragens restringe a divulgação de decisões e a formação da jurisprudência. Como avançar a jurisprudência na arbitragem?
Gustavo Tepedino — Você tem razão. Em matéria societária, que é muito ligada à arbitragem, há decisões primorosas que não são divulgadas. Já se tentou muito isso. Algumas câmaras internacionais divulgam casos. Talvez se pudesse fazer um esforço nas câmaras de pedir autorização para algumas partes para divulgação. Ou fazer um pedido de divulgação sem identificação dos nomes, de maneira que isso pudesse permitir o conhecimento de como as matérias foram julgadas. Isso tem sido um problema. A gente participa de arbitragem como arbitro, não pode revelar o caso e no outro dia tem decisões no sentido oposto – o que para muitos é bom porque dá liberdade de julgamento, mas evita uma certa coerência, o que é ruim. Então temos que pensar numa formula de compatibilizar a privacidade, que é pedida pelas partes, com o conhecimento da orientação para o tribunal.
ConJur — Árbitro se submete a precedentes vinculantes do Judiciário?
Gustavo Tepedino — Não, no sentido de que, evidentemente, ele é livre para interpretar. Mas a busca de coerência do sistema leva os árbitros a levar em conta o entendimento jurisprudencial. A exibição de decisões do STJ é muito bem-vinda, bem-vista e corriqueira, mas de fato o arbitro não está vinculado a essas decisões em termos práticos. Mesmo porque há decisões que são contrárias à própria lei, e se for abertamente contraria à lei, não se poderia decidir assim, mas a interpretação da lei quem dá é o arbitro. Então ele acaba tendo uma liberdade para além da discussão teórica. Ele tem liberdade de interpretar o fato.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


