"Governante que descumpre regras da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser punido"
8 de abril de 2018, 8h00
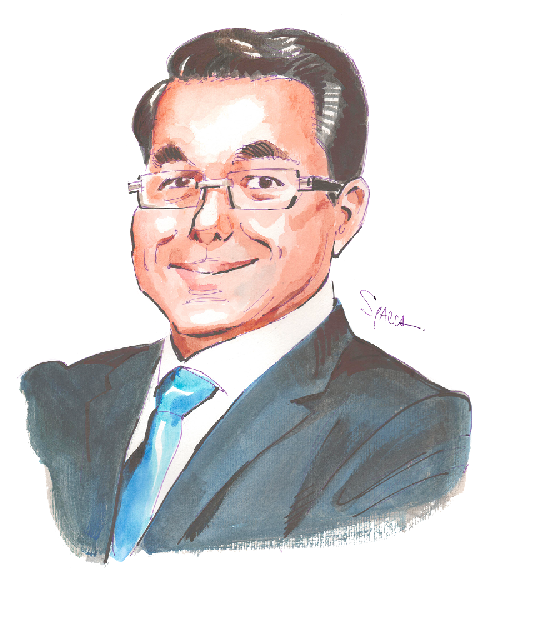
Considerada por especialistas a segunda norma mais importante do Brasil no período democrático, atrás apenas da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal ajudou a tirar a União e os estados do caos fiscal em que se encontravam. O passar dos anos fizeram com que a lei passasse a ser desrespeitada pelos governantes. Mas 18 anos depois de sua edição, o que a lei precisa é ser cumprida, e não reformada.
É o que avalia o desembargador Marcus Abraham, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Se há mudanças necessárias na LRF, são sanções mais duras para quem deixa de cumpri-la, afirma.
A violação das regras da lei para a concessão de benefícios fiscais contribuiu para a crise econômica e financeira de estados como o Rio de Janeiro, avalia Abraham, que também é professor da Uerj. Outro fator para a penúria fluminense, ressalta, é o fato de governantes terem encarado recursos variáveis como fixos, esquecendo que a bonança não dura para sempre.
Especialista em Direito Financeiro, o magistrado critica o pouco peso dado à matéria. Para ele, ela deveria ser obrigatória em faculdades de Direito e incluída no Exame de Ordem. Seria um passo importante para promover a educação fiscal das pessoas, destaca, o que lhes possibilitaria fiscalizar melhor os políticos.
Abraham, que lançou no fim de 2017 o livro Curso de Direito Tributário Brasileiro (GEN/Forense), defende a união de ICMS, ISS, IPI e PIS e Cofins dentro de um imposto de valor agregado, como existe nos EUA e em países europeus. A seu ver, isso ajudaria a simplificar o sistema tributário brasileiro.
Ele também é favorável a diminuir a carga que tributos sobre o consumo têm no Brasil. Como isso ajuda a promover desigualdade social, o desembargador sugere uma maior ênfase em impostos sobre a patrimônio e renda. Porém, sem que isso aumente a carga tributária total.
Em entrevista à ConJur, Marcus Abraham ainda disse não ser preciso extinguir o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins.
Leia a entrevista:
ConJur — Como o senhor avalia o ano de 2017 quanto às decisões judiciais sobre Direito Tributário?
Marcus Abraham — O ano de 2017 teve uma decisão que foi emblemática no Direito Tributário: a exclusão do ICMS da base de calculo do PIS e da Cofins, pelo Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, o caso ainda não terminou. Ele está agora em fase de embargos de declaração, interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No meio disso, há um pedido de modulação de efeitos. Nós, magistrados, aguardamos uma definição do alcance dessa decisão. Quando o julgamento foi concluído e houve, naquele momento, já um pedido da Fazenda de modulação, eu confesso que, nos primeiros meses, eu passei a aguardar uma definição, não apenas na modulação, mas de um aspecto muito mais importante, que é do alcance dessa decisão. O que integra a base de cálculo? Qual é o ICMS que vai ser excluído? Foi um julgamento importante, mas que ainda precisa de esclarecimentos.
ConJur — Qual seria uma modulação adequada para o caso?
Marcus Abraham — Foi pedido que se modulasse a partir do início de 2018. A modulação que vier, de alguma maneira, já estará atendendo a preocupação da Fazenda Nacional quanto aos efeitos financeiros dessa decisão.
ConJur — Alguns tributaristas estão afirmando que esse mesmo entendimento poderia ser estendido para o ISS. Faz sentido?
Marcus Abraham — Verdade, a mecânica desses dois impostos é relativamente a mesma, embora o ISS não tenha os efeitos da não cumulatividade. Mas em termos de fato gerador, a lógica é bem parecida. Portanto, é possível, sim, estender, a ratio decidendi que foi tomada em relação ao ICMS ao ISS.
ConJur — Muitos contribuintes reclamam das decisões do Carf tomadas por voto de qualidade, o que vem causando uma corrida de empresas à Justiça. É uma mudança de postura, não? O comum é que os contribuintes só procurem o Judiciário em casos atípicos, por causa da obrigatoriedade de depósito do valor em discussão.
Marcus Abraham — As discussões de Direito Tributário mudaram de perfil nos últimos anos. Antes de ser magistrado, fui procurador da Fazenda Nacional por 12 anos. Antes, fui advogado por 8 anos, na área tributária. Até o início da década de 2000, as discussões judiciais eram principalmente sobre a interpretação das normas constitucionais tributárias. Com o passar do tempo, o legislador e o Executivo compreenderam o espírito da Constituição de 1988, suas regras, seus princípios, seus valores, e passaram a elaborar normas tributárias de acordo com a Carta Magna. A partir de então diminuíram as demandas judiciais que envolviam exclusivamente questões de Direito, passando a questões fáticas, de autos de infração. Hoje, a maior parte das demandas envolve o lançamento tributário.
Portanto, vejo o Carf como um órgão extremamente importante para dirimir definitivamente essas questões na esfera administrativa, porque os autos de infração são originários da esfera administrativa. O Carf tem hoje uma importância até para diminuir a judicialização. O Judiciário está assoberbado com processos. Inequivocamente, isso prejudica o julgamento de casos que são tipicamente do Poder Judiciário.
O exemplo disso é a estatística aqui do tribunal. Temos aqui no TRF-2 duas turmas de Direito Tributário, quatro turmas de Direito Administrativo e duas turmas de Direito Criminal. As duas turmas tributárias têm o mesmo acervo que as quatro turmas de Direito Administrativo, e que não são só de administrativo, mas de Direito Administrativo e residual, que pega cível, pega uma série de outras áreas. Junto com isso, devo reconhecer que a atuação dos advogados tributaristas e procuradores da Fazenda Nacional é diferenciada. São processos que tem uma combatividade grande, pelos dois lados, e isso se deve a combatividade dos seus patronos, à qualidade dos advogados públicos e privados que atuam nesses processos.
Para o magistrado, se o volume e a combatividade geram mais trabalho, um processo que é bem defendido pelos dois lados, vem bem instruído para o magistrado, tem todos os lados bem destacados, facilita a decisão do magistrado.
ConJur — O senhor tem percebido um aumento no número dos processos por questionamentos a casos decididos com base no voto de qualidade?
Marcus Abraham — Esse assunto ainda não chegou aqui no segundo grau.
ConJur — Como solucionar esse problema do voto de qualidade no Carf?
Marcus Abraham — O Carf é um órgão da administração pública e todos seus integrantes devem decidir com absoluta imparcialidade. Portanto, não vejo a necessidade de solução. Tanto os integrantes que representam a Fazenda quanto aqueles que representam o contribuinte estão lá com a mesma função, decidindo da mesma maneira, com a mesma imparcialidade. Eu não vejo diferença nesse voto de qualidade porque ele será do presidente. Sendo representantes da Fazenda ou do contribuinte, os conselheiros estão no Carf com uma função: a de por fim a uma controvérsia na esfera administrativa. Todos os votos no Carf são iguais. Ou ao menos devem ser.
ConJur — Depois da operação zelotes, os conselheiros representantes dos contribuintes no Carf foram proibidos de advogar. Segundo alguns que atuam no órgão, isso mudou o perfil dos conselheiros dos contribuintes. Se antes eles eram advogados renomados, experientes, agora são profissionais em começo ou fim de carreira. E essa mudança de perfil teria diminuído a qualidade média dos representantes dos contribuintes. Como voltar a atrair grandes talentos para representar os contribuintes no Carf?
Marcus Abraham — Eu não consigo visualizar como um conselheiro conseguia manter a sua atividade profissional privada, sua advocacia, com todos os seus casos, suas preocupações, e ao mesmo tempo exercer uma segunda atividade jurisdicional administrativa no Carf com qualidade. Eu acredito que pessoas que têm uma dedicação exclusiva ao Carf talvez tragam votos até de maior qualidade, com análise mais detalhada de cada um dos casos. Mas essa é a impressão de alguém de fora, de alguém que exerce a magistratura. No volume e na complexidade das matérias tributarias, é difícil conciliar com outra atividade.
ConJur — O estado do Rio de Janeiro está passando por uma grave crise econômica e financeira. Muitos culpam os incentivos fiscais concedidos pelo estado. O senhor concorda?
Marcus Abraham — Parcialmente. Os incentivos fiscais não são os únicos culpados pela crise do estado do Rio de Janeiro. A concessão de benefícios fiscais, segundo o artigo 14 da LRF, deve obedecer a uma série de condições. Isso para que, ao final do exercício financeiro e na elaboração do orçamento para o próximo, se possa ter estabilidade orçamentaria e sustentabilidade financeira. E não apenas o estado do Rio de Janeiro, mas a grande maioria das unidades da federação vem desrespeitando essa regra.
Mas também tem outro fator que contribuiu para o problema financeiro do Rio: a utilização de receitas que são variáveis, em especial royalties, para fazer frente a uma série de despesas que não são variáveis, despesas correntes. Dimensionou-se o orçamento a partir de um volume de receitas que se teve, mas que se sabia que não era eterna, eram receitas que poderiam variar — como efetivamente variaram e diminuíram muito. Então, se dimensionou o estado a partir de um volume financeiro que não seria capaz de sustentar as despesas com a máquina no longo prazo. O que se vê é que o estado vem vivendo para si. O que ele arrecada, gasta consigo próprio. Não vem gastando com investimentos, saúde, educação, segurança. Ele vem gastando com a própria máquina. Alguma coisa está errada, e um dos motivos foi esse uso inadequado daqueles recursos de tempos de vacas gordas, que deveriam ter sido utilizados para investimentos, para consolidação de um sistema de saúde, de um sistema educacional, de segurança pública, e para um momento de vacas magras.
Períodos de vacas gordas não são para sempre. A economia é cíclica. E a situação do Rio de Janeiro não é muito diferente da de outras unidades da federação e do próprio governo federal. Essa questão da sustentabilidade financeira é um dos temas mais discutidos no mundo. A União Europeia fez um pacto orçamentário em 2012, que passou a viger a partir de 2015, e estabelece como princípio estruturante a sustentabilidade financeira e o equilíbrio orçamentário. Eu comparo a União Europeia com a federação brasileira: cada estado do Brasil tem uma realidade econômica, social, política, assim como os países daquele continente. Para que um não prejudicasse o todo, como a gente viu com a crise da Grécia, eles fizeram esse pacto orçamentário europeu. O Brasil, apesar de ser uma federação de características cooperativas, não age da mesma forma. Falta uma União Europeia, um órgão central que se preocupe e estabeleça metas e diretrizes para cada um dos integrantes. Precisamos adotar esses princípios para controlar a divida pública, os orçamentos, e para dar ao orçamento público a importância que ele merece.
ConJur — Não é esse o papel da União? E a LRF não tem esses princípios do pacto europeu?
Marcus Abraham — Sim, mas a LRF vem sendo desconsiderada cada vez mais, pelo próprio governo federal, que acaba não dando o exemplo adequado.
ConJur — Muitos dizem que a LRF é, possivelmente, a lei mais importante do Brasil depois da Constituição. Qual é o balanço da lei nesses 18 anos?
Marcus Abraham — Ela cumpriu seu papel em sua primeira década de vigência. De alguma maneira, a LRF tirou os estados e a própria União de um caos fiscal que havia na década de 1990. A primeira década foi de ajustes e de respeito aos preceitos da norma. Óbvio que havia ali uma conjuntura econômica e financeira favorável, o que ajudou de alguma maneira os governos federais, estaduais e municipais a implementarem as suas regras, as suas diretrizes. Mas depois dessa primeira década, houve uma acomodação dos gestores, dos governantes. Nesses anos subsequentes, a lei passou a ser desconsiderada. Esqueceram, inclusive, que a LRF tem força de lei, com os comandos de uma lei e as sanções de uma lei.
Nós temos tipos penais no Código Penal decorrentes da LRF, e os governantes não têm se preocupado com isso. Com a legislação atingindo a “maioridade”, eu tenho esperança de que se possa olhar para o sucesso que ela gerou em termos de estabilidade financeira e econômica nos seus primeiros anos e se possa aprender com os erros desses últimos anos, para que então, a partir de agora, tomem decisões respeitando a LRF, gerando sustentabilidade financeira as economias para que a gente possa ter uma sociedade mais digna.
ConJur — Então a LRF não precisa ser reformada, basta ser aplicada?
Marcus Abraham — Ela precisa ser aplicada. Ela vem sendo inobservada, e ao ser inobservada, muitos governantes cometem violações. Se eu pudesse dizer que ela precisa de algum aprimoramento, eu diria que as sanções que decorrem da LRF pelas violações a seus preceitos, não apensas sanções financeiras, mas criminais, poderiam ser aprimoradas, gerando então um estimulo ao gestor público em respeito à LRF.
ConJur — Pode dar um exemplo do que poderia ser melhorado?
Marcus Abraham — Esse dos benefícios fiscais, por exemplo, é um dos mais evidentes. As condicionantes previstas no artigo 14 para que se possa conceder um benefício fiscal não vêm sendo devidamente observadas. E também a elaboração de orçamentos irreais, com previsão de receitas infladas, estabelecimento de despesas com prioridades inadequadas, prioridades constitucionais não têm sido priorizadas. A Constituição elegeu uma serie de direitos do cidadão, portanto deveres para o Estado, vinculados ao orçamento público. Além de prever receitas irreais, que acabam não se realizando, o orçamento acaba sendo elaborado com despesas não tão prioritárias quanto aquelas que a constituição elegeu como despesas prioritárias dentro do rol de direitos do cidadão. Aí acabamos tendo um orçamento utilizado para fins políticos. Infelizmente, um instrumento fundamental para qualquer república vem sendo utilizado com finalidades diferentes da sua, que é de estabelecer um plano de gestão transparente, real, com programas que possam ser mensuráveis, possam ser executados, e que gerem ao final, uma sociedade melhor para o cidadão brasileiro.
ConJur — A Lei Complementar 160/2077 se propôs a acabar com a guerra fiscal. Tem funcionado?
Marcus Abraham — A guerra fiscal é outro desdobramento de um comportamento das nossas unidades da federação. Estamos numa federação de natureza cooperativa, mas na prática o que vemos é competição entre as unidades. Há dois reflexos de naturezas distintas dessa competição.
Primeiro: o reflexo financeiro dos benefícios fiscais não necessariamente é positivo. Não se consegue mensurar o que aquela unidade da federação abre mão em termos financeiros para atrair um investimento, para atrair uma indústria para determinada região, se isso gerará o mesmo volume financeiro que se concede em termos de benefício para aquela comunidade. Veja bem: uma nova indústria gera empregos, gera consumo, estimula a produção e movimenta uma roda econômica, num ciclo positivo. Mas também tem ser avaliado que naquela determinada comunidade vai ter um aumento de serviços públicos, porque atrair empregos também vai gerar maior demanda em hospitais, em escolas, em creches, em gastos com segurança pública. Então é uma equação que nem sempre tem um saldo positivo. Essa competição entre as unidades da federação, em termos financeiros, nem sempre tem um resultado positivo.
O outro aspecto é a insegurança jurídica. A grande questão da guerra fiscal nos benefícios de ICMS, que não eram levados ao Confaz para uma deliberação do órgão como a Constituição determina, é que quem acaba sendo prejudicado é o contribuinte que acreditou em um benefício concedido pelo Estado, e acaba vendo aquele benefício sendo de alguma maneira questionado. Fato é que o Supremo vem adotando medidas de modulação de efeitos para essas decisões para não prejudicar o contribuinte, mas criam mais um ambiente de insegurança jurídica. Então além de a conta não fechar, há um reflexo em termos de insegurança jurídica. Essa competição fiscal em uma federação como a brasileira é extremamente negativa. Mais uma vez, faz falta um ente que coordene o todo e não deixe as unidades competirem entre si.
ConJur — As soluções trazidas pela Lei Complementar 160/2017 são eficazes?
Marcus Abraham — A lei trouxe soluções políticas também. Espera-se que a partir das regras essa competitividade diminua. Mas o fato é que nós já tínhamos uma regra antes. Já havia necessidade de aprovar os benefícios pelo Confaz. De novo, há um desrespeito às normas de Direito Financeiro e de Direito Tributário. Portanto, temos normas. Mas elas não são respeitadas pelos governantes.
ConJur — Como combater a guerra fiscal sem prejudicar os estados mais pobres? Há quem argumente que, se os estados não pudessem conceder benefícios fiscais, as empresas só ficariam em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Marcus Abraham — De fato, essa é uma realidade de um país de dimensão continental como o nosso. Para isso, a Constituição tem mecanismos de equalização, tem todo um capítulo que trata da redistribuição das receitas tributárias. A finalidade da redistribuição das receitas tributárias é exatamente esta: diminuir as desigualdades econômicas e sociais entre as regiões. Mas não há solução única. O Brasil é um continente. você comparar Portugal, por exemplo, tem 10 milhões de habitantes.
ConJur — A Emenda Constitucional 95/2016, que congela os gastos públicos, viola direitos fundamentais?
Marcus Abraham — O teto não me preocupa se houver uma devida priorização com as despesas que são efetivamente necessárias, que são importantes para a sociedade. Nenhuma nação é construída sem educação, sem saúde, sem segurança. Então é uma questão prévia: não me importa o teto, o que me importa são as escolhas prioritárias que o orçamento público tem que contemplar. Se priorizar os gastos com o que é realmente importante, o teto pode servir para as despesas supérfluas, mas não para as despesas fundamentais. Então ele tem um lado bom, pois vai estimular o aprimoramento das escolhas, que chamamos de “escolhas trágicas”, porque o cobertor é curto.
ConJur — O governo federal vem impondo aos estados que estão mais necessitados de ajuda, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que apliquem uma versão local do teto dos gastos. Isso não viola o pacto federativo e a autonomia dos estados?
Marcus Abraham — Vivemos em uma federação. Portanto, não há uma autonomia plena, não há uma soberania dos estados. Mais uma vez, essa lógica do governo federal, essa educação fiscal, tem que ser imposta também a estados e municípios. Aqui eu toco em um ponto importante: a educação fiscal tem que atingir o governante e também o cidadão. O cidadão tem que cobrar os seus governantes para que deem o destino do meu, do seu, do nosso dinheiro ao que realmente importa. Eu estou batendo muito nessa tecla das prioridades, mas é uma tecla que acaba sendo esquecida. Sempre se diz que o orçamento público é uma peça de natureza política. De fato, ele tem a sua componente política porque é elaborado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Mas ele é uma lei.
Temos três leis orçamentarias: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentarias e a lei orçamentaria anual. São três leis, e como todas as leis, elas têm que seguir a Constituição. Portanto, elas têm que ser elaboradas e executadas como lei. É inadmissível a realização, por exemplo, de contingenciamentos imotivados dentro de um jogo político, de barganhas políticas. Se foi aprovada uma despesa, ela tem que ser executada. Ela só pode não ser executada de maneira motivada. Ou seja, se houver um impedimento financeiro, se a receita não vier tal como o previsto. O que não é possível é deixar o Executivo executar aquela lei de maneira arbitrária. Haveria uma sobreposição entre os Poderes. Então se o orçamento foi aprovado de uma dada forma, ele tem que ser executado daquela forma. Há uma miopia que eu vejo por parte dos governantes, dos parlamentares e até de parte da doutrina de Direito Financeiro de considerar que o orçamento é uma peça política.
Esse modelo de prevalência do Poder Executivo em relação ao Legislativo, que o Brasil vem usando e adotando como modelo de execução do orçamento, que diz que o orçamento é autorizativo, portanto o governo poderia executar como melhor lhe aprouvesse, vem dos anos de 1870, na formação do Estado alemão. Na época, havia um ambiente de guerra e era preciso aumentar os gastos com todo o aparato militar. O parlamento, na ocasião, disse que não iria aumentar os gastos. Então o chanceler Otto von Bismarck encomendou aos juristas uma teoria orçamentaria que desse preponderância ao Poder Executivo. Só que nós estamos repetindo isso 150 anos depois, em outro ambiente. Então tem alguma coisa errada.
ConJur — Afinal, a ex-presidente Dilma Rousseff praticou crime de responsabilidade ao atrasar repasses a bancos estatais, na prática conhecida como “pedaladas fiscais”, e ao assinar decretos autorizando a abertura de créditos suplementares sem a autorização do Congresso? Ou essas medidas são apenas atos ordinários de gestão que foram usados como pretexto para destituí-la?
Marcus Abraham — Tem havido um desrespeito generalizado às leis orçamentárias, ao Direito Orçamentário e à LRF. Eu prefiro não me manifestar em termos jurídicos sobre o que aconteceu, até porque foi um julgamento político. Mas há um legado nisso, o de mostrar para a sociedade brasileira a importância do respeito às leis de Direito Financeiro, ao orçamento público, às leis orçamentárias, aos princípios orçamentários e à LRF. Não à toa, foi objeto de impeachment. Não à toa vemos estados declarando calamidade financeira.
ConJur — Tem uma proposta de reforma tributária, de autoria do deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), que visa criar um imposto de valor agregado, acabar com ICMS, ISS, IOF, contribuições sociais, Cide, voltar a aplicar alguns tributos setoriais e aos poucos ir aumentando as alíquotas sobre os impostos sobre renda e patrimônio. Como o senhor avalia essa proposta?
Marcus Abraham — Eu sou favorável à simplificação do nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário é extremamente complexo. Ele estimula o contribuinte a não cumprir o seu dever fundamental de pagar os tributos. Isso devido à complexidade, à elevada carga fiscal, ao grande número de tributos. Então, eu sou favorável a unir o ICMS com o ISS, o IPI e o PIS/Cofins dentro de um IVA, como o norte americano ou o europeu. Nós temos, além da complexidade, todo um custo adicional de compliance para garantir que o tributo vai ser pago e as obrigações tributárias acessórias vão ser cumpridas adequadamente.
Portanto, nós temos complexidade para a obrigação principal, que é pagar tributo, e temos uma série de obrigações acessórias, para demonstrar que o tributo foi pago adequadamente. Tudo isso demanda para o empresário todo um custo adicional, além do próprio tributo. A empresa precisa ter um departamento fiscal para controlar todas as suas obrigações tributárias. O fato é que, de novo, voltamos ao problema da federação. Cada estado está preocupado com a sua arrecadação, e temos que ter uma postura de colaboração unitária. Portanto, deve haver uma negociação, cada qual abrindo mão de um pouco, para que o todo possa se beneficiar. Entre as possíveis reformas, essa de unificar esses tributos indiretos é a mais urgente, a que tem que ser logo realizada.
ConJur — Muitos especialistas afirmam que o sistema tributário brasileiro ajuda a aumentar a desigualdade social, por dar mais ênfase a impostos sobre o consumo do que sobre renda e patrimônio. Como mudar isso? Com a criação de um imposto sobre grandes fortunas? Com o aumento de alíquotas do Imposto de Renda?
Marcus Abraham — A primeira coisa é reduzir a carga fiscal dos impostos indiretos. Eles acabam tendo a mesma carga fiscal tanto para quem tem uma renda maior quanto para quem tem uma renda menor. Isso gera uma tributação que viola a isonomia, viola a capacidade contributiva. Esse modelo, que tem uma carga fiscal pesada nos impostos indiretos, é cruel. Uma das ideias é aumentar, ou melhor dizendo, tornar real a progressividade no IR. Nós temos hoje poucas faixas que modelam o nosso imposto de renda. Aumentar as faixas, até para você também buscar maior justiça, aumentar a carga sobre a tributação direta é também uma das formas. Mas nós não podemos pensar em aumento de carga fiscal.
O que nós temos que pensar é em ampliar a base de incidência, atingir o maior número de contribuintes possível sem aumentar individualmente a carga de cada um. Ao contrario, aumentar a base para reduzir a carga fiscal geraria uma receita maior sem sufocar um empresário, sem sufocar o contribuinte. Porque quando se aumenta muito a carga fiscal sobre o contribuinte, a primeira tendência que ele tem é buscar planejamentos fiscais, que de alguma maneira permitam pagar menos o tributos. E muitos deles acabam tendo aquela característica de planejamentos abusivos. Portanto, não é o caso de se aumentar a tributação direta. É de se aumentar a base arrecadatória, atingir quem não está pagando tributo, conforme a sua capacidade contributiva. Tem muita gente que não está pagando tributo, e tem pouca gente pagando por todos.
ConJur — O Brasil é um dos únicos dos países da OCDE a não tributar dividendos. Alguns críticos dizem que isso gera injustiça social e uma certa precarização do trabalho, porque os trabalhadores passam a ser contratados como pessoa jurídica. E isso ainda reduz a arrecadação do Estado. A seu ver, o Brasil deveria voltar a tributar dividendos?
Marcus Abraham — Quando se isentou a tributação sobre dividendos, havia um momento histórico, uma conjuntura econômica diferente da de hoje. Isso pode ser reavaliado, o modelo hoje é um pouco diferente.
ConJur — Dentro desse contexto de desigualdade, a proposta do economista Thomas Piketty de instituir um imposto global sobre a riqueza é viável?
Marcus Abraham — Em relação ao Piketty, eu tenho ressalvas quanto as teorias que ele apresenta. Eu não acredito nos modelos que ele propõe. Eles são utópicos demais. Agora, o fato é que há um movimento global de busca de arrecadação. Há um movimento, por exemplo, do Beps (base erosion and profit shifting), de busca de ampliar as bases arrecadatórias. Nós já vivemos uma ampla troca de informações financeiras bancárias. Hoje, o sigilo bancário praticamente acabou. Há toda uma troca de informações entre países. O próximo passo a ser construído é a colaboração arrecadatória entre países, que de alguma maneira estaria dentro dessa ideia de uma tributação da movimentação financeira global. Obviamente que temos questões de soberania, que precisam ser ajustadas. Se isso não é simples entre os estados no Brasil, imagine entre nações soberanas.
ConJur — Alguns advogados vêm sendo processados por planejamentos fiscais considerados abusivos. É justo incluir advogados no polo passivo dessas ações?
Marcus Abraham — Se um contribuinte encomenda a um advogado um modelo tributário a adotar, ele passa a se responsabilizar por isso. Agora, se o advogado além de entregar um planejamento tributário passa a integrar o planejamento tributário, a ser sócio do negócio, muito além do mero desenho das operações do contribuinte, é outra coisa. Então, é preciso ver qual é o caso.
*Texto alterado às 9h50 do dia 10/4/2018 para correção de informações.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


