Sem Suprema Corte "ativista", talvez não houvesse Barack Obama, diz professor
3 de julho de 2021, 8h26
O Supremo Tribunal Federal passou a ocupar um papel central no debate público brasileiro há pouco mais de 30 anos, quando a Constituição Federal de 1988 nasceu redefinindo as bases do ordenamento jurídico nacional. Do ponto de vista histórico, é um tempo muito curto para que se compreenda como os efeitos de suas decisões podem moldar uma sociedade mais justa ou forjar a desigualdade. É necessário certo distanciamento para estudar a influência das determinações da cúpula do Poder Judiciário no cotidiano.
 Uma pista sobre o futuro pode ser achada no Direito Comparado. No estudo da Justiça em países onde, por exemplo, decisões consideradas "ativistas" já foram testadas pelo tempo e suas consequências já puderam se fazer sentir. É isso que torna fundamentais trabalhos como o do professor João Carlos Souto, um dos mais respeitados estudiosos do constitucionalismo norte-americano e das decisões da Suprema Corte.
Uma pista sobre o futuro pode ser achada no Direito Comparado. No estudo da Justiça em países onde, por exemplo, decisões consideradas "ativistas" já foram testadas pelo tempo e suas consequências já puderam se fazer sentir. É isso que torna fundamentais trabalhos como o do professor João Carlos Souto, um dos mais respeitados estudiosos do constitucionalismo norte-americano e das decisões da Suprema Corte.
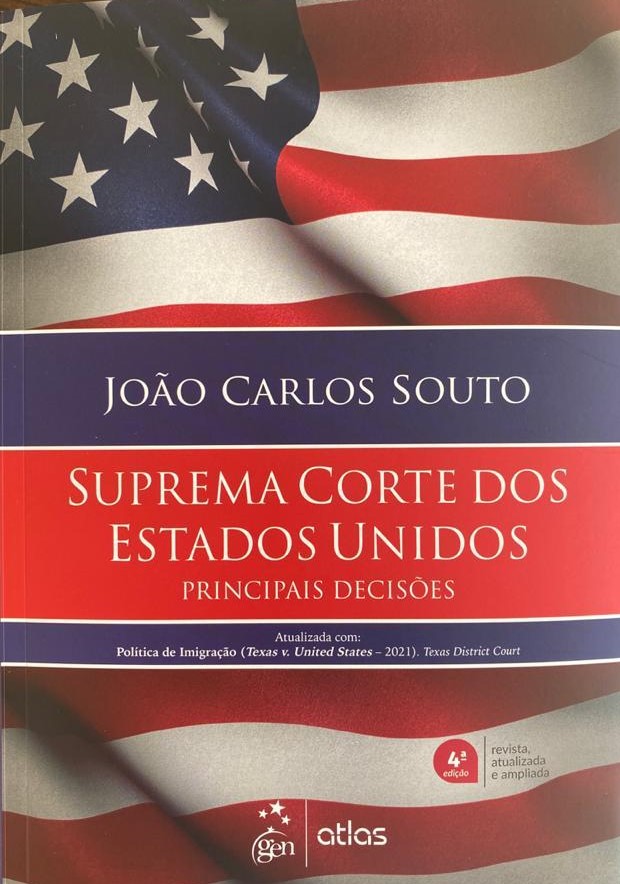
A quarta edição de Suprema Corte dos Estados Unidos – Principais Decisões foi lançada no mês passado e, em suas 500 páginas, se revela uma obra que traz muito mais do que faz parecer seu título. O livro é uma radiografia minuciosa da construção do Direito naquele país e de como as decisões do tribunal de cúpula do Judiciário influíram na sociedade norte-americana. Há análise jurídica e social feita por alguém que demonstra profundo conhecimento sobre o tema.
"Costumo dizer que sem Brown v. Board of Education não existiria Barack Obama", afirma Souto nesta entrevista à ConJur, se referindo à decisão de 1954 em que a Suprema Corte dos EUA julgou inconstitucional leis de segregação racial nas escolas e determinou que Linda Brown, uma menina negra de nove anos de idade, pudesse frequentar um colégio que, até ali, só admitia alunos brancos.
Baiano formado no Colégio Estadual Severino Vieira, onde também estudou Caetano Veloso, e na Faculdade de Direito da Universidade da Bahia, em Salvador, João Carlos Souto — que também frequentou o Program of Instruction for Lawyers (PIL/1998) da Universidade de Harvard — falou sobre o nascimento do constitucionalismo no Brasil e nos Estados Unidos, comparou as sabatinas nos dois países, as jogadas políticas que influem na Justiça e fez uma análise de algumas das principais decisões que acabaram por moldar alguns dos rumos mundiais. E ainda explicou como o mundo saiu de Barack Obama tentando fechar Guantánamo e caiu em Donald Trump querendo construir muros.
Leia a entrevista:
ConJur — O constitucionalismo brasileiro é semelhante ao norte-americano?
João Carlos Souto — Nosso sistema nasce do constitucionalismo norte-americano. O constitucionalismo brasileiro republicano surge em 1891, com a primeira Constituição elaborada por um grande americanófilo, Rui Barbosa. Em uma época em que o Direito francês e a cultura francesa imperavam, Rui traz dos Estados Unidos e da Constituição americana de 1787, a chamada Constituição da Filadélfia, os modelos de bicameralismo, federação, presidencialismo e Suprema Corte.
ConJur — Quais as semelhanças entre o STF e a Suprema Corte dos EUA?
Souto — São tribunais de cúpula, que dão a definitiva palavra em matéria constitucional, em matéria de Direito, resolvem conflitos entre estados e têm competência originária e recursal. Mas a competência originária da Suprema Corte dos EUA é muito restrita, apenas para casos que envolvem embaixadores, cônsules e quando um estado-membro é parte. Já o STF tem uma competência originária muito mais ampla. A formação numérica é próxima: 9 justices lá, 11 ministros aqui — na Argentina, por exemplo, a Suprema Corte tem apenas cinco membros. E a indicação dos integrantes é idêntica: o presidente da República indica e o indicado passa pelo crivo do Senado para que possa ser nomeado. Mas, lá, a sabatina é muito mais intensa.
ConJur — Comparada com a sabatina dos EUA, a nossa parece um passeio no parque de diversões. O senhor poderia comentar as diferenças?
Souto — Nossa sabatina é prevista da Constituição de 1988. Nos EUA, a sabatina não está prevista na Constituição, nem em leis. É até curioso, mas a sabatina nos EUA surgiu por resistência de parte do Senado à indicação de um nome: Louis Brandeis, um homem muito sério, judeu, dedicado às causas das minorias. Em razão dessa resistência, a sabatina nasceu espontaneamente, no início do Século 20. Cerca de 40 anos depois, em razão do movimento dos direitos civis liderados por Martin Luther King e do famoso caso Brown v. Board of Education, senadores do sul dos Estados Unidos começaram a criar dificuldades. A sabatina nasce aí. Mas, sim, lá ela é muito mais rigorosa porque não é uma questão só do Senado, há um envolvimento grande da sociedade civil, que infelizmente não vemos por aqui. Isso até melhorou nos últimos 15, 20 anos, muito por conta da popularização do Supremo.
ConJur — Aqui não há risco de um indicado ao Supremo ser rejeitado. Nos EUA, vários já foram barrados, certo?
Souto — Nos EUA, entre 1789 e 2018, houve 14 rejeições. Algumas bastante sonoras. Por exemplo, a rejeição de Robert Bork, um professor excepcional de Yale, que teve como alunos Bill e Hillary Clinton. Um jurista na acepção completa do termo. Foi solicitor general, um posto abaixo do de attorney general — que, nos EUA, é um cargo que mistura ministro da Justiça, advogado-geral da União e procurador-geral da República. Mas o solicitor general é a autoridade que atua perante a Suprema Corte. Alguns autores até dizem que se trata do décimo justice, dada sua importância. Pois o Bork, com todo esse currículo, foi rejeitado, em 1987, por conta do seu acentuado conservadorismo.
ConJur — O senhor se refere ao caso como "a indicação que sacudiu a América".
Souto — Sim, porque o senador Ted Kennedy, irmão do lendário presidente JFK, fez um discurso muito duro contra o Bork menos de uma hora depois de ele ser indicado pelo presidente Ronald Reagan e pediu sua rejeição pelos senadores por entender que conquistas importantes da chamada Corte Warren, por exemplo, poderiam ser desconstruídas com a posse de Bork. O caso é tão paradigmático, envolveu a sociedade civil de forma tão ampla, que o nome de Bork virou verbo. Consta do dicionário: to bork, que significa impedir, obstar.
ConJur — Houve casos de rejeições mais recentes?
Souto — Sim. Houve inclusive uma obstrução, que se assemelha a uma rejeição, no último ano do governo Barack Obama. Em fevereiro de 2016, dez meses antes das eleições para a Casa Branca, o presidente Obama indicou Merrick Garland para a Suprema Corte, após a morte de Antonin Scalia, um ícone conservador respeitado por todos, independentemente de predileção ideológica. Ali, o controle do Senado estava nas mãos do Partido Republicano, liderado pelo senador Mitch McConnel, que coloca em prática a maior obstrução da história do Senado norte-americano. Ele impede a análise do nome de Garland de fevereiro de 2016 até a posse de Donald Trump, em janeiro de 2017. Isso foi absolutamente inédito, até porque Obama, sabedor de que não tinha maioria no Senado, escolheu Garland a dedo, um juiz muito experiente e com trânsito entre democratas e republicanos. Enfim, alguém que não era rotulado. O mais chocante é que não houve sequer a sabatina, a apreciação do nome. Um momento absolutamente infeliz do Senado, que ainda deixou de apreciar nomes para aproximadamente 150 vagas de juízes federais e de cortes de apelação. Por isso é que Trump é recordista de indicação de juízes em um mandato. Seu legado no Judiciário ainda vai durar uns 40 anos.
ConJur — Quem foi indicado para a vaga de Garland?
Souto — Neil Gorsuch, um juiz muito preparado. Mas veja como são as ironias da vida. Dez anos antes disso, Gorsuch escreveu um artigo em que criticava esses atrasos do Senado na análise de nomes. E citava como exemplo justamente o nome do próprio Garland, se referindo à ocasião em que ele havia sido indicado, anos antes, para o cargo de juiz federal. Depois, foi ele, Gorsuch, beneficiado pela demora, por essa obstrução.
ConJur — Mas houve também uma aprovação relâmpago no final do governo Trump, não?
Souto — Observe a incoerência, ou até a má-fé, dos republicanos no tratamento da indicação de Merrick Garland quando o comparamos com o caso de Amy Coney Barret. Faltando 40 dias para as eleições presidenciais de 2020, morre a juíza Ruth Bader Ginsburg. O que faz Donald Trump? Indica, no prazo de uma semana, uma juíza conservadora, católica, formada pela Notre Dame, que não é uma universidade tradicional, para a vaga na Suprema Corte. E Amy Coney Barret é submetida à sabatina, aprovada e toma posse como justice. Quando Obama indicou Garland, há dez meses das eleições, o argumento dos republicanos para obstruir a avaliação do seu nome foi: "Estamos próximos de uma eleição. Então, deixemos a nomeação para o próximo presidente". Pouco mais de três anos depois, aprova-se um nome indicado um mês antes das eleições. Infelizmente, nestes casos, a política se impôs de forma muito pouco saudável no trâmite das indicações.
ConJur — O controle de constitucionalidade nasceu no EUA?
Souto — Sim, e graças à sensibilidade de um juiz. Se nos dias que correm temos focos de resistência à teoria da tripartição dos poderes, como nos Estados Unidos de Donald Trump, na Hungria de Viktor Orbán, imagine em 1802, com os EUA recém-fundados, uma Constituição de 15 anos, falar em controle de constitucionalidade…
ConJur — O caso é Marbury v. Madison, certo?
Souto — Sim, e é interessantíssimo. O juiz Willian Marbury, indicado pelo presidente John Adams pouco antes do encerramento de seu mandato, exige tomar posse. Mas o secretário de Estado, James Madison, do novo governo de Thomas Jefferson, que havia derrotado Adams, se recusa a dar-lhe posse. Uma crise importante. Então, o caso cai nas mãos do juiz John Marshall, um cidadão absolutamente iluminado, que dá uma decisão que agrada gregos, troianos e baianos.
ConJur — Como?
Souto — Se a decisão fosse para dar posse a Marbury, o presidente Thomas Jefferson, que era contrário ao controle de constitucionalidade, não iria cumpri-la. Já tinha dado sinais muito claros disso. Se Marshall dissesse que a Suprema Corte não era competente para tratar o caso porque essa competência não estava explícita na Constituição, seria a desmoralização para o Judiciário e provocaria um atraso de, pelo menos, 100 anos na consolidação do controle de constitucionalidade. Resumidamente, ele decidiu que a lei que deu competência à Suprema Corte para conhecer daquela ação era inconstitucional. Assim, aplicou o controle de constitucionalidade e, ao mesmo tempo, pôs fim a uma grave crise. Foi uma jogada de mestre porque Jefferson, terceiro presidente norte-americano, não queria dar posse aos chamados midnight judges, que tinham sido nomeados no apagar das luzes da gestão anterior, do John Adams. Essa decisão é a certidão de nascimento do controle de constitucionalidade.
ConJur — O STF julga 100 mil processos por ano. A Suprema Corte julga 100 ações no mesmo período, porque pode se recusar a julgar casos sem justificar a recusa. É possível adotar no Brasil esse filtro radical?
Souto — É muito difícil, para não dizer impossível. Porque, mais do que o ordenamento legislativo que permite essa avalanche de recursos, há uma questão cultural. Nenhum dos atores do sistema de Justiça aceitaria esse filtro.
ConJur — Na Suprema Corte, os julgamentos não são públicos. Os do STF são televisionados. Qual modelo é melhor?
Souto — As transmissões ao vivo são um equívoco. O Supremo tem atribuição contramajoritária. Na medida em que se permite o televisionamento, acaba-se por incentivar uma pressão que não deveria existir porque o Tribunal não está ali para satisfazer correntes majoritárias da sociedade. A Suprema Corte dos EUA não tem problemas de transparência das decisões pelo fato de não televisionar suas sessões. Há ainda o fato de que lá as audiências em que sustentam e são questionados os advogados são gravadas em áudio e este áudio é colocado à disposição dos interessados. Mas a decisão é tomada em uma sessão absolutamente fechada. Apenas os justices ficam na sala. Não entra ninguém, nem os assessores. Quando se necessita de um documento, uma informação, quem se levanta, abre a porta da sala e vai pedir essas informações é o justice junior. Ou seja, o juiz mais novo. A decisão é mais tranquila, a troca de ideias fora dos holofotes corre melhor e o consenso é mais fácil de ser construído.
ConJur — Muitas vezes nós criticamos o Supremo brasileiro o classificando como ativista. Mas sem o ativismo da Suprema Corte, a odiosa segregação racial nos EUA, por exemplo, talvez levasse muito mais tempo para acabar. Como o senhor analisa o "ativismo judicial"?
Souto — A segregação racial e o ativismo se encontram na Suprema Corte dos Estados Unidos em vários momentos. O caso mais rumoroso é Brown v. Board of Education. Linda Brown, uma menina de nove anos, contestou a lei que fixava a segregação racial nas escolas e a Suprema Corte, em 1954, declarou a regra inconstitucional. O caso mais próximo a esse é o de Plessy v. Ferguson, de 1896. Em uma decisão absolutamente lamentável, a Suprema Corte validou a teoria do separate but equal (separados, mas iguais). Essa decisão valida as chamadas Jim Crow Laws, leis de segregação racial que tinham esse apelido por conta do personagem Jim Crow, criado pelo ator Thomas Rice, um comediante branco que pintava as mãos e o rosto com tinta preta e se apresentava como uma caricatura exagerada e, evidentemente, pejorativa dos negros. Essas leis de segregação surgem nos estados do sul com o fim da Guerra Civil, a morte de Abraham Lincoln, e são questionadas na Suprema Corte. E os justices, com apenas um voto contrário, lamentavelmente declaram as leis constitucionais. Essa decisão permanece até 1954, quando a Suprema Corte, com nova composição e liderada pelo chief justice (presidente do Tribunal) Earl Warren, um juiz que havia sido, pouco antes, governador da Califórnia, tem o bom senso, a coragem, a razoabilidade, de levar à frente essa ação e declarar a segregação inconstitucional. Warren consegue construir com muita inteligência um entendimento unânime. Brown v. Board of Education é uma decisão fundamental na construção de uma sociedade mais plural. É uma forma de ativismo? Sim, mas é necessário. Costumo dizer que sem Brown v. Board of Education não existiria Barack Obama.
ConJur — Há outros exemplos?
Souto — Em 1973, ou seja, 19 anos depois, a Suprema Corte aprovou o aborto no caso Roe v. Wade. É outro exemplo de ativismo judicial. Mas eu arriscaria dizer que o ativismo nos EUA, nos dias que correm, é menor do que o que se verifica no Brasil, também porque a Suprema Corte não tem os instrumentos para praticar um ativismo como se vê aqui. Porque a competência originária do Supremo Tribunal Federal é muito mais ampla. Lá não existem ADI e ADPF, por exemplo. A Suprema Corte conhece de casos que chegam a ela por meio de recursos que já foram maturados, discutidos. Claro, há casos urgentes, mas a maior parte dos casos já foi bastante debatida em instâncias anteriores.
ConJur — Voltando um pouco para a discussão sobre segregação racial, estamos acompanhando o processo e o julgamento dos policiais que mataram o George Floyd no ano passado, crime que impulsionou protestos do movimento Black Lives Matter. No livro, o senhor mostra que já houve a expressão I can’t breath antes.
Souto — As relações raciais nos EUA são historicamente tensas. O movimento Black Lives Matter e a expressão I can’t breath não têm origem, como muitos podem imaginar, no caso George Floyd. Este foi o caso mais emblemático, sem dúvida. Mas o Black Lives Matter surge antes para protestar contra o assassinato de um jovem de 17 anos, na Flórida: o Trayvon Martin. Foi um caso de grande repercussão, tanto que Barack Obama, presidente à época, chegou a dizer que Martin poderia ser filho dele ou ele próprio 35 anos antes. O movimento nasce aí. E não nos esqueçamos que há um I can’t breath anterior. Um cidadão negro chamado Eric Garner morreu por estrangulamento ao ser detido por policiais, em Nova York, em 2014. Ele tinha aproximadamente 40 anos de idade e vendia cigarros na rua. Essa atividade não era permitida e, por isso, a polícia estava de olho nele. Um dia, houve a apreensão dos cigarros, uma altercação e, para detê-lo, um grupo de policiais o cercou e um deles lhe aplicou um mata-leão. Garner era asmático e disse: "I can’t breath".
ConJur — Além da tensão em torno de questões raciais, seu livro trata da tensão social provocada pela xenofobia, em casos como o de Guantánamo.
Souto — O ataque às torres gêmeas muda o mundo, como mudaram a queda do Muro de Berlim e as duas guerras mundiais. Os EUA se fecham e promovem uma guerra ao terror que culmina com a invasão do Afeganistão, autorizada pela ONU, e o aprisionamento de acusados de terrorismo em Guantánamo, que é uma área em Cuba cedida aos Estados Unidos, indefinidamente, por um acordo internacional, no mínimo, curioso. Porque o acordo, que tem mais de cem anos, só pode ser desfeito se as duas partes concordarem. Neste contexto da guerra ao terror, em um primeiro instante, a Suprema Corte prefere se manter distante, omissa. Pode-se criticar essa tomada de posição? Claro, até porque houve uma série de abusos. Mas é preciso estudar o momento. Quem garantiria que o atentado de 11 de setembro não se repetiria, em maior ou menor grau, alguns meses depois? Mas, com o passar do tempo, essa neutralidade acaba. E acaba com base em um voto da primeira mulher a integrar a Suprema Corte, Sandra Day O'Connor, que afirma que o combate ao terrorismo não pode significar um cheque em branco ao Poder Executivo.
ConJur — Em que ocasião?
Souto — Quando o governo de George W. Bush insistia em qualificar Guantánamo como um território fora da jurisdição dos Estados Unidos, fora do alcance do Poder Judiciário. Barack Obama disse que os republicanos queriam criar um legal black role. Ou seja, um buraco negro jurídico, porque as ações em relação à base de Guantánamo não estariam submetidas a nenhum controle. Mas o fato é que a Suprema Corte, a partir de quatro casos, reage. Por exemplo, no caso Boumediene v. Bush, em que a Suprema Corte estabelece a possibilidade de Habeas Corpus aos prisioneiros e, efetivamente, concede Habeas Corpus, além de declarar a possibilidade de revisão judicial das decisões dos tribunais militares tomadas em Guantánamo.
ConJur — Depois, Obama tentou fechar Guantánamo?
Souto — Sim, mas ele teve a oposição de ninguém menos do que Dick Cheney, que é considerado o vice-presidente mais poderoso da história dos EUA. Cheney, vice nos dois mandatos de George W. Bush, movimentou a política e a sociedade civil de forma muito exitosa para boicotar esse projeto. Até Nova York, uma cidade liberal, se opôs ao fechamento da base em Cuba porque não queria terroristas presos e julgados em seu território.
ConJur — O mundo sai de Obama tentando fechar Guantánamo e chega a Trump querendo erguer um muro na fronteira com o México…
Souto — Sim. Donaldo Trump, quando se declarou candidato à Presidência dos EUA, naquela icônica cena em que ele desce a escada rolante ao lado da Melania, na Trump Tower, ele ataca imigrantes e cita especificamente os mexicanos, atribuindo a eles a condição de criminosos. Já em campanha, em um comício na Carolina do Norte, ele diz que proibiria a entrada de muçulmanos no país. Trump é eleito e, sete dias depois da posse, baixa a Executive Order 13.769 — comparável a uma Medida Provisória — e proíbe, de fato, a entrada de muçulmanos nos EUA. Isso causou uma enxurrada de processos de organizações da sociedade civil e universidades contra a medida. Essa enxurrada de ações provoca uma enxurrada equivalente de decisões judiciais, corre da primeira instância às cortes de apelação, até que chega à Suprema Corte, em grau de recurso, em um caso ajuizado pelo presidente: Trump v. Hawaii.
ConJur — Qual foi o resultado?
Souto — A decisão sufraga a ordem de Donald Trump. Mas não a ordem original. A medida foi reeditada três vezes. Em uma das reedições, o governo Trump insere uma lista de países muçulmanos, mas também Venezuela e Coreia do Norte, por exemplo, e impõe restrição aos cidadãos destes países. Logo, não se tratava mais de uma questão de discriminação religiosa, mas de segurança nacional contra, digamos, países inimigos dos EUA. Foi uma jogada de Trump porque questões de imigração, de fronteira, de segurança nacional, são naturalmente de competência do Poder Executivo. O resultado foi muito apertado, cinco a quatro a favor do governo, com o argumento de que não havia discriminação religiosa, mas uma questão de segurança nacional. Mas o principal voto vencido, da justice Sonia Maria Sotomayor, a primeira mulher de origem latina a chegar à Suprema Corte, é primoroso. Ela sustenta que há, na ordem executiva, uma discriminação religiosa muito bem delineada e que o governo inseriu na lista países como Venezuela e Coreia do Norte para disfarçar seu alvo: cidadãos muçulmanos. O voto traz um componente histórico muito importante, pois lembra que os Estados Unidos foram criados sob o signo da liberdade religiosa. Ressalta que os primeiros imigrantes saíram da Europa no Século 17 fugindo da intolerância religiosa e que era inadmissível, em pleno século 21, o Judiciário manter uma determinação daquela natureza. Entretanto, prevaleceu a maioria conservadora e a decisão de proibir temporariamente o ingresso de imigrantes de determinados países muçulmanos nos EUA permanece até os dias atuais.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


