"Judiciário tem feito por merecer o título de censor máximo do país"
27 de setembro de 2020, 8h14
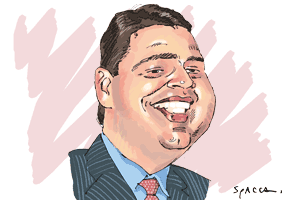 Spacca" data-GUID="gustavo-binenbojm1.png">Até o fim da ditadura militar (1964-1985), a censura era praticada pelo Executivo no Brasil. Com a redemocratização, o cenário mudou, e o Judiciário passou a ser o Poder que mais pratica atos censórios. É o que afirma o professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Gustavo Binenbojm.
Spacca" data-GUID="gustavo-binenbojm1.png">Até o fim da ditadura militar (1964-1985), a censura era praticada pelo Executivo no Brasil. Com a redemocratização, o cenário mudou, e o Judiciário passou a ser o Poder que mais pratica atos censórios. É o que afirma o professor de Direito Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Gustavo Binenbojm.No recém-lançado livro Liberdade igual: O que é e por que importa (Intrínseca), Binenbojm analisa diferentes manifestações do exercício do direito à liberdade no Brasil. Ele comenta causas que defendeu, como advogado, no Supremo Tribunal Federal, como a da liberação de biografias não autorizadas, a derrubada da censura ao humor e à crítica jornalística em período eleitoral e a censura ao especial de Natal do grupo humorístico Porta dos Fundos protagonizado por um Jesus gay.
Para o professor, o Judiciário promove constantemente censura sob os argumentos de se preservar o segredo de justiça, a honra de pessoas e a moralidade pública. A exceção a essa cultura censória está no Supremo Tribunal Federal, diz. "Nos últimos 15 anos, a corte criou parâmetros mais liberais e democráticos para o exercício da liberdade de expressão no país".
As restrições impostas por governos para combater a epidemia de coronavírus não são uma violação a liberdades individuais, avalia o docente. Em sua opinião, o balanceamento entre liberdade e responsabilidade é essencial para a construção de uma democracia. Binenbojm também destaca que não existe um direito individual de liberdade a não tomar vacina contra a Covid-19. Isso porque a liberdade deve respeitar o direito à vida e à saúde dos outros.
Em entrevista à ConJur, Binenbojm ainda defendeu as cotas para universidades públicas, criticou o direito ao esquecimento e analisou os prós e contras do "lugar de fala".
Leia a entrevista:
ConJur — O senhor afirma que, hoje em dia, o "Judiciário tem feito por merecer o título de censor máximo do país". Como se dá essa atuação do Judiciário?
Gustavo Binenbojm — Essa é uma percepção da minha geração. Até os anos 80, no Brasil só se considerava censura atos do Poder Executivo. Era a censura federal, teve esse nome durante a ditadura militar, e que antes tinha outros nomes, como na ditadura do Estado Novo. Então havia uma clara opção por um modelo tutelar do livre fluxo de informações, que não era livre exatamente porque ele era controlado pelo Estado. O que se dizia é que havia uma distinção entre censura e os atos do Legislativo e do Judiciário que interferiam no exercício dos direito de liberdade de expressão. Se uma lei disciplinava as eleições, não era censória, só estava dando contornos ao direito do candidato, do partido, à livre expressão, que não era absoluta. E também em relação às decisões judiciais. Porque o juiz não censura, o juiz só faz um balanceamento de direitos entre a liberdade de expressão de um lado e o direito à honra, o direito à imagem, o direito à preservação da privacidade, do outro. E assim por diante.
A grande transformação nessa história se deu a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 130, decidiu que a Lei de Imprensa do regime militar (Lei 5.250/1967) não tinha sido recepcionada pela ordem constitucional de 1988, que é democrática, liberal, comprometida com o fim da censura e a liberdade de imprensa e de expressão. O ministro relator, Ayres Britto, colocou no voto uma frase que no Brasil era algo inovador, que era dizer que não é censura apenas o controle do debate público, da livre manifestação de ideias, opiniões e notícias, feito pelo Executivo, mas também são censura os atos do Legislativo e do Judiciário que restrinjam ilegitimamente, salvo onde a Constituição permita, a liberdade de expressão e de informação.
Dos três Poderes, o que ainda incorre, repetida e reiteradamente, em atos de censura é o Poder Judiciário. Porque o Judiciário é provocado por todas as partes que não desejam que a imprensa cumpra o seu papel, afinal, a imprensa sempre vai noticiar alguma coisa desagradável, desabonadora sobre alguém. Um dos últimos atos de censura judicial foi uma decisão de uma juíza cível do Rio de Janeiro que impediu o Grupo Globo de noticiar qualquer coisa sobre um processo contra o senador Flávio Bolsonaro que corre em segredo de Justiça. Aparentemente, ela tem um fundamento do Código de Processo Civil, que diz que onde há segredo de Justiça, as informações e os documentos constantes dos autos não podem ser divulgados. Porém, duas simples observações mostram que essa decisão judicial é incompatível com a Constituição de 88. Primeiro que, se o processo está em sigilo, como a imprensa pode saber se o que vai noticiar está ou não nos autos? Então não pode falar nada sobre o caso? É quase uma esquizofrenia judicial. E o segundo ponto é que esse tipo de decisão alcança um veículo só. Por exemplo, o jornal O Estado de S. Paulo ficou anos proibido de falar sobre um caso de um filho do ex-presidente José Sarney, mas todos os outros veículos de comunicação do Brasil não estavam sujeitos a nenhuma decisão judicial. Esse tipo de decisão gera dois efeitos. Primeiro cria um efeito censório em relação às informações a que os veículos e jornalistas têm acesso, por suas fontes. E eles ficam atemorizados de divulgar, porque podem estar incorrendo em crime de desobediência a ordem judicial. Segundo, gera um efeito silenciador. Se o jornalista recebe de uma fonte um pendrive com documentos sigilosos, ele não pode ser proibido de divulgar uma informação de interesse público. O jornalista e o veículo não têm nenhuma responsabilidade sobre o segredo de Justiça – isso é direcionado aos servidores do Judiciário, ao juiz, ao Ministério Público, aos advogados do processo. Se alguém chega na redação da ConJur e fala que tem um conjunto de informações relevantes sobre o senador Flávio Bolsonaro, você, como jornalista, tem que ouvir e, se houver interesse público, tem que publicar.
Os exemplos mais evidentes tratam, por exemplo, de moralidade pública. No meu livro, eu falo do episódio, em que eu fui advogado da Netflix e do Porta dos Fundos, no qual o grupo humorístico fez uma sátira política e social às religiões, especificamente à religião cristã. Havia um personagem que supostamente seria Jesus gay, e o Porta dos Fundos sofreu um atentado à bomba na sua sede no Rio de Janeiro. Aí o desembargador [Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro] manda tornar o conteúdo indisponível “para serenar os ânimos". Olha, então o atentado conseguiu o seu objetivo, que era intimidar os humoristas. Outro exemplo é de quando o prefeito do Rio de Janeiro [Marcelo Crivella], durante a Bienal do Livro de 2019, mandou fiscais retirarem revistas em quadrinhos que tinham um beijo gay entre alegando que isso seria atentatório à moralidade pública. Também nesse caso, foi necessário o Supremo Tribunal Federal intervir [para cassar decisão do presidente do TJ-RJ, Claudio de Mello Tavares, que autorizou o recolhimento das revistas].
A exceção a essa cultura censória está no Supremo Tribunal Federal. Nos últimos 15 anos, a corte criou parâmetros mais liberais e democráticos para o exercício da liberdade de expressão no país.
ConJur — Como o senhor avalia a questão do "lugar de fala"? É uma medida que permite uma maior pluralidade de vozes no debate público, especialmente de minorias? Ou é uma prática censória?
Binenbojm — Ela é ambígua. Há um conjunto de aspectos interessantes de se dar voz a quem vivencia uma determinada realidade e aprender com a experiência dessas pessoas, mulheres, negros, ciganos, judeus, homossexuais. É um avanço ter essa posição de destaque para os representantes identitários das pessoas que pertencem àquelas comunidades que sofrem com discriminações, com uma subordinação histórica, uma hierarquização social.
No entanto, a utilização do argumento do lugar de fala como um critério de legitimação a priori e, mais ainda, como uma espécie de monopólio, exclusividade para tratar de alguns assuntos, é um empobrecimento do debate público. Dou o exemplo no livro do filme Vazante, da Daniela Thomas, que trata de escravidão. A obra foi muito criticada por ela não ser uma mulher negra nem uma militante da causa racial no Brasil e pelo filme reproduzir supostamente uma visão preconceituosa da posição do negro na escravidão, de subalterno, e não uma postura mais ativa. Essa crítica de que a Daniela Thomas não tem lugar de fala para dirigir um filme como esse é censura barata. Censura não foi porque não conseguiram proibi-la — aí seria o extremo do absurdo —. Mas é uma afirmação anti-libertária. O filme pode ser criticado, quem não gostar pode não vê-lo, escrever um artigo, se pronunciar publicamente, fazer uma crítica verbal, dar uma entrevista. Mas sustentar que não há legitimidade em alguém para defender um ponto de vista por não pertencer aquele grupo identitário é errado e absurdo.
ConJur — O senhor afirma que critérios classistas, de gênero, orientação religiosa ou classe social não podem ser vistos como condição para nomeação a um posto público ou privado. E também diz que a democracia não é sinônimo de representação identitária. Sendo assim, como avalia políticas públicas de inclusão, como as cotas raciais e sociais em universidades e concursos públicos ou em candidaturas eleitorais, como destinar um certo percentual da verba do Fundo Eleitoral para candidaturas femininas ou negras, como o Tribunal Superior Eleitoral decidiu recentemente?
Binenbojm — Eu historicamente sempre defendi, inclusive como advogado, a constitucionalidade da primeira lei de ações afirmativas no estado do Rio de Janeiro para as universidades públicas, que foi julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio e depois pelo Supremo Tribunal Federal. É legítimo que o Estado faça recortes socioeconômicos, étnicos e de gênero para alcançar determinados objetivos de promoção da diversidade —quando houver uma justificativa plausível para isso. Às vezes não a neutralidade do Estado não é suficiente. Quer dizer, não basta proibir a discriminação, pode ser papel temporário do Estado promover a diversidade por meio de políticas afirmativas para garantir maior participação de determinados grupos, equalizar oportunidades. É criar mecanismos para evitar disparidades históricas que são muito opressivas e impedem o exercício da liberdade pelas pessoas que são membros desses grupos.
O que acontece no Brasil em alguns casos é que o discurso populista se apropria dessas políticas e distorce um pouco o sentido delas. Não faz sentido, por exemplo, ter cotas de 50% das vagas em vestibulares para universidades públicas. É preciso ter um certo equilíbrio entre o que é possível absorver desses estudantes de maneira eficiente, dando oportunidades reais de desenvolvimento intelectual e cultural para eles. E simplesmente criar cotas para políticos é eficiente do ponto de vista de produzir os melhores resultados para a sociedade como um todo e para o público-alvo a que elas são destinadas.
ConJur — Como seria uma calibragem adequada do direito ao esquecimento que conciliasse a liberdade de expressão e o direito à informação da sociedade com a proteção da honra e da imagem?
Binenbojm — Conceitualmente, não existe um direito subjetivo ao esquecimento. Se a imprensa ou plataforma de rede social publicou uma informação verdadeira sobre alguém e originalmente não havia nada de ilegal naquela publicação, o mero decurso do tempo não é razão suficiente para a publicação se tornar ilegal. Ou seja, não é direito. Não é direito protestativo, que é o termo que a gente usa para um direito que independa da parte contrária. Segundo, não há nenhum tipo de "usucapião" do direito à informação. Se eu tinha um direito à informação porque era legítimo publicar uma notícia porque apurei nas fontes, e as fontes voluntariamente me franquearam acesso àquela informação ou eu obtive um documento porque pesquisei nas fontes públicas sobre aquele fato e legitimamente o apurei, a passagem do tempo não faz prescrever o meu direito de informar nem faz incidir usucapião sobre o direito à informação.
O Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu dois critérios para a aplicação do direito ao esquecimento: 1) a informação não é de interesse público; 2) a informação não tem interesse histórico. Esses critérios me parecem inadequados. O Tribunal de Justiça da União Europeia abriu uma espécie de caixa de Pandora, da qual vemos sair resultados contraproducentes do ponto de vista do direito à informação do público. Porque muitas vezes não há como saber de antemão, por exemplo, o que é um interesse histórico em determinada informação. Não havia como dizer, por exemplo, que o processo contra Dilma Rousseff na Justiça Militar durante a ditadura se tornaria relevante em 2010 porque ela concorreu à Presidência da República. E o critério do interesse público é muito aberto. Por exemplo, pode-se dizer que não há interesse público em uma festa em Ilhabela porque é uma festa privada. Certo, mas e se nessa festa tiverem estado presentes empresários investigados por negociações não republicanas com contratos públicos e políticos? Isso muitas vezes vai se revelar só depois. As pessoas hoje em dia notificam as ferramentas de busca e as redes sociais para retirarem o conteúdo, alegando direito ao esquecimento de tudo o que não interessa a elas que continue na internet. Mas o critério do interesse público é amplo demais para justificar uma retirada em massa de conteúdo. A consequência disso pode ser tornar o direito à informação uma espécie de queijo suíço, em que as pessoas não vão mais ter acesso às informações porque essas informações vão ser controladas pelo interesse dos personagens, e não pelo interesse da sociedade.
A solução é dar mais informação, não menos. Um exemplo que eu dou no livro é da Corte Constitucional da Itália. Um político que foi condenado em primeira instância, mas absolvido em segunda disse que tinha direito que um jornal apagasse as matérias sobre o caso. E o tribunal, adequadamente, disse que ele não tinha direito a exigir que as matérias fossem apagadas. No máximo, a uma atualização das notícias para constar que tinha sido posteriormente absolvido.
ConJur — Em 2003, o STF decidiu que propagar ideias antissemitas por meio da edição de livros é crime de racismo e manteve a condenação do editor do Rio Grande do Sul Siegfried Ellwanger, acusado de incitar o ódio contra o povo judeu. Como avalia esse caso em contraposição à liberdade de expressão?
Binenbojm — Na Europa Continental e Peninsular no Reino Unido, a experiência dos regimes nazi-fascistas da Segunda Guerra Mundial e de outras ditaduras produziu uma espécie de reação à liberdade de expressão mais ampla e gerou legislações e decisões dos tribunais constitucionais mais restritivas em relação aos discursos de ódio, entre eles discursos discriminatórios contra judeus, negros, minorias étnicas e religiosas. Por exemplo, na Alemanha e na Áustria, que foram países que protagonizaram os regimes nazistas, não só é proibido como é crime se utilizar suástica, o discurso nazista, o Partido Nacional Socialista Alemão é ilegal etc. Nos EUA, que, no campo da liberdade de expressão, é um país mais libertário, o discurso de ódio é tolerado até o limite em que haja o que eles chamam de "clear and present danger". Ou seja, um perigo claro e iminente de que a incitação ao ódio se torne ou provoque violência. O grande precedente é o caso Brandenburg v. Ohio, de 1969, em que a Suprema Corte considerou que mesmo as manifestações racistas da Ku Klux Klan eram protegidas pela 1ª Emenda e, portanto, pela garantia constitucional da liberdade de expressão, porque elas eram representativas de ideias, e ideias nunca poderiam ser proibidas ou criminalizadas.
No Brasil não é assim. A propagação de ideias racistas é criminalizada, seja por que constitui crime de racismo, defesa pública de ideias racistas ou injúria racial contra uma pessoa determinada. No caso Ellwanger, o Supremo deu uma decisão conferindo uma proibição muito ampla da defesa de ideias travestidas de preconceitos ou de um discurso discriminatório. Como a Constituição de 1988 proíbe o racismo e exige que ele seja tratado como crime imprescritível, obviamente que o grau de liberdade que se pode admitir no exercício da liberdade de expressão é menor nessa matéria. Agora, a defesa de um ideário minoritário, um ideário que seja antidemocrático, discriminatório, como uma advocacia de ideias não é proibida pela Constituição. As ideias têm que ser discutidas e debatidas como uma condição até para a sociedade reavaliá-las e amadurecer em relação a elas, ter uma visão crítica. A decisão do Supremo deu margem para proibir a circulação de obras como Minha luta, do Adolf Hitler. Como é possível criticar a obras e suas ideias sem poder lê-la?
ConJur — Ao abordar a questão da transfusão de sangue para testemunha de Jeová (o que é proibido neste religião), o senhor fala que o paternalismo médico não é compatível com a soberania do indivíduo sobre sua vida, corpo, destino, desde que não cause dano a outro. Nesse sentido, como enxerga a proibição do aborto no Brasil?Binenbojm — Quando eu distinguo o direito da pessoa a correr os próprios riscos, seja por uma convicção religiosa não se submeter a uma transfusão de sangue, seja por um desejo de praticar um esporte radical que coloque sua vida em risco, seja o direito a não adotar determinadas medidas de segurança pessoal, o limite é o princípio do dano ao outro. Ou seja, tudo o que diga respeito à minha pessoa e apenas à minha pessoa está dentro da minha esfera de soberania sobre a minha vida, o meu destino e o meu corpo. Veja, por exemplo, o direito à tatuagem. O Supremo já decidiu que concurso público não pode estabelecer restrição a pessoas com tatuagens. É a autonomia do indivíduo sobre seu corpo. O direito a não receber a transfusão de sangue é um risco que a pessoa decide correr por uma profunda convicção religiosa, que tem que ser respeitada pelo Estado e pela sociedade. Agora, quando as decisões individuais interferem na vida e no direito de terceiros, aí há legítimo espaço da sociedade de fazer um balanceamento do exercício da liberdade pessoal com a liberdade de terceiros.
Em relação ao aborto, é uma discussão ainda em aberto na sociedade brasileira. Até que ponto o direito do feto a uma vida autônoma e a partir de que momento ele se torna uma vida que impede a mulher de realizar o aborto? Em relação às primeiras semanas, é um consenso nas nações civilizadas que deve prevalecer um direito à escolha individual da mulher. Mesmo que daquele embrião originário possa resultar uma vida humana, ainda não há uma autonomia de vida em relação à mãe nem um sistema nervoso central formado, nenhuma identidade que possa limitar tão severamente o direito da mulher ao próprio corpo. Por outro lado, quando há um desenvolvimento embrionário já muito avançado, a partir do sexto mês de gravidez, permitir o aborto seria algo muito próximo da privação da vida de um ser humano. A discussão no Brasil precisa tomar um contorno mais racional, de saber que a mera criminalização não impede que milhões de abortos sejam praticados. Eu tenderia a defender uma lei que permitisse a prática do aborto até determinado período de tempo, que fosse um período compatível com a não existência autônoma do feto.
ConJur — A autonomia ao corpo permite que pessoas possam se recusar a tomar vacinas contra uma doença como a Covid-19?Binenbojm — Quando escrevi o livro, não estava pensando na Covid-19 nem na declaração do presidente Bolsonaro sobre isso [“ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina"]. Não existe um direito individual de liberdade a não se submeter a uma campanha de vacinação pública para doenças infectocontagiosas, porque o exercício da liberdade individual pressupõe que viver é conviver, a liberdade deve respeitar o direito à vida e à saúde dos outros. Há duas razões muito consistentes para se optar por uma campanha de vacinação obrigatória. A primeira é que, em doenças infectocontagiosas, como a sociabilidade é um fato, as pessoas circulam livremente, a não vacinação coloca em risco a vida de outras pessoas e não apenas daquela pessoa que não se submete à vacinação. A segunda razão é que existe, por um custo muito baixo para a sociedade, uma imunização social, que a gente chama de imunidade de rebanho, que garante não apenas para as pessoas atuais, mas também para as futuras gerações, um livramento em relação àquelas doenças que durante tantos e tantos anos criaram o sofrimento, a infelicidade e a morte de tantos.
ConJur — No combate à epidemia de Covid-19, governos impuseram diversas restrições aos cidadãos e empresas. Como conciliar essas medidas de proteção à saúde pública com as liberdades individuais?
Binenbojm — A pandemia trouxe novas circunstâncias que alteraram a sociabilidade, passando a exigir medidas como isolamento social, controle sanitário e de temperatura, uso de máscara, obrigatoriedade de vacinação, quando houver, e assim por diante. Isso não é a morte da liberdade, se me permite a expressão. Isso é um exercício de liberdade igual, que tem que ser construído democraticamente. Para ter um convívio social livre, é preciso que todos respeitem essas normas. Esse novo balanceamento entre liberdade e responsabilidade faz parte do processo natural de construção institucional de uma sociedade democrática, que tem que se adequar às novas exigências.
ConJur — A proibição ao uso e comércio de drogas não viola a liberdade para dispor do próprio corpo?
Binenbojm — Essa é uma discussão que está no Supremo, e já há alguns votos no sentido de que a posse para uso pessoal de drogas não seria passível de ser criminalizada. Eu concordo com a ideia em tese, mas penso que o mais adequado para a matéria seria um tratamento legislativo que pudesse prever objetivamente que o uso pessoal e a posse de determinadas substâncias entorpecentes não são crime. Mas em relação a outras substâncias, perigosas, altamente viciantes e que possam produzir danos coletivos, eu admitiria e acho até desejável que o Estado tenha controle. Parece claro que a maconha e outras substâncias entorpecentes mais leves deveriam ter um tratamento mais próximo ao do cigarro e do álcool. O caminho da prevenção, do esclarecimento, da regulação, da comunicação, com advertências, deu um bom resultado em relação à redução do consumo de tabaco. Esse caminho é preferível ao da pura repressão penal, que tem uma série de efeitos colaterais, como a corrupção policial e o empoderamento dos grupos econômicos ilegais do tráfico de drogas, que acabam produzindo talvez um mal maior à sociedade do que se fosse legalizado o consumo.
ConJur — O senhor discorda da ideia do ministro Barroso de que as cortes constitucionais podem exercer, além do papel contramajoritário, o papel representativo (entendido como a função de captar o sentimento popular majoritário que tenha sido negligenciado pelos canais de representação política) e o papel de vanguarda iluminista (pelo qual a corte assumiria a tarefa de “empurrar a história e o progresso social”). No Brasil, diversos avanços em termos de liberdade pessoal nos últimos anos foram estabelecidos pelo STF, como a permissão para o aborto de fetos anencéfalos e para a união estável de casais homossexuais. São medidas que dificilmente seriam aprovadas pelo Congresso. Nesse sentido, o STF não está apenas promovendo a liberdade individual, assegurada pela Constituição?
Binenbojm — Nesses casos e em outros que são mencionados no livro o Supremo basicamente cumpriu um papel contramajoritário, de garantia de liberdades individuais que a Constituição assegura e que historicamente eram negadas a essas pessoas. Quando se fala no direito ao casamento homoafetivo, no direito da mulher de promover o aborto de fetos anencéfalos, no direito do público ser informado em campanhas eleitorais ou no direito de as pessoas publicarem biografias não autorizadas, são todos casos em que se tem liberdades individuais que são asseguradas pela Constituição, de forma mais ou menos clara, e que eram restringidas pela legislação ordinária. Nesse sentido, as decisões do Supremo são contramajoritárias. Elas desafiam uma maioria legislativa que aprovou uma lei restritiva em nome de um valor constitucional superior.
A minha discordância em relação a esse artigo doutrinário do ministro Barroso é apenas em conferir ao Supremo Tribunal Federal, como corte constitucional, uma autoridade de representação político-popular. No nosso modelo constitucional, os juízes do Supremo não apenas não são eleitos pelo voto popular como não são controláveis politicamente pelo povo, porque não há eleições periódicas e nem há uma tradição de mecanismos de recall de ministros do Supremo. O Brasil também não adotou na Constituição de 1988 o modelo europeu de mandatos para ministros de cortes constitucionais, como existe na Europa. Os ministros podem ficar na corte até os 75 anos. Isso me leva ao entendimento de que é preciso ter prudência ao se ampliar as competências do Supremo Tribunal Federal para além das suas competências ligadas à aplicação das garantias constitucionais e das regras do jogo democrático, porque o Supremo não tem legitimidade para atuar construtivamente no sentido de exercer uma atividade legislativa, de criação de novas normas. A sociedade discordando dos rumos do país pode eleger outros integrantes do Executivo ou do Legislativo. No caso do Supremo, não. Os ministros podem ficar na corte até os 75 anos.
Com relação ao papel de vanguarda iluminista, a minha crítica é que não é concebível uma instituição política ou jurídica que tenha esse papel. É uma visão um tanto elitista imaginar que alguns ministros possam ditar professoralmente à sociedade quais são os melhores caminhos.
ConJur — O senhor afirma que o risco aos direitos fundamentais dos consumidores justifica a regulação da entrada em profissões como direito, medicina e engenharia. Essa regulação já não é exercida pelo Ministério da Educação na fiscalização dos cursos universitários? Sendo assim, não é um abuso exigir que uma pessoa que se forma em um curso de direito regular tenha que prestar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil?
Binenbojm — Objetivamente, a minha resposta é não. O Ministério da Educação cumpre mal esse papel no Brasil. Você poderia responder à sua pergunta simplesmente dizendo: "Ok, Gustavo, mas então que cumpra bem". É verdade, mas a proliferação de cursos caça-níqueis, que não têm a menor condição de funcionar, que não dão uma formação mínima ao profissional e que, consequentemente, despejam no mercado anualmente ou semestralmente milhares e milhares de bacharéis em Direito ou médicos ou engenheiros. Outro dia eu tive a informação de que na só Grande Rio de Janeiro há mais cursos de Direito do que nos EUA inteiro. Isso revela uma desproporção entre as demandas do país, da sociedade e a proliferação desses cursos.
Não existe nenhuma limitação específica a formas de controle como, por exemplo, exigir o exame da OAB. O Supremo já entendeu pela constitucionalidade da previsão legal do exame de Ordem. A prova ainda é um instrumento útil para se garantir um mínimo de qualificação aos bacharéis, que prestarão um tipo de serviço que é essencial para a garantia da vida, do patrimônio e da liberdade das pessoas. E que não tem uma aferição pelo mercado que possa ser feita independentemente desse controle de entrada. Por exemplo, bens de consumo em geral são melhor selecionados pela livre concorrência no mercado.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


