Por que há tantos problemas no instituto da colaboração premiada?
10 de dezembro de 2019, 6h03
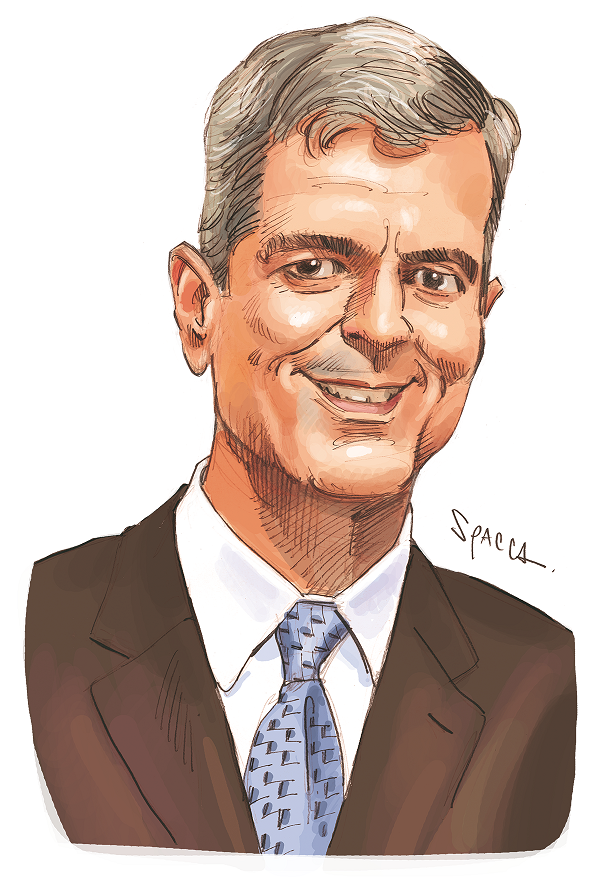 A Lei 12.850/13, que definiu o instituto da colaboração premiada no Brasil, não foi elaborada para esse fim. O texto, na verdade, visava à solução de outro problema: a ausência de tipificação do delito de organização criminosa — uma questão que acabava por provocar diferentes interpretações entre os tribunais. Resolvido esse ponto, o legislador introduziu no documento a colaboração premiada como meio de obtenção de prova. Começaram, então, os problemas na aplicação dessa ferramenta.
A Lei 12.850/13, que definiu o instituto da colaboração premiada no Brasil, não foi elaborada para esse fim. O texto, na verdade, visava à solução de outro problema: a ausência de tipificação do delito de organização criminosa — uma questão que acabava por provocar diferentes interpretações entre os tribunais. Resolvido esse ponto, o legislador introduziu no documento a colaboração premiada como meio de obtenção de prova. Começaram, então, os problemas na aplicação dessa ferramenta.Além da falta de procedimento para dar início a um acordo de colaboração, outras brechas foram aparecendo com o decorrer do tempo. É fato que os tribunais têm se esforçado para dar soluções adequadas aos problemas que surgem, mas isso ainda está longe de significar uma boa aplicação da lei.
Antes da Lei 12.850/13, a colaboração era aplicada de forma empírica. Enquanto o primeiro grau produzia seus contratos, a PGR e o Supremo Tribunal Federal davam balizamento ao instituto. E isso fica claro nos casos em que acordos com sanções premiais sem precedentes no sistema penal brasileiro acabaram vedados pelo STF.
Nesse ponto ainda não se firmou uma posição clara na corte, embora lateralmente a questão tenha sido debatida na Questão de Ordem 7.074, quando alguns ministros entenderam que as penas podem ser diferentes das previstas na legislação, desde que não sejam mais gravosas. Também houve casos em que as penas começaram a ser executadas antes mesmo de iniciado o processo, numa clara e contraditória inovação de cumprimento de sanções sem o devido processo penal.
Nesses casos sequer há como avaliar a eficácia da colaboração, porque de início as sanções premiais são concedidas. Surge, portanto, a indagação sobre a possibilidade de rescisão caso a colaboração não atenda um ou mais requisitos previstos em lei. O problema aqui é que o colaborador oferece os meios de obtenção de prova, e não a prova, cabendo aos órgãos de persecução se dedicarem a essa busca.
Isso nos coloca diante de outra questão: por que a avaliação dessa eficácia não é feita no juízo de homologação? A resposta tem sido que, nessa fase, caberia ao magistrado verificar tão somente a voluntariedade, regularidade e legalidade do acordo. Esse critério já demonstrou não ser o melhor, diante das inúmeras colaborações que tiveram as denúncias rejeitadas por ausência de dados de corroboração.
Se isso é fato constatado, a legislação tem que evoluir, ou, ao menos, a jurisprudência. A legalidade não pode ficar restrita ao mero controle de cláusulas constitucionais ou de penas. Deve ir além para verificar se dentro da lista de assuntos trazidos pelo colaborador há elementos ou dados de corroboração. Não que o magistrado proceda um juízo de mérito sobre isso, mas o Ministério Público deveria fundamentar o que o motivou assinar aquele acordo, indicando, ainda, que há elementos suficientes para que as ações penais possam ser deflagradas no futuro.
Outra questão que segue a aparecer diz respeito às supostas omissões, ou seja, a fatos não narrados pelo colaborador. Ocorre que o colaborador narra os fatos que conhece e não os que se deram em seguida. Isso tem que ficar claro porque setores do Ministério Público enxergam omissões onde elas não existem, seja por divergirem da narrativa do colaborador ou porque gostariam de ir adiante do narrado e não conseguem. Explico com um exemplo: quando o colaborador afirma que entregou dinheiro para o diretor de uma empresa ele só pode narrar isso, pois, da porta para dentro, se houve distribuição a outros funcionários, isso não lhe compete saber.
Observe-se que os anexos são as narrativas de fatos que o colaborador presenciou, mas há um limite de conhecimento do que foi feito do fato para frente e isso não pode e não deve ser interpretado como omissão. Se for assim a segurança do instituto está em jogo. Aliás, já está em jogo diante da postura de alguns operadores do Direito.
Os acordos de colaboração normalmente preveem cláusulas de repactuação ou de rescisão, embora a Lei 12.850 não trate expressamente disso. Mas o que estamos vendo não é o fiel cumprimento dos pactos celebrados. Diante de qualquer problema decorrente de uma suposta omissão o Ministério Público tem recorrido ao pedido de rescisão.
Se estamos diante de um negócio jurídico personalíssimo, como já decidiu o STF no HC 127.483, relatado pelo ministro Dias Toffoli, o correto seria o procedimento de repactuação. As partes devem ajustar suas avenças para que o Estado não perca de um lado as provas produzidas e de, outro, o colaborador não perca as sanções premiais que lhe foram prometidas. E nem estou avaliando a questão de culpa na rescisão, porque evidentemente ela é que ditaria ao final quem ficaria sem o que foi pactuado.
A indagação aqui é outra: por que o interesse de rescindir um acordo de colaboração? Não acredito no argumento da suposta omissão. Não me convence que tenha força para isso quando é possível a repactuação. Na atual quadra da história também há interesse dos delatados em minarem o acordo de colaboração premiada, interesse justo na defesa dos seus direitos. Mas o interesse que deveria se sobrepor é o do Estado na manutenção do pacto firmado, porque se não for assim correrá o risco de perder também as provas.
Questão já debatida sobre a homologação me leva a indagações. Compete ao relator homologar a colaboração premiada, conforme amplo debate na Questão de Ordem 7.074. Mas por que o relator deve levar ao colegiado eventual pedido de repactuação ou rescisão do acordo? O relator não teria os mesmos poderes em relação a deliberação da homologação? Além disso, a questão para reflexão é a de que o colaborador dificilmente terá instância recursal quando este fato se der no âmbito da Suprema Corte. No caso de o relator decidir, ainda caberia ao colegiado, turma ou plenário analisar a decisão monocrática do relator.
E ainda tenho que o instituto comportaria, nesses casos de pedidos de repactuação ou rescisão, uma audiência de conciliação entre as partes, fato este que poderia apontar para uma solução justa de preservação das provas e das sanções premiais com a supervisão judicial.
De outro lado, com a recente decisão do STF sobre a competência da corte para processar e julgar os casos de detentores de prerrogativa de foro fica a indagação se ainda haveria a competência para julgar eventuais pedidos de repactuação e/ou rescisão de acordos decorrentes de delatados que perderam essa prerrogativa. Se inicialmente essa competência deu-se em razão dos delatados gozarem dessa prerrogativa uma vez decidido que ela não mais subsiste tampouco a corte poderia ter essa competência. A solução natural seria a declaração de incompetência do tribunal seguindo a mesma lógica da recente decisão tomada, porque senão estamos diante de um paradoxo: a corte vai avaliar um pedido de rescisão onde sobre fatos de delatados que não mais detém a prerrogativa existente e cujo juízo natural não mais subsiste.
Há inúmeros outros fatos que estão sendo avaliados e que já tiveram decisões recentes, como o caso de os delatados falarem por último no processo, atendendo-se as garantias da ampla defesa e do contraditório. Isso demonstra que ainda cabem correções ao instituto da colaboração premiada mas o que devemos indagar é se queremos a sua preservação ou a sua destruição. Evidentemente que há inúmeros detratores porque não o enxergam como um mecanismo de defesa posto à disposição do investigado. Mas sobrepondo essa discussão a pontuação que interessa aqui é a de aperfeiçoar os acordos de colaboração e só o faremos com as contribuições construtivas da doutrina e da jurisprudência.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


