Controle judicial da burocracia regulatória: o precedente City of Arlington
10 de agosto de 2019, 6h24
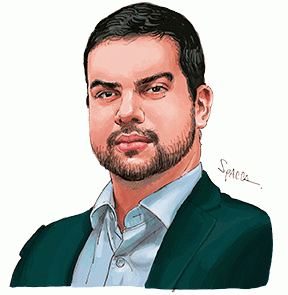 “É obrigação do Judiciário não apenas confinar-se a si mesmo na sua função própria, mas garantir que os outros Poderes façam isso também.” A frase é do atual chief justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, em seu voto divergente (dissent) no precedente City of Arlington v. FCC, de 2013[1], em que o tribunal resolveu manter intocada (por enquanto) a doutrina extraída de uma decisão de 30 anos atrás: Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, o precedente que estabelecera a ideia de que o Judiciário não possuiria “capacidade técnica” para revisar decisões de agências regulatórias e órgãos de controle — o juiz deveria, então, prestar deferência à interpretação administrativa.
“É obrigação do Judiciário não apenas confinar-se a si mesmo na sua função própria, mas garantir que os outros Poderes façam isso também.” A frase é do atual chief justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, John Roberts, em seu voto divergente (dissent) no precedente City of Arlington v. FCC, de 2013[1], em que o tribunal resolveu manter intocada (por enquanto) a doutrina extraída de uma decisão de 30 anos atrás: Chevron U.S.A. Inc. v. Natural Resources Defense Council, o precedente que estabelecera a ideia de que o Judiciário não possuiria “capacidade técnica” para revisar decisões de agências regulatórias e órgãos de controle — o juiz deveria, então, prestar deferência à interpretação administrativa.
Em três décadas, porém, Chevron gerou uma infinidade de problemas, sendo o mais grave deles a subversão da ordem constitucional americana e a sua substituição por um Estado burocrático — processo que se iniciou com o progressismo de Woodrow Wilson, firmou-se com o New Deal de Franklin Delano Roosevelt e continuou com o Great Society de Lyndon Johnson, sendo Chevron apenas a coroação judicial da longa marcha de quase um século, a marcha para a criação do Fourth branch of government: o “Quarto Poder”, a burocracia reguladora.
“Quando essa transformação ocorreu”, diz o professor John Marini, “tal como houve no século XX, a soberania do povo, estabelecida na Constituição, foi substituída pela soberania do governo, entendido nos termos do seu conceito moderno de Estado técnico ou burocrático”[2].
Entretanto, não é justo afirmar que todos os que apoiaram Chevron v. NRDC pretendiam a subversão da ordem constitucional dos Founding Fathers da América. Para alguns, as consequências do precedente apenas foram percebidas muito mais tarde, com o agigantamento dos poderes da burocracia administrativa.
Um exemplo de grande defensor da Chevron doctrine que, ao fim da vida, passou a revisar sua posição foi o justice Antonin Scalia, um originalista[3]. Para Scalia, o propósito desse precedente era evitar um outro perigo à Constituição: o ativismo judicial, que fazia com que juízes, imbuídos de retórica social, invadissem as competências do Poder Executivo para apitar políticas públicas. Chevron, então, funcionaria como uma barreira às tentações do ativismo, um no trespassing em relação ao terreno próprio do Executivo.
Por mais que a preocupação seja genuína, a receita não foi a mais adequada. Os defensores do administrative state sabiam que Chevron traria de brinde, em última instância, dois efeitos mais profundos, cogitados desde Woodrow Wilson e Franklin Roosevelt: de um lado, obrigar os juízes a praticarem sempre deferência às interpretações administrativas faria com que o Judiciário abrisse mão de sua função própria, dizer o Direito, papel agora delegado às agências regulatórias e órgãos de controle sob o pretexto da “competência técnica”; de outro lado, a total inexistência de controle judicial da regulação fez com que o Congresso passasse a terceirizar decisões difíceis (próprias ao debate legislativo, pelo seu impacto sobre a população) para as agências reguladoras, beneficiárias de uma absoluta “imunidade judicial”, enquanto parlamentares preferiam redigir normas “programáticas”, metas, pura retórica sem conteúdo legislativo, que lhes preservasse do custo político das grandes questões.
O resultado final é o agigantamento da burocracia regulatória e controladora, imune à revisão do Judiciário, dotada de poderes inquestionáveis delegados por um Legislativo enfraquecido, autônoma e independente em relação ao próprio Executivo que a criou, mas do qual não quer contrair a doença da “política”, em detrimento da “técnica” — sobre essa autonomia, o presidente Kennedy teria respondido a um interlocutor: “Eu concordo com você, mas eu não sei se o governo vai concordar”[4].
Nesse contexto se insere a sentença do chief justice John Roberts, que abriu este artigo. Foi justamente Antonin Scalia que redigiu a opinion of the Court no precedente de Arlington, seguido pelos justices Clarence Thomas (outro originalista) e pelo grupo dos liberal justices, progressistas: Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ruth Bader Ginsburg e Stephen Breyer (a opinião deste último, aliás, pretendia avançar ainda mais).
Mas a corte deu os primeiros sinais de que a unanimidade de Chevron chegara ao fim: Roberts redigiu um vigoroso dissent ao voto de Scalia, no qual foi seguido por Samual Alito e Anthony Kennedy. A situação, por si, era estranha, pois Roberts e Alito eram tradicionais acompanhantes das opiniões de Scalia.
Não nessa matéria. “Chevron é uma importante garantia contra o Judiciário arrogar-se o direito de fabricar políticas públicas conferidas, sob a separação de Poderes, mais propriamente ao Executivo”, admite Roberts. “Mas há uma outra questão em jogo”, continua, “não menos firmemente enraizada em nossa estrutura constitucional. Trata-se da obrigação de o Judiciário não apenas confinar-se a si mesmo na sua função própria, mas garantir que os outros Poderes façam isso também”[5].
De fato, se o Judiciário deve exercitar sua contenção para não invadir a esfera positiva da feitura das leis e a condução executiva das políticas públicas definidas pelo presidente eleito, possui também o dever de julgar quando as autarquias do Executivo invadem o terreno próprio do debate legislativo e também quando o Legislativo entrega, sem poder fazer isso, suas competências constitucionais próprias aos órgãos de regulação e de controle.
John Roberts inicia seu voto lembrando que, antes de resolver se a interpretação administrativa merece deferência do Judiciário, é preciso responder à questão imediatamente anterior: se a agência possui competência para fazer aquela interpretação.
Quem deve decidir se o órgão possui competência para adotar uma interpretação administrativa não é o próprio órgão, sob pena de criar-se uma instância revisora de si mesma, portanto, infalível (um atributo ainda inverificável nas instituições puramente humanas). Sobre isso, aliás, o chief justice relembra, em seu voto, as palavras de um dos fundadores da América, James Madison, em O Federalista, nº 47: “a acumulação de todos os poderes — legislativo, executivo e judiciário — nas mesmas mãos… pode ser com razão chamada de a verdadeira definição da tirania”.
A Constituição confiou ao Judiciário o papel fundamental de dizer o Direito; portanto, ao Judiciário cabe estabelecer se uma matéria é legislativa (logo, regra de lei, sujeita à interpretação judicial) ou se ela é uma questão de regulamento, referente aos detalhes técnicos que o Legislativo pode confiar (quando houver realmente confiado) aos técnicos administrativos.
De fato, é uma questão de lógica que, antes de decidir, quase num automatismo, adotar a deferência judicial às interpretações de agências regulatórias e órgãos de controle, seja indagado se existe o próprio poder de o órgão realizar aquela interpretação.
“Minha discordância com esta Corte é de fundamento e pode ser facilmente expressada: um tribunal não pode prestar deferência a uma agência até que o tribunal decida, por si mesmo, se a agência é titular daquela deferência. As cortes devem prestar deferência a uma interpretação administrativa da Lei quando e porque o Congresso conferiu àquela agência autoridade interpretativa sobre aquela questão. Uma agência não pode exercitar uma autoridade interpretativa antes de tê-la; se a agência possui essa autoridade é questão para ser decidida pelo Judiciário, sem deferência à agência.”[6] O parágrafo, com notas de evidência, é a abertura do dissent de Roberts.
Talvez a constatação do chief justice, ou melhor, sua preocupação urgente, pudesse ser literalmente aplicada ao Brasil: “O Estado Burocrático ‘exerce um grande poder e atinge quase todos os âmbitos da vida cotidiana’. […] Os Fundadores dificilmente poderiam ter vislumbrado a ‘vasta e variada burocracia federal’ dos dias de hoje e a autoridade que as autarquias administrativas possuem sobre as nossas atividades econômicas, sociais e políticas. ‘O Estado Administrativo, com suas resmas de regulamentos, lhos deixaria esfregando os olhos’. […] E a burocracia federal não pára de crescer: nos últimos 15 anos, o Congresso permitiu mais de 50 novas agências. […] E mais está a caminho”[7].
O fato é que, depois de City of Arlington, e percebendo os rumos que o autoritarismo regulatório tomou no segundo mandato de Barack Obama, o próprio Antonin Scalia passou a se aproximar da opinião externada por John Roberts, em um precedente de 2015, Perez v. Mortgage Bankers Association: “uma agência não pode se utilizar de regulamentos interpretativos para obrigar as pessoas como se fossem leis, porque permanece sendo responsabilidade do Judiciário [definir] se uma Lei significa o que a agência diz que ela significa”, afirmou Scalia[8].
Atualmente, a Suprema Corte possui maioria para a superação do precedente Chevron, formada por John Roberts, Samuel Alito e Clarence Thomas (que já se manifestaram em juízo) e os novos justices indicados pelo presidente Donald Trump, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh (que se manifestaram enquanto juízes de apelação ou academicamente).
Casos recentes restringiram significativamente o poderio das agências regulatórias e órgãos de controle, através da revisão judicial para interpretação da lei, restabelecendo a função específica do Poder Judiciário: Pereira v. Sessions (2018), opinião redigida por Sotomayor (um caso que envolve um brasileiro como peticionante); Wisconsin LTD. v. United States (2018), opinião redigida por Gorsuch; e o recentíssimo Kisor v. Wilkie (2019), opinião redigida por Elena Kagan, em que a corte avançou ainda mais nas restrições à deferência judicial, afirmando, entretanto, que ainda aguarda a chegada de um caso apropriado ao overruling da linhagem oriunda de Chevron v. NRDC.
[1] Dissent de John Roberts, City of Arlington, TX v. FCC, 569 U.S. 290 (2013), pp. 16-17.
[2] MARINI, John A.; MASUGI, Ken (ed.). Unmasking the administrative state: the crisis of American politics in the twenty-first century. New York: Encounter Books, 2019; p. 13.
[3] Resumidamente, o originalism defende que o sentido de uma norma deve ser aferido pelo significado original e ordinário de seu texto escrito, como o compreenderiam as pessoas que o adotaram. O purposivism, ao contrário, defende que o sentido de uma norma depende do fim ou propósito que o intérprete deseja atingir com ela.
[4] WALLISON, Peter J. Judicial Fortitude: the last chance to rein in the administrative state. New York: Encounter Books, 2018; p. 144.
[5] Traduzimos o início da sentença final de duas formas diferentes, neste trecho e no começo do artigo, apenas por adaptação estilística aos dois momentos do texto, sem perda do sentido.
[6] Dissent de John Roberts, City of Arlington, TX v. FCC, 569 U.S. 290 (2013), p. 1.
[7] Suprimimos as citações internas de Roberts, que podem ser consultadas à p. 2 de seu dissent.
[8] Scalia concurring, Perez v. Mortgage Bankers Ass’n, 135 S. Ct. 1199, 1211 (2015).
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


