Texto de Sotelo sobre Vladimir Herzog parte de uma premissa errada
20 de julho de 2018, 14h45
Marcio Sotelo Felippe brindou-nos com uma fecunda e instigante reflexão em torno da punição dos torturadores do jornalista Vladimir Herzog. Seu belíssimo texto parte, no entanto, de uma premissa errada. O Brasil não foi condenado por recusar a jurisdição internacional, mas, sim, para que no âmbito do seu Direito interno apure-se e, eventualmente, condenem-se os agentes torturadores e, inclusive, seus mandantes.
Antes de avançar, esclareço que não passei ao largo das mais que relevantes questões trazidas pelo jurista Marcio Sotelo Felippe. Conheço pelos jornais os documentos liberados pelo Departamento de Estado dos EUA dando conta das aprovações seletivas das execuções feitas pela alta cúpula do Exército e pelo próprio presidente Geisel. Obviamente, não ignoro o Holocausto contra o povo judeu, que dizimou parte de meus familiares, nem o morticínio, verdadeiro genocídio, praticado pelo Estado turco contra os armênios. Idem no que diz com os massacres havidos mais recentemente em Ruanda e nos Balcãs. Todavia, meu artigo, assim como meu depoimento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tinha o objetivo, exclusivo, de relatar os fatos a partir do Direito interno.
Como quer que seja, o caso brasileiro não pode ser comparado a nenhum dos gravíssimos eventos acima citados. Aqui houve, de forma localizada, repressão ilegal e atroz, com casos de tortura e morte. Os bárbaros crimes praticados em Ruanda e nos Balcãs se deram em grande escala, vitimaram dezenas de milhares de pessoas e, bem por isso, foram alvo da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. No caso brasileiro, dada a abissal diferença, não se preconiza isso. A discussão é mais restrita e cifra-se em saber se é possível opor a Lei da Anistia, a prescrição penal ou mesmo a coisa julgada material como óbices à apuração dos crimes praticados pelos torturadores e seus mandantes. Gostaria, no meu íntimo, que estes e aqueles ardessem no inferno, mas insisto no ponto com o qual encerrei meu texto:
A democracia, gostemos ou não, só é verdadeira quando respeitadas as formas instituídas pelo Direito legitimamente posto. Fora daí o que se tem é a prática do arbítrio. Por isso, direitos e garantias individuais não podem ser transpostos ou violados, máxime em matéria tão sensível quanto a penal. Os interesses coletivos na punição encontram limites que, em última análise, dizem com a própria sobrevivência da sociedade politicamente organizada e não podem ser invocados em detrimento do direito posto por mais nobres que sejam os fins e os valores perseguidos.
Começo pela questão da Lei da Anistia. Conheço os respeitáveis entendimentos de que esta, como sustenta Marcio Sotelo Felippe, foi uma imposição da ditadura militar para pavimentar o caminho de uma abertura lenta, gradual e segura, e não, como assinala Sotelo, da sua legitimação. Ditaduras não se legitimam por promover anistias. Não concordo também com a ideia de que a oposição de esquerda estivesse dizimada. Dizimada estava apenas a oposição armada. Havia forte oposição em 1979 ao regime militar, inclusive de esquerda. Em 1977, tivemos o reaparecimento do movimento estudantil, com amplos protestos nas ruas e a reconstrução das entidades estudantis. Aliás, em 1979, tivemos o memorável Congresso de reconstrução da UNE em Salvador, do qual participei como delegado da minha faculdade. Portanto, não é exato que em 1979 não houvesse “o mais remoto vislumbre de fim da ditadura”, mesmo porque o famigerado AI-5 fora revogado em 1978. Em 1980, tivemos a histórica greve dos metalúrgicos do ABC, berço do PT, e, em 1982, três anos após a anistia, tivemos eleições com ampla maioria de governadores da oposição que fora eleita. Lembremo-nos que o regime militar já sofrera um revés nas urnas em 1974. Não é por acaso que expressões democráticas como as de Nilo Batista, Sepúlveda Pertence e, lá atrás, do saudoso Raimundo Faoro, sustentem ter havido uma negociação, e Nilo fale em conquista democrática referindo-se à Lei da Anistia.
Mas, ainda que se ignore tudo isso, ou, com boas razões, se tenha uma apreciação diferente do nosso processo de transição política, o fato, insofismável, é que a anistia foi incorporada à Constituição. O texto da Emenda Constitucional 26/85 é claro:
Art. 4º É concedida anistia a todos os servidores públicos civis da Administração direta e indireta e militares, punidos por atos de exceção, institucionais ou complementares.
§ 1º É concedida, igualmente, anistia aos autores de crimes políticos ou conexos, e aos dirigentes e representantes de organizações sindicais e estudantis, bem como aos servidores civis ou empregados que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação exclusivamente política, com base em outros diplomas legais.
§ 2º A anistia abrange os que foram punidos ou processados pelos atos imputáveis previstos no "caput" deste artigo, praticados no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
(…)
Em novembro de 1985, quando se convocou a Assembleia Nacional Constituinte, bem ou mal, mal ou bem, já vivíamos sob uma democracia; se não a ideal, a possível. É nesse contexto que a Anistia é reafirmada e incorporada ao nosso ordenamento. Portanto, não se pode dizer que se trata de uma farsa como se deu em outros países. Ato válido e necessário para transpor o regime militar, isto é, para sairmos do atoleiro em que nos encontrávamos. Pouco se me dá se a norma fundamental de Kelsen é “vazia de conteúdo” como quer Marcio Sotelo Felippe, o fato é que a Emenda Constitucional n. 26 de 1985 não pode ser ignorada e nem é indiferente o que ela dispõe. No entanto, pensa o Autor do “Estado brasileiro fora da lei” que esta República é triste porque todo o ordenamento jurídico do país pós-1988 “destina-se a proteger assassinos e torturadores”.
Ora, a Anistia pressupõe esquecimento de parte a parte. Pensemos no que passou pela cabeça de Juscelino Kubitschek quando anistiou os militares revoltosos de Aragarças? E Luis Carlos Prestes que apoiou Getúlio Vargas, seu algoz (e de sua mulher, Olga Benário) no Estado Novo? Ainda: o que sente o povo do Vietnam em relação aos crimes de guerra praticados pelo exército americano? Hoje o maior parceiro comercial do Vietnam é exatamente os EUA. A história está repleta de fatos históricos marcados pela injustiça, mas que serviram para superação de males maiores.
O crime de tortura é imprescritível? Antes de 1992, à luz do direito interno, não. Nossa Constituição não dispõe dessa maneira e nem a lei que instituiu o crime de tortura com esse nomen juris. É só ver. Quando a Constituição de 88 quis declarar a imprescritibilidade de um crime o fez as claras conforme se vê em relação ao racismo e também na “ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático” (cf., respectivamente, art. 5º, incs. XLII e XLIV). Ao cuidar da tortura o constituinte se limitou a estabelecer que esta prática será considerada pela lei crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia (art. 5º, inc. XLIII). A Constituição, portanto, não qualificou o crime de tortura como imprescritível e nem, tampouco, a Lei n. 9.455/97 (cf. art. 1º, §6º).
A prescrição no direito penal brasileiro é causa extintiva da punibilidade regulada pelo Código Penal no seu art. 107, IV. Mais do que impedir a perseguição penal, atinge a pena, apagando-a, quando imposta. É, portanto, regra de direito material que se sujeita à garantia da irretroatividade da lei mais gravosa (CF, art. 5º, inc. XL: “ A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”). Qualquer regra posterior ao crime que interfira na sua aplicação, ainda que de origem constitucional ou decorrente de tratados internacionais firmados pelo Brasil, não pode incidir sem que se ofenda a aludida garantia constitucional.
Portanto, a verificação da imprescritibilidade para os crimes de tortura ocorridos antes da subscrição do Pacto de San José de Costa Rica pelo Brasil, em 1992, encontra óbice (limite) na regra da irretroatividade da lei mais gravosa instituída pela Constituição de 1988 (CF, art. 5º, inc. XL: “ A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”), aliás, na linha do que já se estatuía desde a Carta Outorgada de 1824 (art. 179, inc. III) e todas as sucessivas Constituições do período republicano (1891, art. 11, n. 3; 1934, art. 113, n. 27; 1937, art. 122, inc. 13; 1946, art. 141, §29; 1967, art. 150, §16, e 1969, art. 153, §16).
A própria Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) estabelece no art. 9º o princípio da legalidade e a retroatividade benéfica, excluindo de modo claro a incidência de tratamento penal mais gravoso do que o vigente à época dos fatos [Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento em que foram cometidos, não constituam delito, de acordo com o direito aplicável. Tampouco poder-se-á impor pena mais grave do que a aplicável no momento da ocorrência do delito. Se, depois de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição de pena mais leve, o delinquente deverá dela beneficiar-se].
O Estatuto de Roma só entra em vigor entre nós em 2002 e tem regra expressa no sentido de que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional só pode incidir para casos posteriores.
Afora o mais, em 1968, consoante já mencionado no nosso artigo anterior, foi editada a Convenção sobre Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes contra Humanidade. Todavia, o Brasil não aderiu a tal instrumento normativo, de modo que ele não foi internalizado. Nenhum outro instrumento normativo que estabelecesse claramente a mesma imprescritibilidade foi internalizado pelo Brasil, sendo necessário lembrar que instrumentos de Direito Internacional Público que não se submete a processos de internalização, como é o caso de resoluções da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em princípio não se aplicam internamente. Daí o voto do Min. Celso de Mello na ADPF 153 que julgou a constitucionalidade da lei da Anistia:
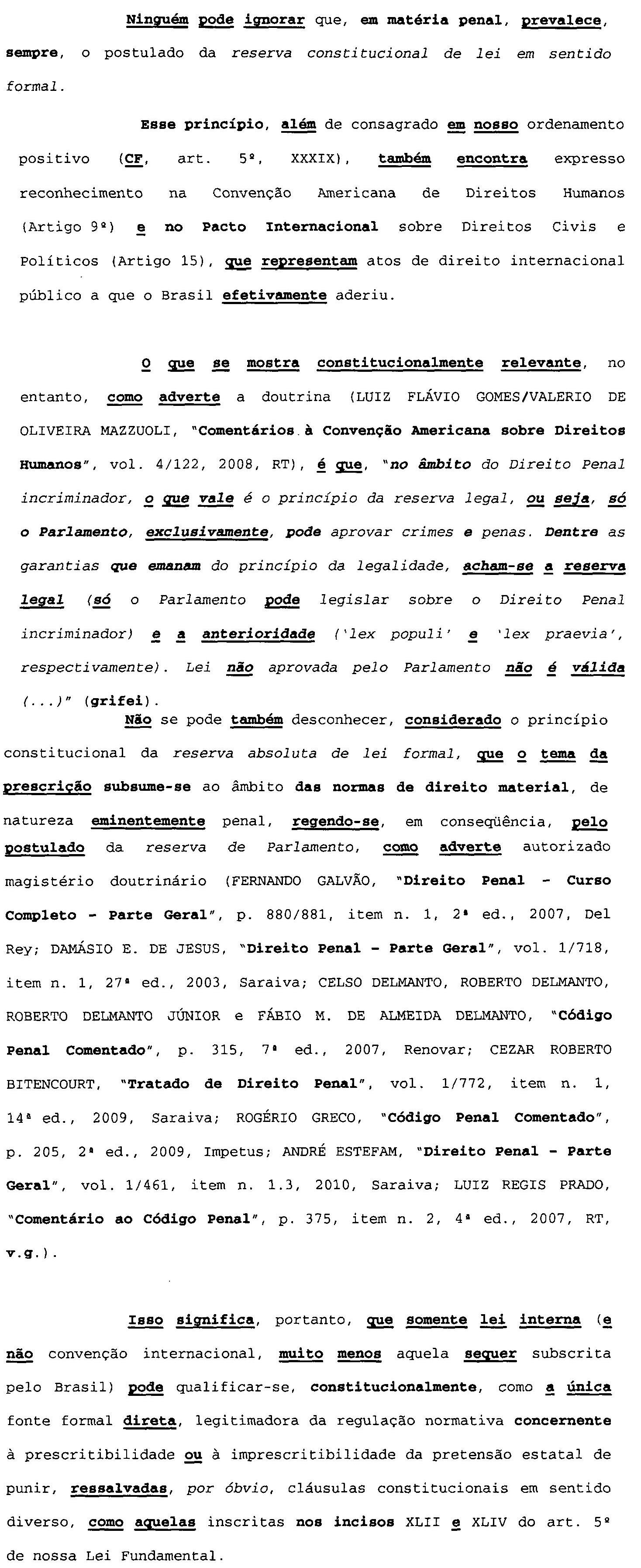
Penso, no ponto, exatamente como o ministro Celso de Mello e, também, como o procurador da República Fábio Elizeu Gaspar, que promoveu o arquivamento do expediente de colegas seus que sugeriam a reabertura do caso Herzog.
A questão da coisa julgada material. Quando o TJ-SP trancou o inquérito policial instaurado para apurar o assassinato do “Capitão Ramiro”, o recurso especial não foi conhecido. Portanto, a decisão que bem ou mal aplicou a Lei da Anistia transitou em julgado. Isso não pode ser objeto de revisão por causa de tratados posteriores ao crime que o Brasil firmou. Os tratados internacionais não podem ofender a coisa julgada e, tampouco, impor uma revisão pro societate.
Haveria muito mais o que dizer, mas nunca é demais pensar com os olhos postos no que se ganha com o respeito a negociações feitas no passado e que nos permitiram sair da ditadura. Mais do que isso, o quanto é importante não embarcarmos no punitivismo cego, que desrespeita garantias, em nome de uma ética que mais destrói do que edifica uma sociedade melhor. É só pensar na "lava jato" para se ter uma ideia do que se afirma.
Aludindo ao Estado de Justiça, tomada esta como um conceito absoluto, abstrato e idealista, cuja matriz pode ser encontrada no conceito hegeliano do Estado Ético, José Afonso da Silva chama a atenção para o fato de que essa concepção fundamentou o Estado fascista[1], qualificado, na expressiva síntese de Elías Díaz, como “totalitário y dictatorial donde los derechos y libertades humanas quedam prácticamente anuladas y totalmente sometidas al arbitrio de un poder político omnipotente e incontrolado, en el cual toda participación popular viene sistemáticamente negada en benefício de la minoría que controla el poder político y económico”[2]. A propósito, segundo esse autor, o Estado Ético era apresentado “como algo superior ao Direito, algo que pode inclusive atuar contra o direito”[3].
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


