"Não tenho a 'suprema volúpia da vaidade', mas só tenho razões para ser modesto"
1 de abril de 2018, 11h45
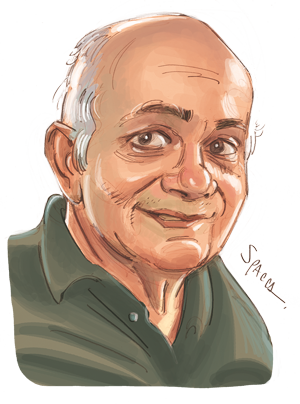
O advogado Sérgio Bermudes participou dos bastidores de momentos definidores do país, como a elaboração da Lei da Anistia e a vitória no caso do assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura, quando o Estado brasileiro reconheceu que praticava a tortura.
Com escritório prestes a completar 50 anos, o advogado planeja já em 2018 dedicar parte do tempo para suas memórias — tarefa auxiliada por 162 pastas com cartas e documentos.
Ele se orgulha de ter acompanhado a atuação “muito aguerrida” da Ordem dos Advogados do Brasil e convivido com “os mais brilhantes advogados brasileiros”, embora diga que “essa coisa de [definir] ‘o maior’ é muito brasileira”. “Genial também. Se a gente diz que Fulano de Tal é genial, onde fica Shakespeare? E Camões?”, diz, depois de ter citado de cabeça, palavra por palavra, passagens dos dois bardos.
Já parafraseando Machado de Assis, declara à ConJur: “Eu não tenho a volúpia suprema da vaidade, mas eu sou modesto e explico por quê”.
Bermudes é um advogado e com orgulho de sê-lo. Na primeira parte desta entrevista, publicada na quinta-feira (29/3), contou por que a advocacia é uma profissão fundamental à democracia. Nesta segunda parte, lembra que anunciar à família no passado que se pretendia cursar Direito era o mesmo que uma filha solteira contar ao pai que estava grávida, no início do século XX no interior do Brasil.
“Quem não dá pra nada faz Direito. Quem não dá nem pra isso, vira diplomata”, brinca Bermudes, citando os conselhos do crítico literário Agripino Grieco ao filho, o embaixador Donatello. Ele tem razões para desdenhar dos conselhos do passado: foi essa profissão que colocou Bermudes em posição de destaque nos mais importantes momentos da história brasileira recente, que ele relembra nesta entrevista.
Leia o segundo capítulo:
ConJur — O senhor tem suas digitais em diversos momentos históricos da maior importância das últimas décadas. Um deles, ao lado do ministro Sepúlveda Pertence e de Raymundo Faoro, foi colocar a OAB como ponta de lança do movimento de transição da ditadura para o regime civil, com apoio à anistia. Como foi esse episódio?
Sérgio Bermudes — A história seria muito longa. Do começo: José Paulo Sepúlveda Pertence é um homem de brilho invulgar, meu compadre, gosto imensamente dele, e lutei por sua candidatura ao Conselho Federal da OAB. Ele é advogado e teve um desempenho acadêmico notável. A contribuição dele como membro do Ministério Público, na liderança estudantil – vou usar um verbo horrível, mas de propósito –, ele exceleu, isto é, foi excelente. Lutamos muito na época da anistia, inclusive na elaboração da Lei da Anistia.
ConJur — Quem participou disso?
Sérgio Bermudes — Nós nos reuníamos para redigir o projeto de lei: Teotônio Vilela, que era uma pessoa excepcional, Dalmo de Abreu Dallari, Rafael de Almeida Magalhães, Sepúlveda Pertence e, como precisavam de alguém na porta, eu. Não é fácil redigir um artigo de lei, porque uma norma jurídica precisa ser genérica para abarcar muitas situações. Mas fizemos e apresentamos um projeto de Lei da Anistia.
ConJur — E Raymundo Faoro?
Sérgio Bermudes — Ele era procurador do Rio de Janeiro, primeiro do estado da Guanabara, depois do Rio. Era um historiador, um homem de grande sensibilidade política, haja vista Os Donos do Poder, e de grande sensibilidade literária – muita gente cita, mas pouca gente leu o livro dele sobre Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, que embora seja um livro denso eu não diria dele o que Agripino Grieco disse de Os Sertões, que Euclides da Cunha escrevia com um cipó e fazia um cipoal. Raymundo Faoro não chegava a escrever com um cipó, mas era muito mais preocupado com o conteúdo do que com a forma. Ele nunca advogou, e não digo isso como uma crítica, apenas constato, faço um retrato. Ele era um historiador, um literata apaixonado, a grande paixão dele era o padre Antônio Vieira, leu todos os sermões, comparava as edições para ver se havia diferenças entre elas. Se eu fosse presidente da República, o nomearia para o Ministério da Justiça várias vezes: era um homem talhado, tinha sensibilidade. Mas ele se candidatou à Presidência do Conselho Federal da Ordem.
Eu era o mais jovem conselheiro federal e apoiei Faoro. O Espírito Santo, meu estado, queria que eu apoiasse o Josaphat Marinho, mas eu entendia que, sim, o conselheiro é um delegado, mas na escolha do presidente, não, vota de acordo com a sua vontade. Votei no Faoro e ele dizia que ganhou por causa do meu voto, porque ele ganhou por um voto. Josaphat morreu me detestando – com toda razão.
ConJur — A OAB desse tempo parece com a do momento atual?
Sérgio Bermudes — Não, porque o tempo não é igual a esse! Essa é a distinção. A OAB era muito aguerrida, concentrava os grandes nomes da advocacia brasileira, Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Seabra Fagundes pai e filho, o Miguel e o Eduardo, Vitor Nunes Leal, José Paulo Sepúlveda Pertence, Eugênio Haddock Lobo e outras pessoas do mesmo naipe, como Evandro Lins e Silva, um dos maiores talentos que a advocacia já teve, e Caio Mário da Silva Pereira. Essas pessoas se empenhavam na luta contra a ditadura.
A Ordem enfrentou um momento difícil. Mas a Ordem daquele tempo era diferente porque o tempo era diferente. Uma coisa curiosa que pouca gente destaca: a Ordem não apenas se transformou na principal instituição contrária à ditadura, como à da vala comum para a profissão de advogado.
ConJur — Em que sentido?
Sérgio Bermudes — O embaixador Donatello Grieco contava que, quando revelou que queria ser diplomata, ouviu a seguinte declaração do pai, Agripino: “Filho, quem não dá para nada vira advogado. Quem não dá nem para isso vira diplomata”. Quando eu entrei na faculdade de Direito, a reação da minha família, sem exagero, foi como a de um fazendeiro do interior do Brasil no início do século XX diante da notícia de que a filha solteira estava grávida — inclusive do meu pai, que era advogado.
A profissão de advogado era considerada menor naquele tempo. Medicina era a rainha das profissões, aceitava-se Odontologia. Engenharia, Arquitetura. Mas o advogado faz um curso de Direito e tinha um deputado do Nordeste que dizia que para se ter uma faculdade de Direito só eram necessárias duas coisas: “Giz e guspe”. Oxalá fosse assim.
ConJur — O senhor foi o autor da petição inicial do caso Vladimir Herzog. Pelo que consta, veio do senhor a ideia de propor uma ação civil pedindo que o Judiciário reconhecesse a responsabilidade do Estado pela morte dele.
Sérgio Bermudes — A família Herzog não queria que eu propusesse uma ação de indenização. A viúva, Clarice, e os dois filhos, André e Ivo, não queriam que alguém pensasse que estavam querendo extrair dinheiro do sacrifício do marido. Normalmente as pessoas lembram de mim quando falam nesse caso. Eu formulei a petição inicial e muitas vezes sou aplaudido por isso, mas quem tem que ser aplaudido é o Judiciário. O juiz Márcio José de Moraes estudou o processo e disse à mulher que ela tinha o direito de pedir que ele se exonerasse da magistratura, mas não que mudasse de convicção, violentasse a própria consciência. Ela disse que estava do lado dele, e Márcio José proferiu a sentença.
A importância da sentença está justamente no fato de ter sido a primeira vez que o Estado brasileiro, por meio de um de seus poderes, proclamou que o próprio Estado usava a tortura como instrumento de investigação de crimes políticos. A essência da importância da sentença é esta: o reconhecimento pelo Estado de que o Estado torturava. É uma sentença que enaltece, enobrece o Judiciário e o juiz que a proferiu, mais do que o advogado que postulou a jurisdição.
ConJur — Não existia uma investigação criminal?
Sérgio Bermudes — Coisa curiosa: o comandante do II Exército baixou uma portaria determinando a instalação de um inquérito para apurar as causas do “suicídio de Vladimir Herzog”. Não era para apurar as causas da morte, era do suicídio. Portanto, já começava determinando o fato: Vladimir se suicidou, agora vamos estabelecer as causas. De todo modo, o Heleno Fragoso viu malograr suas tentativas no âmbito criminal e viu que o Ministério Público pediria o arquivamento do inquérito, como de fato pediu. Por isso a família Herzog decidiu tentar a via cível.
Aliás, o Ministério Público é glorioso, mas no caso Herzog, tanto o Ministério Público Militar quando o do estado de São Paulo tropeçaram e naufragaram. Como os dois filhos do Herzog eram menores, a lei mandava que o Ministério Público zelasse pelos interesses deles, dos órfãos. O MP se recusou e o juiz teve de nomear um membro do Ministério Público ad hoc para atuar no processo.
ConJur — Quando o senhor vai escrever um livro de memórias?
Sérgio Bermudes — Se eu pudesse escrever um livro de memórias, gostaria de colocar nele o título que o Álvaro Moreyra, que era um intelectual, pôs no livro dele: As amargas, não. Se tinha memórias doces e boas, por que falar das amargas? Mas eu não tenho memórias. Rodrigo Octávio tem um livro que se chama Minhas Memórias dos Outros, porque o que se tem são memórias dos outros. Vou dedicar este segundo semestre às minhas memórias. Tenho 162 pastas só com cartas, documentos e curiosidades acerca das pessoas com quem convivi, e convivi com os mais brilhantes advogados brasileiros, sem nunca ter sido membro de escritório de ninguém.
ConJur — Não trabalhou com o Dario de Almeida Magalhães?
Sérgio Bermudes — As pessoas acham que eu integrei o escritório dele, mas não. Trabalhei com ele e em causas de vários outros advogados durante 26 anos. E acho que ele era o maior advogado do Brasil. Se bem que essa história de “o maior” é bastante brasileira, não é verdade? Certa vez fui fazer uma cirurgia de vista em Boston e disse que queria ser operado pelo melhor cirurgião oftálmico dos Estados Unidos. O médico me respondeu que eles nunca tinham feito concurso para saber quem era o melhor, mas que eu seria operado por um médico muito bom. Mesma coisa com “genial”. Se a gente diz que Fulano de Tal é genial, onde fica Shakespeare? E Camões?
ConJur — Então nunca trabalhou no escritório de ninguém?
Sérgio Bermudes — Nunca. Fui estagiário do Oscar Saraiva, mas ele logo depois foi para Brasília ser procurador-geral da Justiça do Trabalho e depois se tornou ministro do Tribunal Federal de Recursos. Logo que concluí o curso, já tinha praticamente fundado meu escritório. Eu me formei no dia 22 de dezembro de 1969 e o escritório, modesto, pequenininho, já estava todo aprestado no fim de dezembro de 69.
ConJur — O senhor sempre teve presença muito marcante na imprensa, aparecendo seu nome ou não. Ao longo dos anos, desenvolveu amizades com os maiores jornalistas brasileiros, como Elio Gaspari, Zózimo Barrozo do Amaral, Marcos Sá Corrêa e Anselmo Gois. Como o senhor avalia a imprensa brasileira hoje?
Sérgio Bermudes — Não é justo excluir as mulheres. Gostaria de acrescentar, ao menos, grandes profissionais como Miriam Leitão, Sonia Racy e Mônica Bergamo. Sou um grande admirador da imprensa brasileira. Os jornalistas brasileiros tentam retratar aquilo que lhes chega ao conhecimento de maneira imparcial e adequada. Eu daria uma nota alta à imprensa brasileira. É claro que você vai encontrar gente da imprensa que deturpa a função de jornalista, usando para os mais diferentes propósitos. Não se pode esperar, porém, que a imprensa seja rigorosamente verdadeira naquilo que noticia. Se a imprensa tiver que fazer um inquérito para apurar a realidade que chega até ela, a atividade se inviabiliza.
Aliás, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência muito sólida no sentido de que é preciso evitar a condenação do jornalista que dá uma notícia inexata ou mesmo falsa sem que o faça por dolo ou sem que ele se afaste do âmbito daquilo que ele noticia. Nelson Hungria conclui o seguinte num acórdão: se o jornalista disser que um político é corrupto na apreciação de determinados fatos, ele não pode ser punido. Agora, se apreciando determinados fatos, afirmar que a mãe do político é prostituta, o profissional responde, porque a matéria não tem nada a ver com o objeto da notícia.
ConJur — Agora, a imprensa de forma geral não é mais composta por esses jornalistas que costumam estar associados ao senhor.
Sérgio Bermudes — A imprensa é um valor maior do que os erros que ela comete. Na apreciação das instituições a gente tem que adotar critérios axiológicos, isto é, critérios de valoração. Então é melhor a imprensa que possa não noticiar adequadamente os fatos do que a imprensa que fique em silêncio e permaneça em silêncio, ou que oculte os fatos. A imprensa não é perfeita, como o Judiciário não é perfeito, como o homem não é perfeito. Entretanto, a imprensa é fundamental, a divulgação de ideias, a submissão dos fatos ao juízo crítico das pessoas que ela atinge… Numa apreciação axiológica, a imprensa, mesmo com os seus erros, vale muito mais do que a sociedade sem a imprensa.
ConJur — O senhor não acha que a chamada grande imprensa tem atuado como assistente da acusação, especialmente com a operação “lava jato”?
Sérgio Bermudes — Teríamos que analisar isso com muito cuidado. A imprensa está tendenciosa ou a imprensa está refletindo o que vai passando pela consciência, pela emoção das pessoas? Todos nós ficamos estarrecidos com o que acontece e a imprensa é sensível a isso. Por que ela se transforma num órgão de acusação? Pelo julgamento que faz daquilo a que tem acesso.
ConJur — Mas acontece o contrário também, não? A publicação insistente de determinadas interpretações dos fatos fazer com que as pessoas de se sintam indignadas.
Sérgio Bermudes — A imprensa é um instrumento de formação de opinião, não há outro instrumento melhor. O ideal seria uma imprensa perfeita que só noticiasse a verdade e que fosse imparcial. Precisamos fazer um seminário para discutir todas essas questões, que são dificílimas: o conceito de justiça, de imparcialidade, a existência de fatores exógenos que pesam sobre a formação de conceitos. São tarefas extremamente difíceis. Agora, a imprensa reflete o momento. Será que a imprensa está acusando gratuitamente ou será que é prejudicada, no sentido etimológico da palavra, por aquilo que vê, que sente? Será que a imprensa não se revolta quando vê que o fornecimento de pão a presidiários é instrumento de roubalheira, como ocorre no Rio de Janeiro? Todo mundo gosta de citar Ortega y Gasset — eu sou eu e minhas circunstâncias —, mas a imprensa é formada por homens. Eu já fui vítima da imprensa, como todo mundo que exerce uma função pública.
ConJur — O senhor teve um conflito com [o ex-governador do Rio de Janeiro] Sérgio Cabral, como foi o episódio?
Sérgio Bermudes — Ele quis desapropriar o meu escritório no Rio de Janeiro: Cabral baixou um decreto declarando que era de utilidade pública o edifício para que ali funcionasse a Assembleia Legislativa. Eu vi e mandei fazer as estimativas: seriam necessários R$ 2 bilhões para adaptar o edifício onde está o nosso escritório para que ali funcione a Assembleia Legislativa. Eu mostrei que o projeto de construção do Tribunal Regional Eleitoral do Rio estava orçado em R$ 92 milhões. Então fui para a imprensa.
Eu estava em Hong Kong, Sergio Cabral me ligou e disse que queria dizer que não tinha nada com isso. Eu perguntei então se a assinatura era falsa. O governador me disse que tinha assinado, que eu sabia como eram as pressões, mas que eu tinha muito prestígio e ele sabia que isso não ia ficar de pé. Eu respondi que não sabia se tinha muito prestígio, mas que tinha muita garra e que iria lutar por todos os meios possíveis. Depois que a procuradora-geral do estado, uma pessoa admirável, Lucia Leia Tavares, mostrou que o estado não teria dinheiro para fazer aquela obra colossal, levaria muito tempo para desapropriar e que haveria uma luta judicial muito grande, o estado recuou.
Conta-se que foi mais um instrumento, que a ideia de desapropriação do edifício foi engendrada pelo Paulo Melo, deputado, e pelo Regis Fischer, que foi meu estagiário. Não gostaria de acreditar nisso, eu prefaciei o livro dele, ele trabalhou junto com o irmão e com o pai no escritório.
ConJur — O senhor tem um amor pela literatura bastante conhecido. Poderia indicar cinco livros cuja leitura seria obrigatória?
Sérgio Bermudes — Poderia indicar 50! Em primeiro lugar Dom Quixote; os livros de Dostoievsky — especialmente Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e O Idiota. Na literatura brasileira eu indicaria vários autores, Machado de Assis, sem dúvida nenhuma, Lima Barreto…, mas vamos ficar entre os clássicos. Há autores esquecidos injustamente, por exemplo, Érico Veríssimo. Não só os livros do campo, veja o Senhor Embaixador e Incidente em Antares. Gabriel Garcia Márquez. Na literatura portuguesa, o José Saramago. Eu sou católico, tenho essa graça, e fiquei chocado com o livro O Evangelho Segundo Jesus Cristo. Achei quase de uma infantilidade ele ter escrito aquilo e escrevi um artigo que pouca gente leu fazendo um desafio a Saramago: “Se você quiser mostrar a sua coragem escreva na mesma linha um livro chamado O Alcorão Segundo Maomé”.
ConJur — Acontece com o senhor o que acontecia com Rui Barbosa, de ser procurado para as causas perdidas?
Sérgio Bermudes — Quando você vai envelhecendo e acumulando experiência é natural que te procurem, que procurem o advogado que é conhecido, que enfrentou causas de grande monta. Eu não tenho aquilo que Machado de Assis chama, em O Elogio da Vaidade, de “a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia”. Eu não tenho a volúpia suprema da vaidade, mas eu sou modesto e explico por quê.
Clement Attlee [primeiro ministro britânico que sucedeu a Winston Churchill em 1945] fazia um discurso no parlamento inglês e dizia que era um homem modesto, ao que Churchill, num aparte importante, disse que o eminente primeiro ministro só tinha razões para ser modesto. Eu sou modesto porque só tenho razões para ser modesto. Mas por que sou procurado? Sou procurado, para repetir Eça de Queiróz, porque tem tabuleta na porta e as pessoas me procuram. E me procuram porque a gente é conhecido, porque o trabalho da gente é aplaudido, porque acabam noticiando o que a gente fez. Então, sem falsa modéstia, eu sou procurado por isso. Mas não sou suficientemente procurado e queria ter mais clientes.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


