"Os excessos deste momento deveriam servir para rever papel do MP e da Justiça"
13 de julho de 2016, 7h30
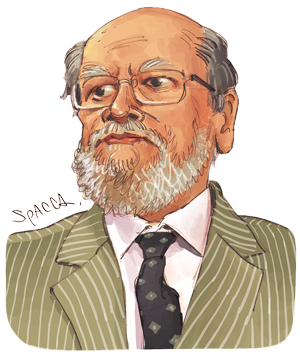 O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal José Paulo Sepúlveda Pertence teve papel de destaque em diversos momentos sensíveis da história do país. Mas ele não trata esses episódios com a solenidade dos historiadores. Costuma contar, por exemplo, que só chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 1989, “porque o Zé Aparecido era solteiro”.
O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal José Paulo Sepúlveda Pertence teve papel de destaque em diversos momentos sensíveis da história do país. Mas ele não trata esses episódios com a solenidade dos historiadores. Costuma contar, por exemplo, que só chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 1989, “porque o Zé Aparecido era solteiro”.No fim dos anos 1950, Pertence era estudante de Direito no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, e vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). E colega de Modesto Justino de Oliveira, de quem já era amigo desde os tempos de escola.
Modesto é irmão de José Aparecido de Oliveira, o “Zé Aparecido”, que na época, além de solteiro, era deputado pela UDN e tinha um apartamento em Copacabana que servia de ponto de encontro para a chamada “bossa nova da UDN”. Entre eles, o deputado recém-eleito José Sarney. Pertence, estudante, sem dinheiro, frequentava o apartamento do irmão do amigo — e lá conheceu o futuro presidente.
Vinte e cinco anos depois, Pertence passou a integrar o ministério de Tancredo Neves, eleito indiretamente presidente da República, mas que morreu sem assumir o cargo. Sarney, vice-presidente, assumiu e manteve a equipe de Tancredo por algum tempo, mas logo a demitiu, mantendo Pertence na Procuradoria-Geral da República.
Hoje, mais de 30 anos depois, no currículo de Pertence está a responsabilidade pelo tamanho que o Ministério Público tem hoje. Ele já disse a Sarney (em 1989) e à ConJur (numa tarde de junho deste ano): “Criei um monstro”. Isso porque Pertence foi um dos entusiastas do projeto de Lei de Ação Civil Pública, ainda antes da Constituição de 1988, que deu ao MP o poder e o papel que ele chama de ombudsman da sociedade. Depois, já como PGR, foi um dos principais porta-vozes das ideias “desse gigantismo do Ministério Público” na Comissão Afonso Arinos, que antecedeu a Assembleia Constituinte.
Pertence também se sente um dos responsáveis pela Ação Declaratória de Constitucionalidade, instrumento jurídico para que o Supremo diga que a lei é, sim, constitucional, caso haja interpretações conflitantes.
Na conversa com a ConJur, Pertence afirma que a ideia ganhou corpo a partir de uma representação de inconstitucionalidade feita por ele contra a Lei de Informática ao STF, de autoria de Renato Archer, seu colega de governo. E o fez depois de receber abaixo-assinado organizado por Roberto Campos, mas junto com a inicial da representação entregou ao Supremo um parecer pela constitucionalidade da lei.
O ministro do STF Gilmar Mendes, autor, ao lado do professor Ives Gandra da Silva Martins, do texto da Emenda Constitucional 3, de 1993, que criou a ADC, conta que Pertence foi parte importante de um processo que começou em 1947, quando Themístocles Cavalcanti, o procurador-geral da redemocratização de 1946, recebeu um ofício do Ministério da Justiça alegando a inconstitucionalidade de uma lei.
Themístocles de pronto disse discordar do ministro da Justiça, mas, como PGR, estava obrigado a representar contra a lei. Ajuizou a chamada representação interventiva de inconstitucionalidade, mas, no parecer, opinou pela constitucionalidade.
Ao comentar a crise pela qual passa o país, o ministro Sepúlveda Pertence afirma que a situação na qual está o país torna seu futuro imprevisível.
Leia a entrevista:
ConJur — Esta é a maior crise pela qual o Brasil já passou?
Sepúlveda Pertence — Não diria que é a maior, mas talvez seja a de desfecho mais imprevisível. A esta altura já vivi muito e vi muitas crises. Desde a adolescência, a crise Vargas, depois, já em Brasília, a renúncia de Jânio, o governo Jango, o golpe de 1964, e depois os 20 anos de regime militar, ora mais duro, ora mais flexível. Mas agora o noticiário do dia a dia, o Ministério Público, que percebo muitas vezes sem controle, e aí me sinto um pouco responsável, essa obsessão com prisões preventivas. Tudo isso torna realmente imprevisível o que virá.
ConJur — O senhor tem uma vida politicamente ativa desde pelo menos os anos 1970, como advogado, depois procurador-geral. A polarização política que vemos hoje é a mesma que existia no Brasil 40 ou 50 anos atrás?
Sepúlveda Pertence — Minha tribuna de inconformismo e de reação ao regime militar foi a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu já dizia naquela época: “Essa tranquilidade vai terminar”. Hoje a bipolaridade é fatal, e imprevisível. A OAB ora propõe impeachment, ora é contra impeachment etc. Isso tudo é fatal. Ou seja, acabou-se a tranquilidade da polaridade de opiniões dos 20 anos de regime.
ConJur — O senhor consegue imaginar como este momento que vivemos entrará para a história?
Sepúlveda Pertence — Não sei mesmo. Qualquer previsão para os próximos anos é leviana.
ConJur — O senhor acredita que, desta vez, o Judiciário também faz parte da crise? Ele também foi jogado para dentro do problema?
Sepúlveda Pertence — É muito difícil concluir, mas, de fato, os poderes estão envolvidos entre si. E o fenômeno Curitiba é inteiramente novo. Não creio que o Judiciário, pelo menos a cúpula, tenha se excedido, a não ser em alguns casos, como na contenção da chamada “República de Curtiba”.
ConJur — O Supremo poderia ter segurado os excessos da "lava jato" no início? Muita gente fala que houve um erro de leitura por parte dos advogados que atuavam no começo da “lava jato”.
Sepúlveda Pertence — Não acho. Ali foi além de qualquer previsão. Mas houve a criação de uma mística em que uma crítica, por mais pontual que seja, por mais consequente que seja, ao “juízo de Curitiba” tornou-se um pecado mortal. Ou uma conspiração.
ConJur — É saudável que uma operação policial tenha tanta importância nos rumos do país?
Sepúlveda Pertence — Não é saudável, mas é muito difícil de conter, ante a expansão desse papel do Judiciário e do Ministério Público com uma crise muito grande de credibilidade em relação à chamada classe política.
ConJur — Então o Judiciário ocupou um espaço?
Sepúlveda Pertence — Ou pelo menos tornou-se um respiradouro para criticar políticos.
ConJur — O senhor falou que se sente responsável pelo descontrole do MP. Pode contar um pouco da história da configuração atual do Ministério Público?
Sepúlveda Pertence — Fui procurador-geral desde a equipe montada pelo Tancredo, antes das eleições, e fiquei durante quase todo o governo Sarney. E foi um momento muito fascinante, de pensar um Ministério Público efetivo e independente. A cena que eu vi era de procuradores sedentos por um MP mais ativo, que começou com a luta pela sanção de um projeto que já vinha de antes, da Lei da Ação Civil Pública, e consequentemente toda a abertura que isso deu para o Ministério Público.
ConJur — A lei foi aprovada, não foi?
Sepúlveda Pertence — Foi. Antes da sanção, recebi um telefonema do presidente Sarney, amigo desde os meus tempos de UNE e da estreia dele no Congresso: “Olha, resolvi sancionar a sua lei, menos a parte final, que dizia que caberia ação civil publica à defesa do meio ambiente, do patrimônio histórico, dos direitos do consumidor, e ‘outros interesses difusos’. Esse ‘e outros interesses difusos’ eu vou vetar”. Eu disse: “Presidente, este conceito ainda está em formação…”, e ele respondeu: “É exatamente por isso. Ninguém sabe dar definição mais exata, mais concreta e eu acho precipitado um texto legal tão aberto”. Eu insisti, repetindo os argumentos, e ele me interrompeu. “Você conhece o promotor de Barra da Corda?” Eu disse que não conhecia, mas que não tinha entendido a pergunta. “E se esse promotor resolver um dia que o casamento de Maria com João ofende os direitos difusos?” E assim foi sancionada a lei, que, por dar essas novas funções ao Ministério Público, deu um impulso gigantesco em sua atuação, antes quase exclusivamente dedicada à defesa da União.
ConJur — E de lá partiram os debates da Constituinte?
Sepúlveda Pertence — Seguiu-se a discussão pré-Constituinte. Sendo procurador-geral, participei intensamente dos debates sobre o esquema saído da Comissão Afonso Arinos, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, sobretudo o acoplamento, às funções do Ministério Público, do que seriam as funções de um ombudsman. E chegou-se à Constituição.
ConJur — Mas o senhor não foi apenas mero participante dos debates…
Sepúlveda Pertence — Vou contar uma história, outro episódio com o presidente Sarney, para ilustrar esse papel e a responsabilidade que me atribuem pelo gigantismo dos poderes do MP. Foi a última audiência como procurador-geral, apenas para formalizar o pedido de exoneração e levar-lhe o convite para a posse no Supremo Tribunal Federal. Nessa conversa eu disse: “Sarney, você me deixou solto”, comecei. E havia uma frase, atribuída ao general Golbery [do Couto e Silva], que dizia “eu criei um monstro”, em relação ao SNI [Serviço Nacional de Informações, criado em 1964 como braço de espionagem da ditadura militar]. Por isso disse ao Sarney: “Não sou o Golbery, mas criei um monstro!” Um ou dois anos depois, recebi em casa o Sarney e ele me disse: “Você se lembra de ter falado aquela história de que não era Golbery? Na hora eu pensei ‘isso é só uma frase de efeito do Zé Paulo’. Agora estou vendo que ela é verdadeira”. Aristides Junqueira, procurador-geral, havia aberto inquérito contra um ministro poderoso, e aí se descobriu que realmente se tinha criado um monstro.
ConJur — Isso é irreversível, não é?
Sepúlveda Pertence — Sim, é obviamente irreversível. Pelo menos me parece inviável pensar-se, hoje, em castrar o Ministério Público, um dos mais abertos e poderosos do mundo.
ConJur — De onde veio esse modelo?
Sepúlveda Pertence — Já havia alguns ensaios mesmo na América Latina. A Costa Rica, que nos seguiu na criação da Justiça Eleitoral, nos antecedeu na criação de um MP independente. E veio muito dessa discussão em torno de criar-se ou não a figura do ombudsman, que entusiasmava os novidadeiros de sempre com os exemplos europeus. E o MP acabou concentrando, com os poderes tradicionais da ação penal e os poderes recém-adquiridos da Ação Civil Pública, essa função do ombudsman, de intervir e reprimir a ação dos poderes políticos muito além do que se conhecia em toda a história brasileira.
ConJur — Mas o MP virou um ombudsman que pode intervir. Qual foi a principal consequência disso?
Sepúlveda Pertence — É, isso aconteceu no Brasil mesmo. E é inegável que tenha havido e que ainda há abusos. Mas o saldo é positivo.
ConJur — O senhor acredita que, passado este momento, vai haver algum tipo de autocrítica?
Sepúlveda Pertence — Não quero fazer previsão, mas manifesto minha esperança de que os excessos deste momento sejam contidos no futuro a partir de uma autocrítica do próprio Ministério Público.
ConJur — Como isso aconteceria?
Sepúlveda Pertence — A minha aspiração é de que essa revisão se faça sem violência ao modelo da Constituição. Seria positivo. Tanto o papel do Ministério Público quanto o do Judiciário.
ConJur — Como seria essa revisão do papel do Judiciário?
Sepúlveda Pertence — Particularmente, o imenso poder de controle de constitucionalidade que se entregou ao Supremo, sobretudo a partir da abertura da legitimação da eleição direta, que eu não sei se tem paralelo no mundo. O modelo brasileiro se manifestou explosivamente com a legitimação, por exemplo, dos partidos políticos desde que tenham um representante no Congresso.
ConJur — Em outros países não é assim?
Sepúlveda Pertence — Na Europa, há vários modelos de controle de constitucionalidade em que se dá esse poder de provocar o controle abstrato a minorias parlamentares, mas não com a amplitude brasileira, à qual se somou a abertura às entidades de classe, à OAB e a esse Ministério Público já desvinculado de sua ligação estreita ao Executivo. Eu me lembro como, quando PGR, ajuizei meia dúzia de ações diretas que, de certo modo poderiam contrariar o governo. Mas foram poucas e surpreendentes. Eu me vali dos velhos laços de amizade com o presidente da República para, na véspera de certas posições do procurador-geral, avisá-lo, seja na área do controle de constitucionalidade, da qual o procurador-geral detinha o monopólio, seja na função junto à Justiça Eleitoral. E eu me vali do diálogo fácil que tinha com o presidente para sempre avisá-lo na véspera e dizer que o cargo estava à disposição dele, que eu voltaria sem nenhuma mágoa para o meu escritório.
ConJur — Curioso é que hoje se fala em abrir cada vez mais o rol de legitimados a propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
Sepúlveda Pertence — Sim, mas o modelo da Constituição de 1988 já é de uma abertura incomum. É difícil imaginar uma questão em que haja o mínimo de polêmica na sua tramitação legislativa que não chegue ao STF quase imediatamente. Eu me lembro, durante o governo Collor, quando o Jamil Haddad era líder do Partido Socialista, eu ficava impressionado porque quase toda sessão do Supremo ele estava lá. Toda semana eu o via sentado na primeira fila do Plenário. Um dia eu lhe disse: “Mas você é médico! E jogador de basquete” — ele fora da seleção brasileira de basquete — “Do que você tanto gosta no Supremo?”. “Aqui eu sou muito mais poderoso do que no Congresso. Lá a minha bancada não tem número para pedir verificação de votos. Aqui eu vejo os 11 juízes mais poderosos do país sentados quase semanalmente para rever as discussões que tínhamos tido no Congresso a propósito desta ou daquela lei”.
ConJur — Então o Supremo hoje tem muito poder de interferir no processo político?
Sepúlveda Pertence — Claro.
ConJur — Na época do senhor o Supremo interferia menos?
Sepúlveda Pertence — Sim. Por essa revolução institucional que foi a abertura da legitimidade para propor ações de controle concentrado, a que se seguiu a Ação Declaratória de Constitucionalidade, e depois a ADPF. Isso já veio depois da Constituição. O texto constitucional dizia que “a lei estabelecerá a ação direta de defesa de defesa dos direitos fundamentais”, algo assim, mas isso ficou morto durante muito tempo. A ADC veio de uma tentativa fracassada minha ainda no tempo do governo Sarney.
ConJur — Como assim?
Sepúlveda Pertence — Foi a propósito da Lei de Informática, que tinha um perfil nitidamente nacionalista. Contra ela, claro, se pôs imediatamente o senador Roberto Campos, que organizou um abaixo-assinado. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de governo foi que a coisa mais fácil que tem é conseguir um abaixo-assinado no Congresso. É quase falta de educação negar a assinatura. E com isso se protocolou um pedido ao procurador-geral para que propusesse uma ação contra a lei, que na época se chamava Representação de Inconstitucionalidade. [Pertence foi aposentado compulsoriamente do Ministério Público em outubro de 1969 pela Junta Militar que governava o Brasil, com base no AI-5; Roberto Campos era o ministro do Planejamento, o civil mais poderoso do governo].
ConJur — E o procurador era obrigado a entrar com a ação?
Sepúlveda Pertence — É que de um lado a agitação política de figuras como Roberto Campos e outros de seu perfil ideológico tornaram difícil que eu negasse o pedido. De outro, era uma época em que o tema era motivo de um contencioso internacional com os Estados Unidos. A ideia era fazer a representação e deixar incerteza absoluta sobre o destino que teria a lei. Eu então me utilizei de uma postura inédita: propus a representação, dizendo que o fazia em atenção à representatividade do grupo de congressistas, mas opinava desde já pela improcedência da ação.
ConJur — Atendeu aos dois lados…
Sepúlveda Pertence — É, porque, diante do monopólio do procurador para propor ações de controle de constitucionalidade, propunha a representação e nada dizia sobre sua posição pessoal. Só depois, quando o pedido voltava ao procurador para informações etc., é que ele falava sobre o próprio entendimento. Nesse caso da Lei de Informática tentei isso e, segundo o pai das ampliações pós-88, que é indiscutivelmente o ministro Gilmar Mendes, viria a reconhecer aí a origem da Ação Declaratória de Constitucionalidade.
ConJur — Por que o senhor disse que a tentativa foi fracassada?
Sepúlveda Pertence — Porque o Supremo não conheceu da ação. Disse que não se pode conhecer de uma ação se o autor a propõe e diz logo que quer que ela seja julgada improcedente. E isso viria a dar na ADC.
ConJur — E a ADPF?
Sepúlveda Pertence — Também tem origem em uma grande discussão no início da minha atuação no Supremo sobre a possibilidade da ação direta para controle de leis anteriores à Constituição. Isso dividiu um pouco o tribunal. A minha posição era favorável ao cabimento de ações de inconstitucionalidade contra leis editadas antes da Constituição, conforme os dois modelos mais estudados entre nós, o italiano e o alemão. Mas fui derrotado por um monumental voto do meu amigo ministro [Paulo] Brossard, ao qual também opus um dos votos mais longos e mais estudados de minha carreira.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


