Juiz não pode ser avaliado por estatísticas
29 de agosto de 2010, 9h55
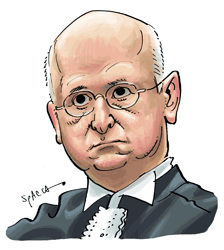
O Superior Tribunal de Justiça muda de comando nesta sexta-feira, 3 de setembro. Passa às mãos de um juiz com quase 35 anos de carreira na magistratura e que traz consigo boa parte dos valores inerentes aos juízes mais tradicionais: discrição, preocupação social e independência. Por isso, considera que o magistrado deve falar apenas nos autos e lamenta que as demandas de massa homogeneizaram os julgadores.
Ainda assim, Ari Pargendler, o novo comandante do STJ, é um juiz raro mesmo entre seus pares. Não reclama da exiguidade dos recursos que o Executivo repassa ao Judiciário para que este funcione melhor. Ao contrário, acha que há dinheiro em demasia. Considera que juízes saem ganhando ao receber advogados, mas critica o que chama de mercado de advogados consagrados criado por juízes que selecionam os profissionais que atendem em seus gabinetes.
Produtividade, ele sustenta, não é um bom critério para avaliar o trabalho dos magistrados: “Não posso dizer se um juiz trabalha ou não trabalha porque tudo é medido por números. E os números podem ser decompostos assim: o juiz dá uma sentença, os assessores adaptam para outros 100 mil casos e ele aparece na imprensa como um grande trabalhador”.
Em entrevista concedida à revista Consultor Jurídico em seu gabinete na vice-presidência do STJ, o ministro contou um pouco de sua história, disse quais são seus planos para administrar o mais importante tribunal superior do país e sentenciou: “O juiz tem que ser reservado e ter uma conduta irrepreensível na vida privada. O que se espera dele é o mesmo que se espera de um árbitro de futebol: que ele seja invisível”.
Pargendler advogou por três anos e foi procurador da República por outros quatro antes de entrar na magistratura. Nomeado para o STJ em 1995 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, é avaliado pelo Anuário da Justiça como legalista, mais favorável ao Fisco do que ao contribuinte e um magistrado que acredita que o juiz deve observar os efeitos de suas decisões.
Leia a entrevista:
ConJur — O juiz tem de pesar os efeitos de suas decisões ou decidir na forma literal da lei?
Ari Pargendler — O juiz não interpreta a lei, ele a aplica. Isso significa dizer que deve interpretá-la e aplicá-la com responsabilidade. Seria muito fácil apontar a Constituição e dizer: “O trabalhador tem direito pleno à saúde, educação e lazer”. Ninguém precisa de um curso universitário para interpretar isso. Mas qual é o juiz que pode aplicar essa norma? É uma norma de ficção. Ele não seria um juiz responsável se dissesse: “O salário mínimo tem que ser de R$ 2 mil e o empregador da pequena empresa tem que pagar esse valor porque a Constituição vale mais do que a lei que aprovou o salário mínimo”.
ConJur — A decisão seria inócua…
Pargendler — A posição do juiz é muito difícil. Por quê? Porque quem tem a lei a seu favor quer que ela seja aplicada. E tem razão em querer já que a lei é mais inteligente do que o juiz.
ConJur — Por quê?
Pargendler — Porque a lei é resultado de estudos e de interesses da sociedade. É o modo como a sociedade resolve os conflitos de interesses. E é a regra que ela quer que sirva de critério para a resolução dos litígios. Se nós deixarmos toda a interpretação para o juiz será uma anarquia, porque cada um decidirá de forma subjetiva. Quem não quer que a lei seja aplicada, que o espírito da lei seja aplicado, defende que o juiz tem que ser moderno. No extremo, é a revolução pela caneta.
ConJur — A partir da Constituição de 1988, o Judiciário ganhou um novo papel no cenário nacional. Na prática, tornou-se o poder que controla os outros dois poderes e, por isso, passou a ser demandado com uma frequência nunca antes experimentada. Os juízes e o Judiciário estão preparados para responder à demanda?
Pargendler — O Judiciário não está preparado para essa sociedade moderna de processos de massa. Aos olhos do povo, o processo, tanto o penal quanto o civil, pode parecer ritualístico. Mas a verdade é que cada norma a respeito de procedimentos tem uma história. É um sistema eminentemente crítico. O autor dá a sua versão, o réu critica, há uma replica criticando a versão do réu. O juiz decide, aí vem o recurso, que é a critica de quem foi mal sucedido. Dos tribunais regionais ou de Justiça, pode haver ainda recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, neste último caso quando há matéria constitucional em discussão. Isso demanda trabalho e tempo. E a enorme quantidade de processos submetidos a esse rito está inviabilizando o Poder Judiciário. Mas não vejo o Judiciário como o poder que controla os outros.
ConJur — Não?
Pargendler — Não. O foco do Judiciário é a legalidade. Hoje, se fala muito em ativismo judicial no âmbito do Supremo. Isso tem acontecido. Mas não vejo isso como uma tendência. Isso acontece no vácuo deixado pela falta de legislação sobre determinados assuntos. Um exemplo é a falta de regulamentação da greve de servidores públicos.
ConJur — O chamado ativismo é provocado pelo próprio Legislativo porque quando o Judiciário é demandado, ele tem de agir, não pode se omitir, certo?
Pargendler — Sim. Então, ele não é um super poder. A Justiça age quando provocada.
ConJur — O senhor acha que o juiz tem que se abrir e falar com a sociedade ou o juiz tem que falar apenas nos autos?
Pargendler — O juiz tem que falar nos autos. O que se espera de um juiz é o mesmo que se espera de um árbitro de futebol: que ele seja invisível.
ConJur — De janeiro a julho deste ano, foram distribuídos 130 mil processos e julgados 176 mil no STJ. São cerca de 30 processos julgados por ministro por dia. Como dar conta dessa demanda?
Pargendler — Pois é. Quando eu era juiz [federal da 4ª Região] de primeiro grau eu podia proferir uma sentença por dia e o meu trabalho estava rigorosamente em dia.
ConJur — O senhor é juiz há quanto tempo?
Pargendler — Em junho de 2011, completarei 35 anos de magistratura. Quando entrei, quem sentenciava um processo por dia era considerado um juiz cumpridor. Nem todos conseguiam dar uma sentença por dia porque não é fácil dar uma sentença. As pessoas pensam que o juiz dá um espirro e a sentença sai. Não é assim. Há casos difíceis. A decisão do juiz tem que ser motivada. A sentença só é legitima quando a motivação é racional. E o juiz tem que analisar uma série de argumentos, mesmo os mais impertinentes, sob pena de a parte dizer que ele não respondeu. Esse trabalho não combina com a epidemia de ações. E o que isso provocou? O grande número de processos homogeneizou os juízes.
ConJur — E isso é bom ou ruim?
Pargendler — Hoje eu não posso dizer se um juiz trabalha ou não trabalha porque tudo é medido por números. E os números podem ser decompostos assim: o juiz dá uma sentença, os assessores adaptam para outros 100 mil casos e ele aparece na imprensa como um grande trabalhador. Mas dentro da comunidade dos juízes se sabe que aquele não é um trabalho dele. Muitas vezes, o grande juiz é o que julga menos do que os outros. O juiz se tornou uma unidade de produção. Mas onde está a qualidade? A Justiça é um valor que não se mede com números.
Conjur — Muitas vezes ouve-se advogado comentar que determinado juiz é campeão de sentenças, mas também é campeão de recursos. Ou de embargos.
Pargendler — Mas esse também não é um critério justo porque o advogado cuja parte sucumbe no processo recorre. Seja a sentença boa ou ruim. Aqui no tribunal, elaboraram um projeto estratégico que tinha como meta diminuir muito o número de agravos regimentais, que são os agravos contra a decisão do relator. Fiquei com vontade de perguntar: “Já combinaram com os Russos?”. Para o advogado, a sentença é brilhante quando ele vence a causa. Por isso, insisto, não é o número de recursos que define o juiz como bom ou ruim, é a qualidade dos votos que ele profere ou das sentenças que ele dita.
ConJur — Quais são suas metas para administrar o STJ?
Pargendler — Só uma: melhorar a prestação jurisdicional do STJ. O objetivo da Justiça é ter boas decisões no menor tempo possível. Vou me concentrar na otimização da gestão dos recursos humanos e materiais no tribunal.
ConJur — Os tribunais, principalmente os de Justiça, vivem reclamando da verba do orçamento que o Executivo lhes destina. O que falta para o Judiciário: mais dinheiro ou o melhor uso desse dinheiro?
Pargendler — Talvez meu enfoque esteja prejudicado por minha experiência. Porque quando eu fui chefe da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul nós não tínhamos dinheiro sequer para contratar uma faxineira. Uma funcionária passava um pano no chão uma vez por semana.
ConJur — E como era a situação quando o senhor se tornou juiz?
Pargendler — Não havia máquinas de escrever na vara e tínhamos pouquíssimos funcionários. O Ministério da Fazenda contratava terceirizados e nos emprestava. Era uma penúria. Mas a prestação jurisdicional não ficava prejudicada. Isso era da natureza da função. O juiz tinha que ter a sua máquina de escrever pessoal. Lembro-me de um colega que comprou uma daquelas máquinas IBM com tecla corretiva e brincou: “Agora eu quero ver quem vai recorrer das minhas decisões”.
ConJur — O trabalho era artesanal…
Pargendler — Tenho guardados esses volumes, em vermelho (se levanta, vai até a prateleira e pega um livro brochura de capa vermelha), que são as sentenças que eu proferi quando era juiz de primeiro grau. Eu sempre digo que não teria perdido os cabelos se tivesse computador naquela época. Eu datilografava as sentenças, encadernava e depois fazia os índices. Me dava muito trabalho. Tudo isso eu pagava, não a Justiça. Eu tinha um encadernador em Canoas, que fica a 30 quilômetros de Porto Alegre.
ConJur — Mas hoje o juiz conta com outra estrutura.
Pargendler — Quando sobreveio a Constituição de 1988, houve uma mudança substancial. Eu fui para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi criado junto com os outros quatro que existem hoje. E aí havia dinheiro a rodo. Logo se construiu um prédio maravilhoso para o primeiro grau de jurisdição. Eu via aquilo como um desperdício. Eu não tinha cabeça para ver aqueles gastos. Os juízes também passaram a ganhar muito bem. Éramos cinco juízes federais para todo o estado do Rio Grande do Sul. A tecnologia e os novos recursos materiais facilitaram muito o trabalho. Para fazer pesquisa, usávamos fichários. Um colega que era juiz em Santa Catarina foi apelidado de sapateiro porque tinha no gabinete caixas e mais caixas de sapato cheia de fichas com anotações e recortes de Diário Oficial. Todos usávamos isso. Para esse tipo de educação que eu tive, há muito desperdício no Judiciário.
ConJur — Então, os recursos financeiros não são escassos como alegam muitos juízes?
Pargendler — Para quem viveu a experiência que eu vivi, há recursos em demasia.
ConJur — O STJ será comandado por um juiz de carreira. O Supremo Tribunal Federal tem hoje um juiz de carreira na Presidência. O CNJ terá uma corregedora que é juíza de carreira, a ministra Eliana Calmon. O que muda no Judiciário?
Pargendler — Há uma piada correndo sobre isso. Dizem: “A carreira chegou”. Mas dizem com um tom crítico, de temor.
ConJur — Por quê?
Pargendler — Talvez pelo histórico. Como coordenador e, agora, vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, eu sufoquei movimentos meramente corporativos. Mas eu quero ressaltar que o bom juiz, que é a esmagadora maioria, trabalha muito e é o único servidor público que tem uma responsabilidade pessoal. Houve uma colega do Tribunal Regional Federal que foi atacada na rua por uma parte que disse: “A senhora está sentada em cima do meu processo”. As pessoas, hoje, sabem com quem o processo delas está. Mas elas não sabem que o juiz não tem tempo de sentar em cima de processo nenhum. Não tem mais o tempo que se chamava de “o tempo do juiz”. Antigamente se respeitava o tempo que o juiz precisava para pensar no caso e dar uma solução compatível com as exigências dele.
ConJur — Nesse sentido, a Lei de Recursos Repetitivos foi boa para o tribunal?
Pargendler — Foi extraordinária. A lei teve um efeito quase milagroso com relação às causas de Direito Público. No âmbito penal teve pouca repercussão. No Direito Privado também surtiu efeito, mas não com a grandeza que surtiu no Direito Público. Hoje os tribunais continuam sem ser obrigados a seguir a jurisprudência da corte superior, mas têm que fazer um juízo de retratação. Isso já complica. Então, fica mais fácil seguir a jurisprudência.
ConJur — Ou seja, abafou um pouco a rebeldia de determinados tribunais em relação à jurisprudência pacificada?
Pargendler — Exatamente. E já não eram muitos os tribunais rebeldes. Os tribunais foram percebendo que a rebeldia só iludia as pessoas e, com o juízo de retratação exigido pela Lei de Recursos Repetitivos, poderia inviabilizar sua atuação.
ConJur — O Brasil forma bons juízes hoje?
Pargendler — Certa vez eu ouvi de um desembargador do Rio Grande do Sul que o juiz aplicava o Direito e o desembargador fazia a Justiça. E que, para isso, importavam menos os livros e mais o bom senso. Eu achei um absurdo aquilo, porque para mim o conhecimento é a chave. O juiz é aquela pessoa que tem tirocínio, que enxerga na discussão o que realmente é importante e precisa ser decidido. Isso não é fácil. O juiz não se forma em faculdade, é uma pessoa que tem que procurar a sua formação lendo muito além do Direito. O que eu noto é que o Direito é mais estudado hoje do que era no meu tempo. No entanto, no meu tempo nós líamos muita coisa fora do Direito, que hoje não se lê.
ConJur — A formação humanística é tão importante quanto a formação técnica?
Pargendler — É. Há muita gente boa na magistratura hoje, mas eles não estão focados completamente na magistratura.
ConJur — Estão focados em que, ministro?
Pargendler — No magistério, muitas vezes até no comércio do ensino. Como coordenador do CJF eu determinei que juízes poderiam lecionar em só uma instituição de ensino. A Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil) contestou a decisão e o Supremo a suspendeu. Então, há juízes que continuam lecionando, são donos de cursinhos. A limitação dessa prática é uma coisa que infelizmente eu não pude implementar na Justiça Federal. Mas é por isso que o pessoal diz: “A carreira chegou”.
ConJur — Qual sua opinião sobre o quinto constitucional?
Pargendler — A ideia é boa, mas a prática é ruim. Quando eu era mais novo, só eram escolhidos advogados destacados. E era uma grande honra ser extraído da carreira para chegar ao tribunal. Hoje, não sei se por desinteresse de bons candidatos, porque realmente o mercado da advocacia é muito bom para profissionais competentes, os grandes advogados não se interessam. Por que interessa ao tribunal a presença do advogado? Para que ele traga sua experiência plena, do advogado que não tem vinculação com ninguém a não ser com o seu constituinte. É o advogado que pode litigar contra o Estado, que pode litigar contra particulares, que não tem impedimento nenhum. Mas hoje, muitas vezes, verificamos que muitos advogados “vinculados ao serviço público” postulam esse cargo. São poucos os que têm escritórios ativos. Então, eles não trazem a experiência de um advogado, mas de um funcionário público ou da administração indireta. Isso não interessa para o tribunal.
ConJur — O juiz deve receber o advogado?
Pargendler — Eu sempre tive muito prazer de receber o advogado. No primeiro grau de jurisdição era uma maneira de eu me inteirar das notícias e dos boatos que corriam em Porto Alegre. O advogado chegava e contava uma história. Já aqui no STJ, é importante receber o advogado porque em cinco minutos ele me conta a história de um processo que está durando 15 anos. Eu economizo um bom tempo. Quando eu vou ler esse processo, já sei do que se trata.
ConJur — Por que, então, muitos acham isso inconveniente?
Pargendler — Isso é uma coisa muito peculiar do Brasil. Sou membro da Comissão Ibero-Americana de Ética Judicial. Todos os países ibero-americanos proíbem que o juiz tenha contato com o advogado. Quando, excepcionalmente, esse contato é necessário, eles impõem aos juízes a obrigação de comunicar a outra parte que recebeu o advogado do ex adverso durante tanto tempo e que igual tempo lhe será concedido. É cultural. Tenho uma prática que aprendi com juízes mais antigos: nunca fecho a porta do meu gabinete quando recebo advogados. Mas há juízes que têm o hábito de receber de porta fechada. Não há nenhum mal nisso. Mas o juiz precisa ser e parecer. Com o enorme número de processos, os advogados só se sentem seguros se falarem com o juiz. Eu atendo a todos. Só que há juízes que só atendem advogados consagrados. Assim, pode estar se criando um mercado que só é acessível a alguns advogados. Isso não é saudável.
ConJur — Como o senhor vê a decisão do Conselho Nacional de Justiça que aposentou compulsoriamente o ministro Paulo Medina?
Pargendler — Não falo do caso específico do ministro Medina sob pena de incorrer no erro das pessoas que acham que o juiz deve decidir de um modo ou de outro sem conhecer os fatos do processo. Eu não conheço. Eu li no jornal, nas notícias, que a atuação do irmão dele teria repercutido nele. Nunca ouvi dizer que ele recebeu dinheiro ou mesmo que ele soubesse o que o irmão estava fazendo.
ConJur — A defesa do ministro diz que houve exploração de prestígio. Ou seja, que o irmão usou o nome do Medina seu o seu conhecimento.
Pargendler — Foi o que li, mas não conheço as provas. A decisão do CNJ foi unânime. Pode estar certa ou errada. A justiça humana não é infalível. Mas é preciso ressaltar que em um processo disciplinar os critérios não são os mesmos de um processo criminal. No processo criminal é preciso haver provas realmente fortes para dizer que há certeza de que determinada pessoa cometeu o crime. No processo disciplinar é diferente. O juiz tem que ter um comportamento diferente das outras pessoas. Esse fato está em todos os códigos de ética judicial. O juiz deve evitar situações que possam levá-lo a se afastar de uma causa. Então, um juiz que tenha atividade social muito intensa está sujeito a declarar suspeições e impedimentos. Logo, ele deve evitar isso. É da ética judicial. O juiz tem que ser reservado e ter uma conduta irrepreensível na vida privada.
ConJur — Por quê?
Pargendler — Porque ele vai julgar o comportamento das outras pessoas. Por exemplo, um juiz federal que trata de moralidade administrativa, como pode cometer um ato que possa parecer inidôneo do ponto de vista administrativo? Ele não pode porque suas decisões perdem a legitimidade. Ou seja, o juiz deve fazer tudo para que emane da figura dele uma autoridade moral.
ConJur — Como o senhor se sente em relação ao atentado contra o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe?
Pargendler — Foi um ato bárbaro e, milagrosamente, ele se salvou. O grave é que se trata de um atentado contra uma autoridade. Já é lastimável, inadmissível que uma pessoa cometa um crime contra outra, mas quando uma autoridade é atingida o ataque é contra toda sociedade. Esse é o simbolismo de um ato assim.
ConJur — Como juiz, depois de um episódio como esse, o senhor se sente inseguro?
Pargendler — Não. E não me sinto inseguro porque eu faço o melhor que posso, com boa-fé. Minhas decisões são motivadas. Eu enfrento todos os argumentos das partes. Por que alguém vai querer me fazer mal?
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


