Exploração do pré-sal é desafio para arbitragem
21 de junho de 2009, 9h43
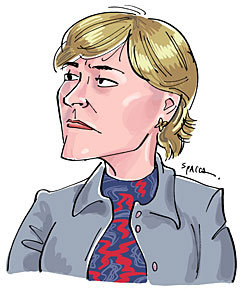 Spacca" data-GUID="maria-dassuncao-cost1.jpeg">
Spacca" data-GUID="maria-dassuncao-cost1.jpeg">A partir do momento em que uma atividade econômica se torna importante para a população e estratégica para o Estado, ela precisa da tutela de uma agência reguladora. Foi a falta desse tipo de “olhar” estatal que permitiu a explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, gerando uma reação em cadeia que pôs o mundo na atual crise financeira. No Brasil, a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostra que, ao contrário do que dizem os defensores do livre mercado, a regulação pode trazer crescimento aos setores. Entre outras conquistas, a agência tem combatido com eficiência a comercialização de combustíveis adulterados. A avaliação é de uma das mais reconhecidas especialistas em regulação do país, a advogada Maria D’Assunção Costa, falando em entrevista à Consultor Jurídico.
Assunção é árbitra integrante do Cadastro de Mediadores e Árbitros do Institudo Brasileiro de Estudos do Direito da Energia, e também faz parte da Comissão de Gás Natural do Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás Natural (IBP). No setor público, atuou na Secretaria de Saneamento e Energia do governo paulista e na Companhia de Gás de São Paulo (Comgás). Hoje, além de advogar e prestar consultorias, dá aulas no Curso de Pós-Graduação do Instituto Brasileiro de Petróleo da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).
No Brasil, a regulação por meio de agências começou a partir da privatização de serviços prestados pelo Estado, há quase 20 anos, mas ainda enfrenta problemas sérios, como elenca Assunção: “Orçamentos foram contingenciados, deixou-se de fazer concursos públicos para a contratação de fiscais e não foram nomeados diretores para os órgãos reguladores”. Por esse motivo, órgãos como a Agência Nacional de Telecomunicações, que têm a obrigação de fiscalizar os serviços, não conseguem dar conta do número de reclamações dos consumidores, que acabam por afogar o Judiciário com processos. O que a população não sabe, segundo a advogada, é que as agências também podem ser responsabilizadas judicialmente por falhas na prestação das concessionárias.
Autora de seis obras sobre regulação de mercado e Direito do Petróleo, entre elas o livro Comentários à Lei do Petróleo, Lei federal nº 9.478, de 6-8-1997 — Editora Atlas, 2009 —, Assunção prevê mudanças científicas e jurídicas profundas no país com a descoberta das novas reservas de petróleo marítimo na camada do pré-sal, na costa brasileira. A exploração de jazidas a mais de sete mil metros de profundidade na faixa litorânea que vai do Espírito Santo a Santa Catarina promete revolucionar não só as técnicas de extração como as relações contratuais e jurídicas entre os players do negócio. “Há demanda de profissionais capacitados para atuar como mediadores, árbitros e negociadores. Uma plataforma petrolífera gera um número imenso de contratos, todos ligados entre si. Vamos ter que estudar o reflexo que uma decisão vai ter em outros contratos e decisões”.
Segundo ela, é para a arbitragem que surgirão os maiores desafios e oportunidades. “Tudo o que se refere a petróleo e gás têm previsão legal de arbitragem”, diz. As discussões, segundo Assunção, deverão ficar longe das formas tradicionais de solução de conflitos no Judiciário. “Essas questões são muito complexas para serem levadas à Justiça. O risco é muito grande porque o Judiciário não tem o assunto dentro do seu programa de concursos. O ideal são os meios alternativos de solução de controvérsias”, explica, destacando que as mediações e conciliações feitas por magistrados serão fundamentais nessas relações.
A possível criação de uma nova estatal para controlar o que for produzido a partir dessas reservas e as formas de distribuição dos royalties aos estados e municípios próximos também terão de ser resolvidos antes que se possa começar a explorar os combustíveis fósseis do pré-sal e foram destacadas por Assunção. Leia abaixo trechos da entrevista, da qual também participaram os jornalistas Maurício Cardoso e Aline Pinheiro.
ConJur — Por que serviços como o de telefonia ainda levam milhares de casos ao Judiciário? Agências reguladoras como a Anatel não estão cumprindo sua função?
Maria D’Assunção — As agências deveriam atuar preventivamente na fiscalização. Nós ainda não começamos a cobrar das agências a responsabilidade civil que elas têm. Elas poderiam responder na Justiça por danos sofridos pelos consumidores ou pelos agentes econômicos. Mas nestes últimos anos nós tivemos uma crise tupiniquim das agências reguladoras. Orçamentos foram contingenciados, deixou-se de fazer concursos públicos para a contratação de fiscais, não foram nomeados diretores para os órgãos reguladores. Teve agência que ficou quase um ano sem diretor. As agências têm orçamento disciplinado em lei, que é sustentado por acréscimos na conta de energia elétrica ou de telefone. Mas esse valor fica contingenciado, ou seja, existe uma diferença muito grande entre o orçamento estabelecido na lei, que é direito da agência, e o que é liberado. E isso ainda não foi corrigido. O próprio Ministério Público tem certo temor em exigir a liberação dos recursos para que as agências possam fazer as fiscalizações.
ConJur — Os problemas orçamentários tornam o trabalho dos reguladores apenas pró-forma?
Maria D’Assunção — Não em relação à ANP [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies], por exemplo. As fiscalizações têm funcionado no combate à adulteração de combustíveis, porque ela se capacitou para fazer isso. Tem havido uma melhora, embora a atuação ainda não seja a ideal.
ConJur — Quando a agência pode ser responsabilizada por danos causados pelas empresas concessionárias?
Maria D’Assunção — Por exemplo, nos casos em que ela tem a obrigação de saber que um combustível foi adulterado. Se o produto foi testado, mas por alguma falha administrativa, foi liberado, ela também deve responder pelos danos.
ConJur — As agências reguladoras conseguem separar suas atribuições técnicas das motivações políticas e econômicas que operam nos bastidores? Como o sistema funcionaria de forma mais efetiva?
Maria D’Assunção — Nossa cultura ainda não é forte no sentido de que a discricionaridade do regulador é técnica, e que ele precisa justificar todos os seus atos. A agência reguladora é um ente de Estado, atua em nome do Estado e não em nome do governo. O governo é formado por pessoas que têm um mandato transitório, enquanto o Estado é a pessoa jurídica regida por uma Constituição. A agência reguladora atua subordinada à lei, que vai delimitar a atuação dessa agência. O regulador tem o que nós chamamos de discricionariedade técnica, ou seja, para qualquer ato que ele queira regular, precisa manifestar a proposta ao público por meio de audiências e consultas. A princípio, a finalidade da regulação é orientar, fixar normas de conduta. Somente se essas normas não forem atendidas é que se fiscaliza e se aplica sanções. A regulação não pode ser surpreendente, mas tem por princípio passar por um processo colaborativo entre os agentes regulados, os consumidores e a agência, em uma integração com a sociedade. Além disso, tudo o que ela faz tem de ser justificado por notas técnicas. O regulador não tem vontade própria, mas a vontade da lei. Por isso, precisa justificar suas escolhas. O regulador é diferente do parlamentar, que tem discricionariedade política. A agência reguladora não decide politicamente, mas tecnicamente.
ConJur — Apesar de não serem órgãos políticos, as agências estão sujeitas a pressões políticas. Foi assim com a Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, durante a crise aérea. Isso também não é motivo de insegurança?
Maria D’Assunção — O afastamento de dirigentes está previsto em lei, mas é preciso haver um justo motivo, e não simplesmente a vontade política. Quanto à incapacidade dos dirigentes, o Senado também peca por não sabatinar os indicados como deveria na hora de fazer a escolha. A escolha de um diretor é um ato complexo que exige a participação dos Poderes Executivo e Legislativo. O Legislativo também é responsável por não fiscalizar as agências, como prevê a Constituição Federal.
ConJur — A atual crise financeira que se alastrou pelo mundo a partir dos Estados Unidos poderia ser evitada caso houvesse uma regulação maior sobre as práticas financeiras?
Maria D’Assunção — A crise econômica deriva de uma cultura em que se podia fazer o que se quisesse. O Estado estava afastado disso e deixava correr a livre competição. O dever do Estado era enxergar até que ponto a livre competição era saudável, e a partir de quando seria preciso limitá-la, obrigando as empresas a terem lastros, a serem transparentes nos balanços e a terem mais responsabilidade ao emitirem títulos de mercado. A conclusão a que se chegou foi de que ter deixado por conta do mercado não foi uma boa coisa.
ConJur — Até onde essa interferência é boa?
Maria D’Assunção — O limite da interferência do Estado na atividade do particular depende do Poder Legislativo. São os nossos representantes que, em um determinado momento, decidem se, para desenvolver um negócio, será preciso uma autorização. Dessa forma, ele começa a regular aquela atividade. A razão para isso é o valor daquela atividade para o Estado e para a sociedade, e a necessidade dos olhos e das mãos estatais em benefício da sociedade. Um exemplo é a atuação do Banco Central, que funciona como uma agência reguladora para os serviços financeiros. É a forma de garantir ao cidadão a segurança de colocar o seu dinheiro em uma instituição bancária. Embora o risco seja desse cidadão, o Estado tem o dever de calibrar a atuação das instituições no mercado.
ConJur — A função da agência reguladora seria próxima a de um tutor?
Maria D’Assunção — Sim, nos momentos em que a sociedade se torna mais complexa. Exemplo disso é a propagação da telefonia móvel. A telefonia por celular não é um serviço público, mas o uso foi universalizado. Hoje existe um interesse de toda a população nesse serviço. O próprio conceito de serviço público evoluiu, passando a ser de interesse do Estado regular os serviços ao público.
ConJur — No caso de uma crise generalizada, como foi a do apagão aéreo, a agência reguladora deve defender os interesses das empresas operadoras ou dos consumidores?
Maria D’Assunção — A regulação tem um tripé, que é consumidor, agente econômico e Estado, em uma sintonia fina. A agência tem que defender os interesses do consumidor, mas de uma maneira que respeite os contratos de concessão firmados. É a busca de um justo equilíbrio entre os direitos do consumidor, do concessionário e do Estado concedente. Essa é uma das dificuldades dos reguladores. Outro problema é a cultura. Viemos de uma realidade em que os mandatos dos dirigentes não eram fixos, os governantes demitiam ou admitiam quando bem entendiam. Mas quando esses entes passam a ter algumas prerrogativas, os particulares também acabam sendo obrigados a cumprir a lei.
ConJur — Como o Judiciário tem analisado as decisões regulatórias?
Maria D’Assunção — Na pesquisa que fiz, o Judiciário tem valorizado as agências reguladoras. Quando elas atuam dentro dos limites da legislação, no cumprimento das suas atribuições, o Judiciário tem reconhecido. As poucas exceções acontecem quando as decisões extrapolam as atribuições dos órgãos.
ConJur — No caso de atividades em que o Estado atua como competidor, como no caso da Petrobrás, a regulação não é redundante?
Maria D’Assunção — No momento em que se cria entes que concorrem com a iniciativa privada, como no caso das empresas de economia mista, que têm ações na Bolsa de Valores, esses entes precisam se submeter ao olho do Estado, já que atuam de maneira idêntica às empresas privadas.
ConJur — As novas reservas de petróleo encontradas pela Petrobrás levantam a questão dos royalties a serem pagos pelas empresas que obtiverem o direito de exploração. Em que a discussão ainda emperra?
Maria D’Assunção — Não são só os royalties. Há também o bônus de assinatura, que é o que se paga para ter o direito de exploração e é dado no leilão. Além disso, se a produção exceder os limites previstos na legislação, os exploradores também devem pagar o que é chamado de participação especial. No caso dos royalties, o que se discute é qual seria a melhor distribuição dos recursos, ou seja, qual o critério para beneficiar os municípios atingidos. O município que está fora de uma área de influência também não deveria receber parte desses recursos? Outro ponto de dúvidas é quanto à destinação que o município ou o estado beneficiário vai dar a esses royalties. Hoje não há previsões específicas. Se esses recursos vêm de um bem público, de que maneira eles podem resultar em melhorias para a população?
ConJur — Por que isso ainda gera debates?
Maria D’Assunção — Por causa da sobreposição de legislações sobre royalties. A primeira regulamentação saiu em 1953, com a lei de criação da Petrobrás [a Lei 3.257/53]. Depois, quando começaram as descobertas de reservas marítimas, houve outra lei que determinava a Petrobrás como única produtora. Os recebimentos eram feitos por posto. A Lei do Petróleo [a Lei 9.478/97] acrescentou um terceiro regulamento sobre o tema. Há várias legislações fixando alíquotas sobre determinados produtos, com perímetros diferentes. Essa sobreposição de legislações provoca a ida dos municípios que se acham prejudicados ao Judiciário. O entendimento dos tribunais é que esse valor se refere a uma indenização, durante o tempo que durar a produção. Nós temos inúmeros projetos de lei sobre o assunto ainda em tramitação, mas ainda não há preocupação democrática de como vai ser a partilha dessas rendas.
ConJur — Em relação à exploração das reservas na camada do pré-sal, o governo ainda cogita a criação de uma segunda estatal que herdaria a responsabilidade. Em que questões essa medida esbarra?
Maria D’Assunção — Essa é uma decisão que vai passar por uma discricionariedade política do Executivo, que vai elaborar o anteprojeto de lei, e do Legislativo, que vai votar o projeto. A questão é qual é a finalidade que o Estado brasileiro quer dar às rendas petrolíferas. Uma das opções é recolher recursos para o Tesouro e repartir entre os entes federados, segundo um critério a ser definido. A outra é participar do negócio e ter o controle dos estoques de petróleo para comprar e vender. Nós temos legislações que preveem a segurança do abastecimento, o estoque estratégico, mas tudo passa pela finalidade que o Estado quer. É uma escolha puramente política. O debate levantado vai servir para que a sociedade entenda a discussão do que fazer com as rendas dos recursos naturais. A mineração, por exemplo, explora recursos naturais como o petróleo, mas não segue uma legislação semelhante para a distribuição de royalties.
ConJur — O que as novas descobertas de reservas petrólíferas mudam no mercado de petróleo?
Maria D’Assunção — Tecnologia e conhecimento, principalmente nas áreas de engenharia, geologia, recursos humanos e de tecnologia de informação. Também haverá mudanças no Direito. Estamos diante de problemas inimagináveis há dez anos, que nós, da área do Direito, do Poder Judiciário, e da arbitragem vamos ter que dar solução, principalmente no que diz respeito à interpretação de contratos e à solução de conflitos. Tudo o que se refere a petróleo e gás tem previsão legal de arbitragem. Há demanda de profissionais capacitados para atuar como mediadores, árbitros e negociadores. Uma plataforma petrolífera gera um número imenso de contratos, todos ligados entre si. Vamos ter que estudar o reflexo que uma decisão vai ter em outros contratos e decisões. Serão questões de municípios, de estados, ambientais e tributárias. Esses assuntos já começaram a ser discutidos em câmaras brasileiras de arbitragem. Temos pelo menos seis câmaras com árbitros capacitados que já discutiram sobre petróleo e gás natural, entre elas a da Fundação Getúlio Vargas e a da Câmara de Comércio do Canadá.
ConJur — A arbitragem terá preferência ao Judiciário?
Maria D’Assunção — Sim, porque essas questões são muito complexas para serem levadas à Justiça. O risco é muito grande porque o Judiciário não tem o assunto dentro do seu programa de concursos. O ideal são os meios alternativos de solução de controvérsias, que contam com a especialização dos árbitros, além da confiabilidade, da confidencialidade e da rapidez.
ConJur — Para os árbitros, qual será o desafio?
Maria D’Assunção — As áreas de energia elétrica, petróleo e gás mudaram muito. Antes, a mesma empresa gerava energia, transmitia e distribuía. Hoje são três empresas envolvidas nesse processo, e uma quarta que é a fiscalizadora.
ConJur — E os contratos que envolvam entes estatais também serão discutidos por meio de arbitragem?
Maria D’Assunção — Sim, a Lei de Concessões [a Lei 8.987/95] teve uma emenda, há dois anos, que incluiu a cláusula de arbitragem nos contratos de concessão. É possível que o poder concedente opte por essas cláusulas. Já existem vários contratos em que ela está prevista. A Lei das Parcerias Público-Privadas e a nova Lei do Gás prevêm. Tudo o que se refere a petróleo e gás é resolvido dessa forma, assim como todas as questões de transporte, exportação e importação dos produtos. O projeto de lei que reformula a Lei 8.666 também tem previsão de arbitragem na contratação pública de fornecedores. O que o Poder Judiciário tem patrocinado bastante é a mediação e a conciliação nas áreas de infra-estrutura. Esse também é um grande instrumental, já que os contratos dessa natureza são de 20 ou 30 anos e nenhuma das partes prevê um rompimento a curto prazo. Bem conduzidas, a mediação e a conciliação trazem excelentes resultados.
ConJur — As brigas judiciais em relação às contratações feitas pela Petrobras de forma menos burocrática se devem a uma contraposição de leis. Há quem diga que, pelo fato de ser uma empresa com participação estatal, ela deve contratar de acordo com o rigor da Lei de Licitações, a Lei 8.666/93. Outros defendem que, por competir com outras empresas privadas, a Petrobras precisa ter mais agilidade com fornecedores. Qual seu ponto de vista?
Maria D’Assunção — A lei do petróleo prevê a excepcionalidade para a Petrobras. A origem dessas questões é o entendimento do Tribunal de Contas da União de que ela que ela tem que usar a Lei de Licitações. Mas o Tribunal de Contas não é legislador, e há uma lei que prevê o regime licitatório simplificado para a empresa. Não é o regime licitatório que vai tornar a licitação mais barata ou mais moral, mas os seres humanos que atuam naquela contratação.
ConJur — Em que outros aspectos a Lei do Petróleo, que tirou da Petrobras o monopólio da exploração, modernizou a produção?
Maria D’Assunção — Todas as avaliações são muito positivas, isso pode ser visto nos balanços da Petrobras e das indústrias brasileiras de petróleo. Houve benefícios à pesquisa, à indústria, a serviços e aos valores que o Tesouro arrecadou. A própria Petrobras pôde se reciclar e se tornar uma das maiores empresas do mundo. Por qualquer lado que se veja, a legislação trouxe vantagens, valorizou a Petrobras.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


