Entrevista: Gilmar Mendes, presidente do STF
22 de abril de 2008, 18h07
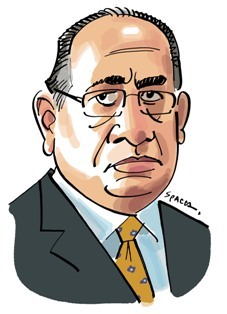 Spacca" data-GUID="gilmar_mendes.jpeg">Mandar para Cuba os boxeadores que queriam asilo no Brasil, após os Jogos Panamericanos no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa que fez Getúlio Vargas, em 1936, ao entregar a judia Olga Benário aos seus algozes nazistas. O tom das palavras do ministro Gilmar Mendes, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (23/4), dá uma idéia da sua personalidade. No caso, ele respondeu a um ministro do governo Lula que resolveu desancar o Judiciário.
Spacca" data-GUID="gilmar_mendes.jpeg">Mandar para Cuba os boxeadores que queriam asilo no Brasil, após os Jogos Panamericanos no Rio de Janeiro, foi a mesma coisa que fez Getúlio Vargas, em 1936, ao entregar a judia Olga Benário aos seus algozes nazistas. O tom das palavras do ministro Gilmar Mendes, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (23/4), dá uma idéia da sua personalidade. No caso, ele respondeu a um ministro do governo Lula que resolveu desancar o Judiciário.Mas não é essa a principal característica de Gilmar Mendes. Seu papel principal tem sido o de formulador de soluções para dar mais funcionalidade ao sistema judicial. Foi o ministro que trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro fórmulas como os efeitos vinculantes, em suas diferentes aplicações; os juizados federais; a Repercussão Geral; a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF); o sobrestamento de processos repetitivos; e, entre outros mecanismos, a possibilidade de terceiro interessado (amicus curiae) interferir no processo que lhe diz respeito.
O ministro tem idéias surpreendentes, como a de delegar poder de decisão a sindicatos e outras entidades para que, em matérias cujas fórmulas o Judiciário já tenha cristalizado decisão, esses casos não precisem chegar à Justiça. Gilmar quer declarar guerra à “cultura judiciarista”, pela qual o Judiciário tem que apartar todas as brigas do país.
Nesta entrevista, o tônus muscular do ministro volta à cena quando o assunto são as interceptações telefônicas que, generalizadas, parecem servir a propósitos diferentes do combate ao crime. Como presidente também do Conselho Nacional de Justiça, o ministro considera propor restrições não para impedir, mas para que ao menos a lei seja observada.
Leia os principais trechos da entrevista do ministro Gilmar Ferreira Mendes ao site Consultor Jurídico.
ConJur — Que contribuição o STF pode dar à Justiça do país em termos de funcionalidade?
Gilmar Ferreira Mendes — O STF pode ajudar a racionalizar a jurisprudência. Organizar o entendimento da Justiça a respeito de cada grande tema. Estabelecida a solução ideal para cada tipo de conflito, dá-se efeito vinculante à matéria de forma a desonerar a magistratura para cuidar dos novos temas que surgem. Muita gente resolve apostar no Judiciário por causa de seu caráter lotérico.
ConJur — Só os juízes podem resolver os problemas do Judiciário?
Gilmar Mendes —Não só. A maior repartição da Previdência Social, hoje, está nos Juizados Especiais Federais, que estão entupidos de casos do INSS. Se a própria Previdência se encarregar de aplicar a lei e a jurisprudência, esses casos não precisarão chegar à Justiça. Vale o mesmo para a maior parte dos litígios trabalhistas. O sistema sindical poderia se encarregar da solução de conflitos básicos. Na Alemanha, eu era vinculado a uma associação de locatários. Em caso de divergência, a própria associação mandava uma carta para o locador esclarecendo o caso. Aquilo valia como uma solução administrativa. E era acatado. Ou seja, precisamos combater essa visão judiciarista, de que só a Justiça estatal pode resolver nossos problemas. Ou seja: não adianta só mudar a lei ou a doutrina. É preciso mudar a cultura também.
ConJur — O secretário de Direitos Humanos do governo federal, Paulo Vannuchi, diz que o Judiciário é a instituição mais defasada do país no que diz respeito aos direitos humanos. Os juízes são conservadores como diz o representante do governo?
Gilmar Mendes — Há certo exagero e talvez perda de perspectiva por parte do secretário. Não é razoável partir de um caso isolado ou de uma sentença equivocada para esse tipo de conclusão genérica. Até porque um eventual erro judicial sempre pode ser corrigido com o uso dos recursos disponíveis. O Judiciário tem contribuído para a humanização do Direito no Brasil, nos seus diversos campos. Inclusive contendo excessos perpetrados pelo Executivo, como se vê em centenas de casos de Habeas Corpus. O país talvez não tenha chegado a um estado policialesco graças ao Judiciário, e não ao Executivo. O Judiciário, porém, não pode agir quando não é procurado. Por exemplo, foi lamentável o Judiciário não ter podido participar da deportação dos boxeadores cubanos. Algo que talvez se assemelhe ao caso da extradição de Olga Benário — um episódio que nos enche de vergonha até hoje. Um erro da Justiça sempre pode ser corrigido, mas o direito dos boxeadores devolvidos a seus algozes nunca mais será restabelecido.
ConJur — Como o senhor vê, hoje, o Judiciário como prestador de serviços?
Gilmar Mendes — Além do seu papel institucional e político importante, é também grande instrumento de serviço público para garantir os direitos sociais previstos na Constituição. Não por acaso temos intensa demanda relativa aos pleitos nos campos da saúde, financiamento de despesas médicas, aposentadorias, assistência social. Isso mostra que o Judiciário é também órgão que contribui para corrigir o estado de desigualdade social tornando efetivos outros serviços.
ConJur — Esse Judiciário atende à expectativa da população?
Gilmar Mendes — Existe alguma frustração em razão da desigualdade e falta de mecanismos alternativos. O Judiciário em certas regiões é quase a única alternativa de socorro social. A única instância à qual o cidadão pode recorrer para fazer valer seus direitos. Nesse sentido, com demanda excessiva, a frustração de pretensões é inevitável. No início dos juizados especiais, eram 200 mil processos. Pouco depois, passa a mais de 2 milhões. Vemos que há demanda recôndita. Pessoas que não faziam valer seus direitos passam a fazê-lo. É preciso ter noção da demanda reprimida ainda não contabilizada.
ConJur — Estava prevista para 1993 uma revisão da Carta de 1988. Não ocorreu. No entanto, de lá para cá a Constituição foi emendada mais de 50 vezes para atender demandas circunstanciais. Como o senhor vê a possibilidade de uma revisão da Constituição, hoje. Seria conveniente?
Gilmar Mendes — O modelo analítico da Constituição impôs e impõe essa revisão tópica contínua. Isso explica as emendas. Mas, curiosamente, não são aspectos centrais do texto. Trata-se de aposentadoria, tempo de serviço, contribuição de inativos, mas não de temas como divisão de poderes ou estrutura do estado. Não vejo nesse contexto necessidade de revisão sistêmica com constituinte.
ConJur — O que foi feito da reforma do Judiciário?
Gilmar Mendes — Tivemos a primeira parte da reforma no plano constitucional. No plano legal, está em andamento. Tocamos a Lei da ADPF e da ADI para entender seus limites. Depois tivemos reformas como as do Código do Processo Civil, o regramento sobre Repercussão Geral, o sobrestamento para processos repetitivos, a Lei da Súmula Vinculante e temos hoje discussão significativa sobre reforma do processo penal. Acredito que esse processo está em andamento e será contínuo, pois a toda hora constatamos que depois de cada solução surgem novos problemas. É um processo dialético. Ao lado dessas reformas no plano constitucional e também no plano administrativo talvez devêssemos discutir o ethos de fazer Judiciário. Em que medida outros organismos poderiam desempenhar funções afins. Há pouco falei dos juizados especiais e da quantidade de processos que versam sobre questões previdenciárias porque o próprio órgão do governo não assume os entendimentos definitivos. O mesmo vale para as relações de trabalho. Para cada uma delas, uma decisão judicial. Sindicatos poderiam regular e exonerar a Justiça de pleitos comuns. É preciso fazer esse questionamento. Essa questão se coloca não só no plano formal, mas cultural.
ConJur — Uma comissão parlamentar apurou que houve no ano passado 409 mil interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Não há algo de errado nisso? Afinal, se cada pessoa fala com dez outras por dia, ao longo de 15 dias serão milhões de horas a degravar, algo inviável. O CNJ não deveria se manifestar?
Gilmar Mendes — O Judiciário todo está fazendo reflexão. No nosso sistema só existe grampo a partir de ordem judicial, para instrução penal. É o juiz quem deve autorizar, embora seja protagonista secundário da cena dos vazamentos, uma vez que a divulgação se dá pelos órgãos policiais em conúbio com a imprensa. Esse processo, que começa em 1996, precisa ser revisto. Já o acompanhamento das escutas está a demandar revisão. Acredito que a própria CPI que investiga isso de forma efetiva poderá dar ensejo ao que toca à legislação. Creio conveniente que o CNJ examine também a possibilidade de uma disciplina interna sobre o tema, a fim de que se coíba o quadro de abuso desenvolvido.
ConJur — Como o senhor vê a generalização do uso da interceptação telefônica como elemento central de investigação?
Gilmar Mendes — Tenho noticias de que alguns órgãos que não integram a polícia judiciária já dispõem de instrumentos para isso. Confidenciou-me um membro do Ministério Público que alguns estados já fazem essa investigação, o que me parece extravagante. O MPF adquiriu o sistema “guardião”. O que é curioso já que não se tem decisão clara sobre se a investigação criminal pode ser conduzida pelo Ministério Público. E, ainda que seja assim, se esse tipo de investigação não demanda outros mecanismos de controle. Não me consta que isso seja possível dentro do atual quadro constitucional. Há emenda constitucional de duvidosa chance de aprovação pelo STF, seja no plano formal, seja no plano material, já que afeta cláusula pétrea, direitos e garantias individuais.
ConJur — A ferramenta do juiz é a lei. O legislador brasileiro não é muito atento com esse seu lado da tarefa. Mas, por outro lado, os congressistas têm sido bastante desprestigiados. Como o senhor vê a demonização do político brasileiro?
Gilmar Mendes — Acho negativo e a mídia contribui pra isso num jogo maniqueísta pouco leal. A atividade política é fundamental. Você não realiza o Direito sem o político e sem a atividade política. Ninguém pode imaginar que magistrado possa substituir o legislador. A responsabilidade democrática legitima o legislador. Matérias como o combate à criminalidade, inclusão de pessoas em quadrilhas, tudo isso exige decisão legislativa. Mas é preciso fazer um acompanhamento legislativo dos bons e maus resultados. É muito importante prever prazo para revisão das leis, para conferir o resultado de uma lei.
ConJur — Como o senhor vê as relações da magistratura com o Ministério Público?
Gilmar Mendes — Aqui ou acolá sempre teremos pontos de desacerto, mas acredito que hoje há um entendimento e uma relação de bastante respeito e harmonia. Talvez nos alvores da democracia em 1988 tivemos disputa sobre primazia do processo decisório, quem decidia, quem instaurava, mas hoje temos um grau maior de maturidade. Cada vez mais as instâncias estarão conscientes dos seus próprios poderes e limites.
ConJur — E as relações da magistratura com a advocacia?
Gilmar Mendes — Há alguns focos de tensão, como esse revelado, agora, no processo de escolha de juízes com críticas ao quinto constitucional e também alguns conflitos específicos com trocas de acusações. Mas acho que temos uma relação de certa compreensão crítica. É natural algum antagonismo, até pelo papel social de cada um. O advogado tem protagonismo especial no Judiciário e em alguns pontos pode estar em contradição com algum juiz ou entendimento da judicatura. Mas sempre se pode recorrer. É por isso que o advogado é um importante agente da transformação jurisprudencial com o seu inconformismo quanto a hipotéticos desvios. Temos que ter essa dimensão especial do papel do advogado.
ConJur — Como estão as relações da magistratura com o Poder Executivo?
Gilmar Mendes — A Constituição de 1988 trouxe uma grande conquista com a independência funcional do juiz e a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, um valor importante. Evidente que não podemos ser ingênuos: em alguns estados ainda pode haver relação que afete a autonomia, mas o quadro mudou muito a partir da transformação. Nesse sentido, acho que temos um novo quadro novo do ponto de vista formal de independência. Podemos ter aqui ou ali a reprodução de situações de dependência ou eventual facciosismo de correntes do Judiciário, mas mais associado a aspectos culturais do que legais. Não elide eventuais conflitos.
ConJur — Como o senhor vê as relações da magistratura com a imprensa?
Gilmar Mendes — Ainda vivemos um grande aprendizado sobre a Constituição de 1988. Entramos nessa quadra de nossa história sem a tradição de imprensa livre e ainda dentro do modelo autoritário em que o Judiciário não era totalmente independente. Havia cassações com atos institucionais, cerceamentos diversos. E ainda não aprendemos como lidar com isso: imprensa livre e Judiciário independente. Em que medida o Judiciário é influenciado pela imprensa? Em que medida a imprensa quer influenciar? Tudo isso compõe o novo contexto. Há a imputação de que a Justiça se deixa pautar pela mídia. No que me concerne, não percebo esse tipo de tendência. Certamente a mídia contribui para trazer novos aspectos, mas não vejo colegas formando convicção pelo wishful think da imprensa. Vejo o contrario. O Judiciário é, por definição, órgão contra-majoritário. Se for para contrariar o clamor para manter a Constituição, o Judiciário faz isso.
ConJur — E com o poder econômico?
Gilmar Mendes — Esta é uma questão para se debater sempre. De em vez quando volta o argumento de que os pleitos dos mais aquinhoados são contemplados com mais atenção pelo Judiciário. Principalmente em matéria penal. O aquinhoado levaria vantagem por ter sua causa veiculada por advogados bem pagos. Eles teriam mais condições de movimentar o Judiciário. Esse problema é típico em qualquer sociedade capitalista. Os órgãos de defesa do consumidor e dos hipossuficientes não estão aparelhados. Topamos com um quadro que tem a ver com o país, uma patologia sociológica e não de um serviço público específico. Eu não vejo o Judiciário cativo do poder econômico. Mas defendo a melhoria das defensorias públicas. E de outras entidades que possam ajudar a equiparar as defesas e reduzir as condições econômicas desiguais. Não vejo o Judiciário cativo do Executivo, nem do poder econômico. Basta ver as decisões em matéria de defesa do consumidor e o enfrentamento nas decisões de interesse das entidades bancárias.
ConJur — Assim como ocorre com planos econômicos, que atingiram a todos os brasileiros, existe a reivindicação administrativa de reparação por parte de pessoas que se sentiram mais prejudicadas que outras no período do regime militar. A diferença é que no caso dos pacotes econômicos a arbitragem é feita por julgadores profissionais, os juízes. No Ministério da Justiça, quem decide são os amigos dos requerentes. Isso não ofende o devido processo legal, dada a disparidade de meios ou a questão da impessoalidade e do uso de recursos públicos previsto na Constituição?
Gilmar Mendes —Não necessariamente. Esse processo foi concebido pelo texto constitucional. À falta de legislação em Mandado de Injunção, o que se nota é o desbordamento dos critérios. Fui relator de processo em que se discutia a indenização a ser paga a família de desaparecido político. Na Justiça, usa-se o critério de renda não recebida multiplicada pelo número de anos da expectativa de vida. A quantia não ultrapassava, em 2003, R$ 400 mil. No caso das reparações políticas, para pessoas que continuaram a trabalhar, concedem-se valores na casa de R$ 1,2 milhão ou mais. Acho preocupante. Essas indenizações teriam caráter de reconhecimento, de um pedido de desculpas da sociedade ou tem o propósito de enriquecimento? Há pouco tempo, o professor Kevin Boyle [professor, especialista em Direitos Humanos da Universidade de Essex, da Inglaterra, com atuação em organismos das Nações Unidas e da União Européia] informou que a África do Sul tabelou em US$ 100 mil as indenizações por perseguições naquele país. Parece clara a necessidade de rever. Será que não há aí uma hermenêutica do interesse, do próprio interesse, desses grupos que estão sendo beneficiados? A AGU deveria se preocupar porque se estabelece um paradigma. E a União terá grande dificuldade de pagar outras indenizações. Teremos a falência do Estado brasileiro.
ConJur — O país tem evoluído num aspecto macro-político, que é o amadurecimento das instituições e macro-econômico, com o controle da inflação. Mas repetem-se notícias desanimadoras, como invasões do MST, bloqueios de estradas e a ocupação de prédios públicos. Retrocesso ou acidente de percurso? Como a magistratura encara esses fenômenos?
Gilmar Mendes — Tenho a impressão de que há certa contemplação, uma ingênua tolerância que se convola em leniência, quanto a esse tipo de manifestação. A liberdade de manifestação e opinião tem que ser reconhecida. Mas quando passam a agredir direitos deve ser coibida. Nesses casos cabe às autoridades constituídas recorrer aos remédios que a farmacologia jurídica oferece.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


