Entrevista: José Roberto Batochio
23 de abril de 2006, 7h00
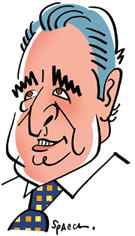 Spacca" data-GUID="jose_roberto_batochio.png">Ele tem 62 anos de idade e 40 de advocacia. É reconhecido pela luta em defesa das prerrogativas dos advogados e tem a consciência de que a briga não termina nunca. José Roberto Batochio ocupou um assento no Legislativo. Durante o tempo em que foi deputado federal, de 1999 a 2003, levou sua briga para o Congresso Nacional. “Só exerci um trabalho na minha vida: a advocacia.”
Spacca" data-GUID="jose_roberto_batochio.png">Ele tem 62 anos de idade e 40 de advocacia. É reconhecido pela luta em defesa das prerrogativas dos advogados e tem a consciência de que a briga não termina nunca. José Roberto Batochio ocupou um assento no Legislativo. Durante o tempo em que foi deputado federal, de 1999 a 2003, levou sua briga para o Congresso Nacional. “Só exerci um trabalho na minha vida: a advocacia.”Batochio participou da elaboração de um dos substitutivos que depois se transformaram na Emenda Constitucional 45, durante a longa tramitação da proposta de Reforma do Judiciário no Congresso. Trabalhou para modificar o projeto inicial, que ele defende ter sido baseado num modelo desenvolvido pelo Banco Mundial.
Segundo ele, o interesse do capital internacional era transformar o Judiciário numa pirâmide, com o Supremo Tribunal Federal no vértice, julgando as grandes questões, como privatizações, e a Justiça de primeira instância na base, julgando ações dos miseráveis. “Uma espécie de foro do capital.”
Como presidente da OAB nacional, de 1993 a 1995, foi autor do Estatuto da Advocacia, ferramental fundamental ao trabalho dos advogados, aprovado em 1994. A lei foi uma resposta ao Judiciário, que insistia em restringir a imunidade conferida aos advogados.
No seu currículo de advogado, Batochio faz a defesa de personalidades políticas, como o ex-prefeito paulistano Paulo Maluf e seu filho Flávio. Recentemente, assumiu a defesa do ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci. Em entrevista à Consultor Jurídico, da qual também participaram os jornalistas Lilian Matsuura, Márcio Chaer e Rodrigo Haidar, José Roberto Batochio lamentou a atitude de muitos juízes, ferrenhos opositores do Estatuto da Advocacia, a quem os advogados “defenderam durante as cassações impostas na ditadura”.
Leia trechos da entrevista
ConJur — Hoje, com a proteção que os advogados desfrutam da Constituição e do Estatuto da Advocacia, pode-se dizer que eles conseguem exercer sua profissão sem constrangimentos?
José Roberto Batochio — Não. Ainda hoje, os tribunais continuam a interpretar restritivamente as prerrogativas da advocacia porque não querem abrir mão dessa espécie de censura da linguagem do advogado no ambiente dos tribunais. Já pensou todo mundo falando o que pensa? Deus nos acuda! É tudo que alguns tribunais não querem. Durante a ditadura, na vigência do AI 5, quando os militares entravam nos tribunais e cassavam os juízes, quem protestava eram os advogados. O Judiciário apenas cumpria em silêncio a ordem e o Ministério Público não se mostrava presente. Foram raríssimos os Márcio Moraes e os Américo Lacombe. Agora, quando nós precisamos da efetiva tutela desses direitos da advocacia, setores do Judiciário interpretam as nossas prerrogativas mortificando-as e alguns membros do Ministério Público querem ignorá-las. Isso não é ingratidão, é a recorrência da história, com a qual o advogado tem de aprender a conviver desde cedo. O patrocinado de ontem jamais será o reconhecido de amanhã.
ConJur — Mesmo assim, um dos grandes avanços da advocacia foi a inclusão das prerrogativas dos advogados na Constituição de 1988. Como foi esse processo?
José Roberto Batochio — Em 1986, durante o período constituinte, um grande número de advogados era processado criminalmente pelos chamados crimes de linguagem. Qualquer insurgência mais veemente ou mais enérgica do advogado contra um abuso e vinha logo o folclórico “Teje preso” (risos). Na época, havia um dispositivo no Código Penal de 1940 — como há até hoje — que dava imunidade para os advogados, mas alguns tribunais o interpretavam de maneira restritiva. Nesse contexto, surgiu a idéia de constitucionalizar a imunidade material do advogado, de consagrar na Constituição a indispensabilidade do advogado no Estado Democrático de Direito. Buscava-se um complexo de garantias para que o profissional pudesse exercer seu trabalho. Durante a conferência nacional da OAB em Belém, levamos essa tese — gestada no ventre da Aasp —, com o objetivo de que fosse incluído na Constituição o seguinte texto: “O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”. A idéia foi aprovada na conferência e o deputado Michel Temer ficou incumbido de apresentar a proposta na Assembléia Nacional Constituinte. Saímos vitoriosos. A proteção ao advogado está expressa no artigo 133 da Constituição, com o acréscimo da expressão “nos limites da lei”. Essa limitação nos desagradou, porque permitiu o entendimento de que o preceito era de eficácia contida (quando, na verdade era de eficácia redutível) e que, para ser aplicada, haveria de existir lei integradora, que lhe traçasse o perímetro. Mas foi necessária para que o texto fosse aprovado pela Constituinte. Alguns tribunais começaram a negar a inviolabilidade dizendo que não existiam leis que circunscrevessem esses limites. Anos depois, já como presidente da OAB nacional [Batochio foi presidente da OAB nacional de 1993 a 1995], eu disse: “o STF quer uma lei para definir a inviolabilidade, então vamos fazer”. Assim, fizemos e aprovamos no Congresso Nacional o Estatuto da Advocacia — Lei 8.906/94.
ConJur — Depois de aprovado, a Associação dos Magistrados Brasileiros conseguiu suspender a eficácia de alguns dispositivos, não foi?
José Roberto Batochio — Foi sim. Foi suspensa mais de uma dezena de dispositivos, por exemplo, o que estabelecia o direito do advogado de falar depois do relator. Naquela época, eu era presidente da OAB nacional e meu colega de faculdade, Paulo Gallotti [hoje ministro do STJ], era presidente da AMB. E ele vai me permitir essa indiscrição porque isso faz parte da história. Durante um congresso da associação em Salvador, Gallotti me ligou e disse que os juízes haviam decidido entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Estatuto. Entre os dispositivos questionados estava este que assegura ao advogado o direito de falar na tribuna depois de ouvir o voto do relator. Para mim, isso é apenas idiossincrasia de juízes, porque nada mais adequado do que o defensor ouvir o voto do relator e poder, depois, esclarecer equívocos e apontar acertos. Isso é democrático. Nós sabemos que a verdade nasce do confronto entre a tese e a antítese, de onde surge a síntese. No entanto, falou mais alto o culto à majestade incontrastável de que se julgam revestidos alguns. O antropólogo Roberto da Matta já tratou desse fenômeno. No Brasil, em conflitos, as pessoas invocam uma autoridade que, muitas vezes, não possuem.
ConJur — Como assim?
José Roberto Batochio — Há outras expressões do culto exagerado à autoridade no nosso sistema. Quer um exemplo? Na Lei de Imprensa, não se admite exceção da verdade contra o presidente da República. O presidente pode processar alguém por calúnia e o acusado não pode tentar provar que aquilo que falou é verdade. Neste caso, o juiz diria: “Cale-se. Na nossa lei, você não pode dizer a verdade contra o presidente da República porque isso é uma ofensa a sua autoridade”. Esse culto à autoridade é muito próprio da nossa cultura. É um tabu que nós temos de quebrar. Mas, quando se tenta quebrar isso como advogado, ouvimos que somos arrogantes, audaciosos, insolentes. Nessa mesma linha dogmática, outro dispositivo foi suspenso. O Congresso havia deliberado que não constitui injúria, difamação ou desacato a insurgência do advogado contra abuso de autoridade. O Supremo Tribunal Federal se manifestou e disse: “Desacato não! Onde já se viu essa imunidade, verdadeira licença ilimitada para ofender?”. Mais uma vez, prevaleceu a questão da intocabilidade da autoridade.
ConJur — Todos esses dispositivos foram suspensos há mais de 10 anos por meio de liminares. Agora, o Supremo já tem uma nova composição, que deve julgar o mérito destas questões. Há a possibilidade de as liminares caírem?
José Roberto Batochio —Eu tenho esperança que sim, no fundo do meu velho coração de advogado. Acredito que exista a possibilidade de isto ocorrer porque a suspensão da eficácia de alguns desses dispositivos não têm a menor razão de ser, já que não colidem com a Constituição. Ademais, o tempo — esse devorador de coisas — já esmaeceu o clima emocional de antagonismo entre juízes e advogados. Quando ao julgamento final das ações, espero que não subsista um neologismo criado por um colega do Paraná, o advogado Elias Mattar Assad: decisões “provinitivas”, aquelas que, por natureza, são provisórias, mas, com o passar do tempo, se transformam em definitivas. Não por confirmação, mas por antiguidade.
ConJur — Durante a tramitação do Estatuto da Advocacia no Congresso, alguns parlamentares se levantaram contra o projeto. Houve algum episódio marcante?
José Roberto Batochio — Quem marcou muito esse processo de debates legislativos foi o então deputado Roberto Campos [morto em outubro de 2001]. Ele foi uma das personalidades mais cultas e conservadoras da sua época. Sua inteligência era inegável. Ele questionou o porquê de os advogados precisarem de uma lei própria, já que todas as demais profissões não a tinham. Explicamos aos congressistas que os advogados precisam de disciplina específica porque exercem função de natureza pública e essencial ao Estado, mas em ministério privado. O Judiciário tem a missão de dirimir conflitos verificados no corpo social, segundo parâmetros da vontade geral expressa na lei. Ele tem a tarefa de impedir que esses conflitos sejam resolvidos por meio de violência. Mas, os juízes são apenas uma parte desse poder. Os advogados são atores obrigatórios na cena jurisdicional. Não existe julgamento democrático sem direito de defesa. Alguns juízes acham que sim, mas a consciência civilizada do mundo diz que não. Nossa tarefa no Legislativo, então, foi explicar que os advogados exercem uma função pública e quase sempre conflituosa. Está obrigado a enfrentar abusos, verberar irregularidades, ilegalidades de toda ordem e, para tanto, não pode estar respaldado tão somente em sua coragem pessoal. Precisa de proteção legal para isso. Sem o Judiciário, não há democracia. Sem advogado, não há Judiciário. Logo, sem advogado, não há democracia. Esse é o silogismo que tivemos de explicar. Prevaleceu o bom senso. Em 4 de julho de 1994, o então presidente Itamar Franco sancionou o Estatuto da Advocacia sem vetos.
ConJur — Alguém mais protestou depois da criação do Estatuto?
José Roberto Batochio — Ah, sim. A Febraban, por exemplo, se indignou contra o dispositivo que dizia que, na advocacia assalariada, a verba da sucumbência deveria ser rateada entre todos os advogados do corpo jurídico. Isso porque a sucumbência era uma grande fonte de receita dos bancos. Sindicatos — até de empregados — se levantaram contra este dispositivo, já que também costumavam se apropriar dessa verba gerada pela força de trabalho dos advogados assalariados. Mas, o que mais me doeu, foi um artigo que um então professor do Direito do Trabalho de São Paulo escreveu para um jornal de grande circulação. Nele, o professor presumia, graciosamente, que eu havia permutado a sanção presidencial sem vetos do Estatuto pela indicação de um ministro do presidente Itamar Franco para ocupar vaga no TST pelo quinto constitucional da advocacia. Isso me feriu porque jamais ocorreu. Eu sabia que havia uma espécie de conspiração. Em algumas seccionais, forças político-partidárias manobravam para aprovar a indicação do ministro, pois muitos, de alguma forma, tinham interesses junto ao governo federal. Eu cheguei a fazer uma carta de renúncia da Presidência da OAB por isso, li a carta não oficialmente antes da votação, mas não precisei renunciar porque o ministro não foi eleito.
ConJur — O senhor participou ativamente da longa tramitação da Emenda Constitucional 45. Como foi esse processo?
José Roberto Batochio — Enquanto deputado federal por São Paulo, fui membro da comissão especial que examinava a proposta de emenda constitucional, chamada de Reforma do Judiciário. A primeira surpresa que eu tive foi tomar conhecimento de que o Banco Mundial se ocupava do tema e tinha até desenvolvido um modelo de Poder Judiciário para os países em desenvolvimento. Como eles se importam com a distribuição de justiça nos países em desenvolvimento, não? Que solidariedade! (risos) Aliás, isso não acontece só no Judiciário não. A Lei de Responsabilidade Fiscal engessa o Judiciário, põe na cadeia os prefeitos que são obrigados a lançar mão de verbas que não estão previstas no orçamento para atender situações emergenciais, tudo em nome de se alcançar uma “meta fiscal” fixada não se sabe por quais critérios. Armar a sociedade contra irregularidades do administrador? Ora, para isso são muitos os mecanismos existentes no nosso ordenamento jurídico. O interesse subjacente e a trava no desenvolvimento é que ficaram ocultos.
ConJur — Mas qual é esse modelo de Poder Judiciário apresentado pelo Banco Mundial?
José Roberto Batochio — É exatamente a proposta que veio para a Reforma do Judiciário inicialmente: uma estrutura funcional verticalizada. No vértice da pirâmide, ficam os tribunais superiores julgando as grandes questões. Na base, fica a Justiça do salário mínino, dos pequenos e dos miseráveis. Capital internacional não aceita juiz de primeiro grau concedendo medida liminar contra privatização, porque entende melhor não pulverizar democraticamente essa cognição.
ConJur — Prerrogativa de foro para o capital?
José Roberto Batochio — Algo assim. Por isso, eu apresentei um substitutivo completo. Quero uma Justiça democrática. Estavam no meu substitutivo a proibição do nepotismo, a Justiça 24 horas, redução de férias, aumento dos ministros do STJ de 33 para 107, entre outros pontos. Esse aumento de juízes, por exemplo, foi criticado pelos ministros, que diziam que isso vulgarizaria o tribunal. Eu queria também aumentar os ministros do Supremo de 11 para 16, transformando-o numa corte constitucional exclusiva. Propus que fosse posto na Constituição um dispositivo que proibisse o Congresso Nacional de legislar restringindo o direito que o juiz de qualquer grau de jurisdição tem de conceder medidas liminares, cautelares e antecipatórias. Pretendia também declarar constitucional a imunidade penal ao juiz, dispondo que, salvo caso de dolo, o juiz é inviolável, civil e penalmente, por seus despachos, sentenças e votos. Desnecessário? Acredito que não. Na Espanha, por exemplo, é crime um juiz decidir contra a lei.
ConJur — Existem outras matérias sobre as quais deveria ser proibido ao Congresso legislar?
José Roberto Batochio — Sobre a liberdade de imprensa, por exemplo. Deve ser vedado ao Congresso legislar sobre matéria relativa à liberdade de informação. Prefiro que exista um princípio constitucional amplo proibindo o Congresso de legislar sobre a questão. Todos os conflitos decorrentes da informação ficam para serem dirimidos pela legislação comum. No entanto, me parece que essa não é a opinião majoritária nos meios de informação.
ConJur — Mas é preciso regulamentar artigos da Constituição por meio de lei, não é?
José Roberto Batochio — A Constituição tem princípios tão axiomáticos, ou seja, que se demonstram por si próprios, tão claros que não é dado a ninguém o poder de interpretá-los. Em certas circunstâncias, a interpretação serve mesmo para negar o objetivo da tutela jurídica contida no dispositivo. Certos princípios que são fundamentais e básicos da estrutura de um Estado Democrático de Direito não podem ser interpretados. Eles têm de ser declarados, proclamados e afirmados.
ConJur — E quando esses princípios se chocam entre si? Por exemplo, o da inviolabilidade da honra e da dignidade da pessoa e o da liberdade de expressão.
José Roberto Batochio — Para mim, é possível a convivência dos dois bens jurídicos. O limite para a tutela da liberdade de informação deveria ser uma grande possibilidade de responsabilização a posteriori. A lei tem de ter um caráter genérico. Por exemplo, as garantias processuais penais têm de valer para todos. A regra é a presunção de inocência e, por isso, o acusado tem de responder ao processo em liberdade. Essas garantias protegem quem “não merece”. Mas, para proteger os que merecem, a lei também protege os que não merecem. A lei é genérica. Não pode ser diferente para os bons e para os maus. O mesmo vale para a liberdade de imprensa. Ela tem de ser absoluta. Lógico que haverá gente ferida na sua privacidade, mas é o doloroso preço pago por essa liberdade fundamental. Com um bom sistema de justa reparação posterior desses danos, parece-me mais adequada a tutela ampla da liberdade de informação.
ConJur — O jornalista está subordinado ao segredo de Justiça?
José Roberto Batochio — Não, porque não é só um direito constitucional do jornalista de informar, mas é um dever. A contrapartida desse dever é o direito que o cidadão tem à informação. O segredo de Justiça não obriga o jornalista, mas obriga o funcionário, aquele que exerce uma função por meio da qual os fatos vieram ao seu conhecimento. É ele quem tem de zelar pela preservação dessas informações.
ConJur — Como o senhor vê as operações da Polícia Federal de busca e apreensão nos escritórios de advocacia? No combate ao crime, atropelam-se as prerrogativas dos advogados?
José Roberto Batochio — Isso é totalmente ilícito. É uma violação constitucional, um desrespeito à lei. A meu ver, a expedição de um mandado genérico por um órgão do Poder Judiciário não lava a ilicitude do ato, que é contra a ordem jurídica. Nestes casos, tanto policial quanto juiz estão cometendo atos ilícitos. Não é compatível com o atual estágio da nossa civilização que a Polícia vá apurar crimes no escritório do advogado, no confessionário do padre ou no consultório do psiquiatra. Há outras formas mais científicas e civilizadas de se investigar.
ConJur — Qual a responsabilidade do Estado nisso?
José Roberto Batochio — O Estado é o responsável imediato, porque a autoridade ou seu agente agem em nome do Estado. Ele responde civilmente. Mas a responsabilidade penal pelos abusos é pessoal.
ConJur — Durante as sessões das CPIs, o direito dos advogados de orientar seu cliente e até de falar acaba coibido pelos parlamentares. O que falta na cultura social para aceitar o papel do advogado como orientador do cliente?
José Roberto Batochio — Falta a consciência de que o direito que é mais fundamental para os homens é o direito de defesa, seja a autodefesa ou a defesa técnica. A primeira é aquela que o próprio acusado faz quando diz “não, eu não matei fulano”. A segunda cabe ao advogado fazer. Os espíritos autoritários sempre se mostraram intelectualmente alérgicos à contraposição defensiva, à verdade do imputado. Isso não ocorre só nas CPIs, infelizmente, mas também nos foros, nas delegacias, nas repartições públicas. O ex-ministro Nelson Jobim afirmou, certa vez, que o exercício da jurisdição não é espaço par afirmações pessoais. Eu digo mais: para os conflitos pessoais mal resolvidos, para as ambigüidades internas, para as hesitações de definição, há sempre o freudiano (ou jungiano) divã. Na função pública, há de prevalecer a impessoalidade, o equilíbrio, a eqüidistância das partes, o humanismo, ou seja, bom senso.
ConJur — O senhor acha que esse abuso tem sido constante no meio do Direito Penal?
José Roberto Batochio — O que mais me preocupa é a exagerada punição destinada aos crimes não violentos, como os crimes financeiros. É o hit do momento: punir quem pratica crime financeiro. O sonegador fiscal emprega pessoas, produz riqueza, mas tem sido tratado na Justiça Penal mais severamente que os homicidas. Virou um facínora. Para homicídio simples, quando o réu é primário, a pena é de seis anos. No entanto, não encontramos ninguém condenado por sonegação fiscal que tenha recebido menos do que seis anos de pena.
ConJur — Um Estado que cobra uma carga tributária tão alta deveria ser mais condescendente com quem deixa de pagar imposto?
José Roberto Batochio — Precisamos tomar cuidados com essas palavras porque os mal intencionados podem dizer que estamos pregando a impunidade para os sonegadores. E não é isso. A sonegação tem de ser punida, mas com penas alternativas à prisão. O trabalho humano produz riquezas e é moralmente adequado. No entanto, nosso sistema privilegia mais o capital que produz mais capital. Não consigo entender onde está a moralidade e o prestígio que deve ter um monte de dinheiro que, sem nenhum esforço humano, gera outro monte de dinheiro. Não vejo razoabilidade na situação de um empresário que teve de escolher em um mês se pagava os empregados ou os impostos ficar 15 anos preso. O mesmo vale para a pirataria. Ela tem de ser punida, mas não encontro justificativa para dar uma punição tão draconiana ao camelô pirata. Não defendo a impunidade, mas sanções mais compatíveis com o crime. Os Estados Unidos, recentemente, fizeram uma moção dizendo que o Brasil não age com suficiente rigor contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
ConJur — E isso é verdade?
José Roberto Batochio — Imagine. Aqui no Brasil, família virou quadrilha. Basta ter o pai, a mãe e dois filhos donos de um pequeno negócio. Pronto, já são três pessoas, uma quadrilha. Para mim, esse exagero é intolerável. Os Estados Unidos nos criticam, mas nós não temos cassino aqui. E eles têm Las Vegas, maior complexo a céu aberto de jogos de azar (de lavagem de dinheiro também?) do mundo.
ConJur — O senhor acredita que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede o desenvolvimento do Judiciário?
José Roberto Batochio — Completamente. Para mim, essa lei não é apenas moralizadora como dizem, mas engessadora do desenvolvimento social e tem por objetivo central o alcance da tão sacralizada meta fiscal. O aspecto moralizador é a embalagem dourada que envolve a pílula. Quero dizer: os objetivos financeiros representam mais que o bem estar social. Limitar o orçamento do Poder Judiciário de São Paulo, por exemplo, a 6% da arrecadação líquida gerou uma defasagem de nada menos do que 400 juízes no estado. Incorporar a tecnologia disponível aos serviços judiciários? Com que dinheiro? Fala-se que, com a lei, se moraliza a administração pública. Será que o preço pago em estagnação de progresso social vale a pena? Os exageros punitivos da lei estão desestimulando o cidadão de bem a se aproximar da vida pública. Hoje, não haverá, por exemplo, um só prefeito municipal, por virtuoso que seja, que cumpra quatro anos de mandato sem ter de responder a meia dúzia de ações cíveis e criminais dada a sua condição de ordenador de despesas. Quem tem consciência da legislação como é hoje não quer ir para o Congresso. Eu fui e não voltei mais.
ConJur — Por isso, podemos dizer que está caindo a qualidade dos legisladores?
José Roberto Batochio — Precisamos ter gente que pense no Brasil. Com todos esses escândalos, as melhores cabeças, bem sucedidas na vida privada, têm receio de se aproximar do processo político. Acabam ficando só aqueles que não têm nada a perder.
ConJur — Como advogado, o senhor defendeu diversos políticos, condenados previamente pela imprensa. É difícil defender pontos de vista diferentes do senso comum?
José Roberto Batochio — Sem dúvida. Há um duplo julgamento: o do Poder Judiciário e o do leigo, feito pela mídia. Este último é público, quase sempre sem paridade de armas dialéticas e sem direito de defesa. As pessoas também tendem a confundir a atuação estritamente profissional do advogado com sua opinião política enquanto cidadão. Alguns mais radicalmente desinformados querem cotejar a ação profissional do advogado com sua biografia pessoal. Nestes casos, a atuação profissional é mais complexa.
ConJur — A relação do senhor com o ministro aposentado do STF Carlos Velloso foi bastante criticada pela imprensa depois que o senhor apertou a mão do ministro após o julgamento do pedido de Habeas Corpus para Flávio Maluf. Como o senhor viu essas críticas?
José Roberto Batochio — Ele é um juiz excelente, preparado, de grande rigor jurídico e, ao mesmo tempo, afável no trato com todos com quem se relaciona funcionalmente, inclusive advogados. Foi maldade fotografar o aperto de mão e fazer insinuações veladas. Coisas do subdesenvolvimento mental de alguns. Foi apenas uma despedida formal. Patrulhamento de expressões e gestos, não! Depois desse episódio, encontrei com o ministro Velloso na posse do ministro Ricardo Lewandowski e disse: “ministro, vou cumprimentá-lo de cenho fechado” (risos).
ConJur — O que o senhor achou da afirmação atribuída ao ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, de que “mudou de lado”, a respeito da advocacia?
José Roberto Batochio — Não creio que ele tenha dito isso. Mas, se disse, respondo com Nelson Rodrigues: “se acabou, é porque não era amor”.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


