Entrevista: Sólon Cunha
9 de abril de 2006, 7h00
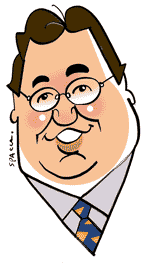 Spacca" data-GUID="solon_cunha.png">O melhor lugar para resolver conflitos trabalhistas é a mesa de negociação. A opinião é do novo comandante da área trabalhista do Machado, Meyer, Sendacz e Opice, Sólon Cunha. Para ele, hoje a negociação é mais importante que as regras inscritas na CLT, já que — com exceção das normas que contrariam dispositivos que protegem a segurança e a saúde do trabalhador — os tribunais têm decidido cada vez mais que deve prevalecer o negociado sobre o legislado.
Spacca" data-GUID="solon_cunha.png">O melhor lugar para resolver conflitos trabalhistas é a mesa de negociação. A opinião é do novo comandante da área trabalhista do Machado, Meyer, Sendacz e Opice, Sólon Cunha. Para ele, hoje a negociação é mais importante que as regras inscritas na CLT, já que — com exceção das normas que contrariam dispositivos que protegem a segurança e a saúde do trabalhador — os tribunais têm decidido cada vez mais que deve prevalecer o negociado sobre o legislado.Segundo o advogado, o maior erro de gestão empresarial é ainda encarar os sindicatos como inimigos e evitar a aproximação. Sólon Cunha esclarece que essa negociação não significa suprimir direitos do trabalhador, mas estabelecer acordos entre as partes. Isso não quer dizer que a CLT tenha perdido sua importância, de acordo com o advogado, que acredita que a Consolidação das Leis Trabalhistas precisa de uma atualização porque as normas foram feitas para a era industrial, e agora estamos diante da era tecnológica do trabalho, da prestação de serviços.
Nesta entrevista à revista Consultor Jurídico, Sólon Cunha também fala sobre os impactos da ampliação da competência da Justiça do Trabalho com a Emenda Constitucional 45 e sobre as reformas Trabalhista e Sindical. Também questiona a competência da Justiça trabalhista para julgar reclamações de empregados cadastrados como pessoa jurídica ou que participam de sociedades por cotas.
O advogado, que começou fazendo estágio no Pinheiro Neto Advogados, decidiu abrir mão do seu pequeno escritório e encarar um grande desafio de coordenar uma equipe com 29 advogados trabalhistas no MMSO. Foi professor de Direito do Mackenzie e da pós-graduação da PUC-SP, mas decidiu deixar a carreira universitária para se dedicar ao seu novo projeto.
Também participaram da entrevista os jornalistas Lílian Matsuura, Márcio Chaer e Rodrigo Haidar.
Leia a entrevista
ConJur — Como o senhor avalia esse primeiro ano da Justiça do Trabalho depois da ampliação da competência trazida com a Emenda Constitucional 45?
Sólon Cunha — Logo depois que a Emenda entrou em vigor, fui a um evento organizado pela Amatra [Associação dos Magistrados do Trabalho] em São Paulo para discutir qual seria o impacto da ampliação das competências da Justiça do Trabalho. O que eu notei é que cada área interpretou a mudança da forma mais favorável ao seu interesse. Os advogados trabalhistas ficaram felizes, porque o aumento da competência gera mais trabalho. Os juízes ficaram preocupados com a possibilidade de perda de especialização da Justiça do Trabalho. Por outro lado, a Amatra estava muito feliz com o resultado final, porque eles entraram na Reforma do Judiciário com a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho e saíram com a vitória da ampliação da competência. A idéia inicial da Reforma era a de que os processos trabalhistas passassem para a Justiça Federal comum e o que aconteceu foi justamente ao contrário, uma ampliação da competência. Depois desse ano, essas questões se acomodaram, o TST baixou um provimento em relação a custas, procedimentos, honorários de advogados e sucumbência esclarecendo bem a situação.
ConJur — Quem mais perdeu com a ampliação da competência?
Sólon Cunha — No início, o empregado e a empresa perderam porque a indecisão sobre as competências fez com que os processos ficassem parados por muito tempo. O processo que era da área cível ficou represado no Tribunal de Justiça de São Paulo, que está bastante congestionado. Então, quando chega a vez do relator decidir, o desembargador apenas encaminha esse processo para a Justiça Trabalhista. O leigo não entende o que aconteceu, já que a ação ficou parada por dois anos para o desembargador apreciar e dizer que não é com ele. A demora ao decidir a competência também acabou gerando juros trabalhistas muito altos. Geralmente em uma liquidação de execução de um processo trabalhista longo, os juros e a correção monetária superam o valor do principal. A demora do processo trabalhista hoje não é interessante. Os juros são de 1% ao mês, em quatro anos já são quase 50% de juros.
ConJur — Então não é mais barato recorrer na Justiça do Trabalho, como dizem?
Sólon Cunha — Já foi barato recorrer, quando a prescrição era de dois anos após a rescisão do contrato. Hoje a prescrição, embora de dois anos após a extinção do contrato, retroage a cinco anos. O empregador não pagava os direitos porque era mais vantajoso não pagar e esperar que o trabalhador fosse à Justiça do Trabalho, já que o prazo para ele entrar com a ação era pequeno. Hoje com os juros de 1% ao mês, o processo vai se protelando e a dívida vai ficando muito maior. Claro que no caso de uma empresa grande ainda pode ser vantajoso levar o processo para a Justiça para evitar que o precedente se multiplique, mas as empresas que estão na Justiça do Trabalho geralmente são pequenas e médias.
ConJur — As ações que eram do Direito Civil e que foram remanejadas para a Justiça do Trabalho estão sendo julgadas pelo Código de Processo Civil ou pela CLT?
Sólon Cunha — Um provimento do TST decidiu que essas ações serão julgadas pelo procedimento trabalhista. No caso do Recurso Ordinário não há problemas porque ele é muito parecido com a apelação, porque revê fatos e provas. Mas o Recurso de Revista é bem especializado e por isso favoreceu os advogados trabalhistas que tiveram que assumir esses processos. No Machado Meyer, por exemplo, todas as ações que foram para a Justiça do Trabalho foram remanejadas para a área trabalhista.
ConJur — A Justiça do Trabalho tem estrutura para absorver a demanda que veio de outros tribunais?
Sólon Cunha — A Justiça do Trabalho tem sofrido alterações no curso da sua história, e sempre tem respondido à altura. O Fórum Trabalhista de São Paulo é excelente e funciona com rapidez. Há um projeto de ampliação do número de varas trabalhistas que já foi autorizado pelo Conselho Nacional de Justiça. O TST também quer duplicar o número de juízes por vara. Cada vara terá dois juízes conduzindo os processos, provavelmente um deles deverá usar a sala de audiência pela manhã e outro à tarde. Isso vai dar ainda mais dinamismo para os processos em São Paulo. O maior cliente da Justiça do Trabalho e que entope o TST é o governo.
ConJur — Para o governo, juros de 1 % ao mês não é pouco?
Sólon Cunha — É, por isso o governo fica eternizando o débito.
ConJur — Segundo números divulgados pelo CNJ sobre os dados de 2004 da Justiça do Trabalho, em 74% dos casos uma das partes recorre da decisão de primeira instância. O que o senhor acha disso?
Sólon Cunha — Esse número não leva em consideração que quase metade dos processos tem conciliação em primeira audiência. O advogado trabalhista não recorre muito. Por exemplo, há uma orientação jurisprudencial no TST que diz que não cabe Mandado de Segurança contra a decisão judicial que tenha sido baseada em lei. Temos pouquíssimos pedidos de Mandados de Segurança aceitos pelo tribunal. Nós não temos Recurso Especial no processo trabalhista. Recurso Extraordinário para o Supremo em matéria trabalhista é uma dificuldade. O TST já fez duas grandes reformas das suas súmulas e orientações jurisprudenciais, e vai fazer a terceira com o objetivo de esclarecer ainda mais as questões, diminuindo a admissibilidade dos recursos. O que faz os advogados recorrerem é a fase de execução de crédito, que é complicada porque tem muitos detalhes e envolve negociação de valores. Há a perícia e cálculos que não terminam mais. O que acontece freqüentemente é que um advogado tem uma execução, por exemplo, de R$ 57 mil e que a parte contrária concordou com R$ 54 mil, mas o advogado impugna a conta e leva aquela dívida, muitas vezes sem que o cliente saiba. Os juízes mais antigos chamam para audiência de conciliação e tentam aproximar as partes do cálculo.
ConJur — Qual seria a solução para diminuir a quantidade de recursos na Justiça do Trabalho?
Sólon Cunha — O rito sumaríssimo resolve grande parte do problema, que é apuração dos valores, já que os pedidos são líquidos. Porque o grande problema na Justiça do Trabalho é a apuração de valores. Temos o valor dado à causa, valor do pedido, o valor arbitrado em sentença, o valor de alçada para efeito de recurso. Depois vem o valor de liquidação pedido pelo exeqüente, o valor de contestação de cálculo do executado, o valor da perícia, o valor do perito assistente, o valor da sentença homologatória. Além dessa variedade de valores, não havia uma tabela unificada de correção monetária. Posteriormente, porém, este último problema foi sanado, pois o TST elaborou uma tabela unificada, o que já foi um passo gigantesco, já que antes cada Tribunal Regional tinha sua tabela de correção monetária. Mas a grande massa de advogados não tem estrutura no seu escritório para fazer cálculo. O reclamante muitas vezes não tem dinheiro para pagar perito. Então, o cálculo na Justiça do Trabalho é, sem dúvida, um ponto a ser pensado.
ConJur — Como funciona o processo de execução trabalhista?
Sólon Cunha — Os autos do processo de execução e liquidação são os mesmos. Mas mesmo assim a fase de execução é complicada porque demanda mais serviço do que a fase de conhecimento. O pior é que a vara trabalhista está trabalhando com um número muito reduzido de servidores. Quando eu era estagiário eram nove funcionários por vara, se não me engano. Hoje a relação é de três funcionários por vara. Na relação administrativa do TST esse número é maior, mas os funcionários têm férias, afastamento por saúde, etc. A relação de fato é três para uma vara.
ConJur — A reforma processual poderia trazer algum procedimento para agilizar a fase de execução?
Sólon Cunha — O TST tem um projeto que cria um fundo que atenderia reclamantes com processos de até certo montante. A idéia é que esse fundo pague o reclamante e se sub-rogue no direito do reclamante para cobrar a empresa. Com isso eles conseguiriam unificar as execuções e o governo teria mais força coercitiva por esse fundo, para cobrar a empresa devedora. Há um fundo social nessa questão que é a distribuição de renda. Esse fundo poderia atender a comunidade mais pobre, reclamações trabalhistas de pequena monta, de natureza alimentar. Isso é um pouco complicado porque a Justiça do Trabalho tem dificuldade de encontrar as empresas na fase de execução. Essas empresas devedoras são pequenas e médias empresas que mudam de endereço e fecham. A informalidade no Brasil é muito grande. Então, o caminho é o da fiscalização. O governo deveria investir mais na estrutura do Ministério do Trabalho, que é muito precária.
ConJur — Como a Justiça do Trabalho está encarando as novas relações de emprego como as cooperativas, as empresas unipessoais e as sociedades por cotas?
Sólon Cunha — Essas relações de trabalho não são novas. O que é novo e que está em discussão é se essa pessoa que tem uma pessoa jurídica uniprofissional, por exemplo, poderia ingressar na Justiça do Trabalho em função de relação de trabalho. Na minha opinião, se o trabalhador de fato atuar através de uma pessoa jurídica, perde a competência da Justiça do Trabalho. Mas se o trabalhador vai à Justiça do Trabalho alegando que aquela pessoa jurídica é fraudulenta e foi exigida pela empresa com objetivo de fraudar a relação de emprego, então esse trabalhador deve ter sua reclamação julgada na Justiça trabalhista. O que importa na Justiça do Trabalho é a relação de fato, é o que chamamos de “contrato realidade”.
ConJur — A CLT está adequada a essa nova realidade?
Sólon Cunha — Do ponto de vista processual sim. Tanto que o Código de Processo Civil acompanhou algumas regulamentações da CLT, como a audiência única, notificação postal, unificação de execução ao processo de conhecimento, não haver agravo em decisão interlocutória. Achamos que temos leis fortes, mas, na verdade, a informalidade é muito alta. E esse é o maior problema porque desestabiliza a concorrência. Em um exemplo bem simplista: um carrinho de cachorro quente ou de hambúrguer na rua compete com o McDonald´s. Temos uma grande massa de trabalhadores à disposição de pequenas empresas que desestabilizam o mercado das empresas grandes com a informalidade na contratação e na relação de emprego.
ConJur — Qual seria a maior causa para o aumento do trabalho informal?
Sólon Cunha — O aumento do trabalho informal é causado muito mais pela lei tributária do que pela lei trabalhista. Isso não quer dizer que a CLT não precise de reformas, porque ela foi feita para a realidade industrial e estamos no mundo de serviços. A tecnologia mudou bastante a realidade do trabalho. Enquanto o trabalhador marca seu horário de entrada por um crachá com chip, a nossa CLT fala em cartão de ponto, livro de ponto contrato manual. Nos últimos 20 anos foram montadas pelo menos cinco comissões de reforma da CLT, mas nenhuma proposta foi concretizada. Seria o caso de ter uma comissão efetiva e permanente para pensar em uma reforma na CLT, como se fez esse grande esforço na Reforma do Judiciário.
ConJur — A reforma ideal da CLT significa suprimir direito do trabalhador?
Sólon Cunha — Não. Significa atualizar as leis. O que eu estou propondo é uma análise da CLT sob o ponto de vista da realidade. Por exemplo, tele marketing hoje é um dos ramos com maior nível de emprego do Brasil e a CLT não fala absolutamente nada do trabalho de tele marketing. O juiz tem que fazer analogia a telefonista, mecanógrafo, datilógrafo. A mesma coisa do trabalho a distância, o tele-trabalho, que também não temos nenhuma regulamentação.
ConJur — Ou seja, mais do que flexibilizar, é modernizar?
Sólon Cunha — Isso. Mas ultimamente o advogado de reclamante avalia muito mais a norma coletiva do que a CLT quando faz uma inicial trabalhista, porque elas dão mais direitos do que a CLT. Em regra a norma coletiva dá pisos salariais maiores, jornadas extra com adicional maior, adicional de permanência. Enfim, as garantias que a convenção estabelece são superiores às da CLT.
ConJur — As empresas devem se aproximar mais da negociação sindical?
Sólon Cunha — Exatamente. Esse é o caminho para resolver os impasses entre empresas e trabalhadores. A negociação sindical é muito forte no Brasil. A época do sindicato ruim, pelego, já acabou. O sindicato no Brasil é perfeito, impecável. E o sindicalismo de trabalhador hoje é mais preparado do que o sindicalismo patronal. Os empresários não gostam de participar de sindicatos. É como reunião de condomínio, as pessoas pagam a conta, mas não vão à reunião. Isso é um erro das empresas porque hoje a negociação coletiva é gestão empresarial. Se a empresa concorrente fizer um acordo de compensação de horas e a outra empresa não fizer, esta fica em desvantagem com os trabalhadores. Mas ainda temos empresários no Brasil que não conversam com sindicalistas, como se a entidade sindical fosse inimiga. Isso é um erro de gestão empresarial.
ConJur —Como está o andamento da Reforma Sindical e da Reforma Trabalhista?
Sólon Cunha — Elas estão paradas. A lei de organização sindical que está sendo proposta tem quase 100 artigos, mas foi muito pouco debatida. Tanto o empresário quanto os sindicatos dos trabalhadores acham que a lei não vai passar, mas ela está caminhando. A reforma sindical está pronta para ir para o Congresso e está com sérias distorções. Por exemplo, a mudança da contribuição sindical que teoricamente seria extinta em quatro anos pode ser substituída por uma contribuição que, segundo os economistas, ia ficar seis ou sete vezes mais cara do que a contribuição sindical atual. Outro problema está na questão da central sindical que teria prerrogativa de sindicato, mas uma função política e por isso não representaria categoria alguma. O projeto também colocou a central sindical no topo da pirâmide do sistema confederativo e não tem par na área patronal. O poder que está se dando a essa central sindical é muito maior do que o que ela tem hoje e desproporcional do lado das empresas. E a formação de sindicatos vai depender da benção da central sindical. Por isso é necessário que se amplie as discussões com relação a essa Reforma.
ConJur —E a Reforma Trabalhista?
Sólon Cunha — A Reforma Trabalhista foi descaracterizada. O governo federal diz que o Fórum Nacional do Trabalho é um fórum paritário, não partidário, mas a direção do Fórum e a coordenação estão no Ministério do Trabalho, em advogados que já pertenceram ao movimento sindical. Então não há um equilíbrio de forças entre trabalhadores e empregadores. Isso fez com que os representantes patronais se afastassem do Fórum e nesse ponto está o erro do empresário. A única solução que eu vejo nesse campo, e digo como presidente do Sindicado da Sociedade de Advogados, é a negociação coletiva. Eu acho que essa é a saída. É a negociação coletiva com a participação ativa de empresas e trabalhadores.
ConJur — A negociação com os sindicatos é o caminho até para as pequenas e as médias empresas?
Sólon Cunha — Ainda mais para as pequenas e médias empresas, que não participam dos negócios achando que o grande empresário vai resolver os problemas para eles, e não vai.
ConJur — Mas existem direitos que não podem ser negociados. Qual o limite?
Sólon Cunha — A nossa legislação até admite que o negociado se sobreponha ao legislado em várias oportunidades. A nossa Constituição diz, por exemplo, que não pode haver redução salarial. Mas podemos ter redução ou aumento de horas de trabalho pela negociação coletiva. Ou seja, tudo está passível de flexibilização. Mas houve um exagero no teor dos acordos contrariando normas de segurança ou normas que podem prejudicar a saúde do trabalhador, como suprimir horário de almoço, suprimir os repousos. Por isso, o TST invalida acordos de negociações que violem direitos constitucionais dos trabalhadores. Ao mesmo tempo várias leis que foram promulgadas depois prestigiam o negociado sobre o legislado. Isso não é tirar direitos do trabalhador, é negociar.
ConJur — Como o senhor vê a situação das cooperativas no Brasil?
Sólon Cunha — A Justiça trabalhista brasileira precisa aprender a punir o excesso e a pessoa de má-fé, e não a regra. É palavrão falar de cooperativas no Brasil porque algumas pessoas exageraram. Ao invés de o Ministério Público e de o Ministério do Trabalho fecharem as cooperativas fraudulentas, eles abrem inquérito civil para todas as cooperativas. Qualquer advogado que tem um mínimo de responsabilidade vai recomendar ao cliente que se afaste, se possível, das cooperativas. Mas na área de saúde, por exemplo, a cooperativa é intrínseca ao setor. Cooperativas de auxiliares de enfermagem, de atendimento de pronto-socorro existem há muito tempo no Brasil. Com a onda de fechar às cooperativas não sei o que será dessa área.
ConJur — Flexibilizar as leis trabalhistas aumentaria o número de empregos?
Sólon Cunha — O número de empregos só vai aumentar quando diminuir o custo do empregado no Brasil. Eu estudei isso a fundo porque eu tive uma auditoria na qual um cliente estrangeiro me pediu para levantar quanto custa um empregado no Brasil para cada R$ 1 gasto. Para o analista simplório deve ser contado como custo: os impostos, o salário, o 13º, a previdência social e fundo de garantia. E o resultado é cerca de 1,36. Mas outros consideram que as férias também devem entrar como custo, porque o empregado não presta serviço. Nessa lógica também deve se incluir o descanso semanal remunerado e o feriado. Então, esse número aumenta para quase 1,60. Ainda se levarmos em consideração a contribuição social para terceiros, como Sesi, Sesc, Senai, essa conta vai barrar no déficit da Previdência, que é o maior déficit do Brasil. E então não tem jeito, é um círculo vicioso, e ninguém sabe de quanto é esse déficit.
ConJur — Se reduzisse o custo de um empregado não haveria mais contratação? Contratando mais não se recolheria mais para a Previdência?
Sólon Cunha — Essa é uma tese, a tese do imposto único. Há essa tese, há a tese da diminuição da informalidade. Mas o maior déficit da Previdência vem do setor público.
ConJur — Temos algo a aprender com os países da América Latina que reformaram suas leis trabalhistas?
Sólon Cunha — Com o Chile temos muito que aprender principalmente na parte previdenciária, que é muito forte no país. A nossa legislação trabalhista também poderia pensar melhor sobre o primeiro emprego. Os recém formados não arrumam emprego no Brasil. Mulheres negras têm ainda mais dificuldade. Pessoas obesas também não arrumam emprego facilmente.
ConJur — Como o senhor vê os pontos abordados na Reforma Processual que abrangem a área trabalhista?
Sólon Cunha — Primeiro o TST, que é um órgão com ministros sérios e unidos, não tem condições de sobrevivência se continuar com muitos processos para poucos ministros, mesmo com a chegada de mais dez. Por isso, em um instinto de preservação do órgão, eles estão reduzindo as possibilidades de acesso ao TST. Mas ainda não temos como avaliar se essa restrição de recursos será boa ou ruim porque será uma situação nova. Desde que eu comecei a advogar, há 20 anos, temos todos os recursos do jeito que estão, com alguma mudança ou outra. Outro problema é que o TST faz uma dupla revisão da decisão, já que o processo já foi revisado no Tribunal Regional. Por isso, o objetivo do TST é uniformizar a jurisprudência. Eu tenho muito receio no caso de depósito para rescisória em relação às pequenas e médias empresas, já que pagar para ter acesso à Justiça não é uma coisa que me parece razoável. Isso provavelmente vai também atingir os reclamantes.
ConJur — Também segundo os dados do CNJ, 45% das sentenças são reformadas em segunda instância e 40% das decisões dos TRTs reformadas pelo TST. O que é uma alta taxa de reforma. Não podemos causar injustiças se restringirmos os recursos?
Sólon Cunha — Do jeito que a reforma está sendo conduzida, devem ser restringidos os Recursos de Revista no TST. Mas as pessoas podem entrar com Recurso Extraordinário no Supremo que também serve para isso.
ConJur — A alta taxa de reforma significa que o juiz não está decidindo corretamente?
Sólon Cunha — Não. As decisões dos juízes de primeira instância estão a cada dia melhores. Os concursos públicos estão admitindo bons juízes nos últimos anos. Eles têm conhecimento da teoria, mas algumas vezes não têm maturidade e experiência de vida para decidir. Esses juízes novos normalmente vão para varas mais distantes e ficam muito próximos do litígio. Uma coisa é ter um litígio em São Paulo, que a fábrica é na periferia e o juiz nem sabe onde é. Outra coisa é a influência política das cidades do interior, onde todos se conhecem e a fábrica fica próxima do Fórum. A solução seria ter um estágio, um treinamento para esses novos juízes. Os Tribunais de São Paulo e de Campinas que eu conheço, estão fazendo muitos cursos para esses juízes que ingressam na magistratura do Trabalho. Isso tem dado excelente resultados. Todo juiz mais antigo do Tribunal deveria ter a obrigação de trabalhar conjuntamente com os juízes recém-empossados. O juiz hoje está muito solitário.
ConJur — Como está o processo de informatização da Justiça do Trabalho?
Sólon Cunha — A informatização da Justiça do Trabalho é excelente. Foi um projeto em que foi investido muito dinheiro e que deu resultado. Podemos acompanhar todos os processos pela internet. Se o processo tramita de uma gaveta para outra, os advogados são avisados por e-mail. Esse processo de informatização já se estendeu por quase toda a Justiça do Trabalho. Os serviços informatizados estão se ampliando cada vez mais, em Porto Alegre, por exemplo tem o processo de protocolo drive-thru. O advogado entra na garagem do Fórum pega o protocolo e vai embora. Também tem a cópia do acórdão no drive-thru em que o advogado digita o número do seu processo, o número OAB, durante o prazo do recurso, e o acórdão já sai impresso.
ConJur — O que te levou a mudar de um escritório pequeno para um escritório grande?
Sólon Cunha — O escritório é um desafio interessante do ponto de vista nacional, Machado, Meyer tem vários escritórios pelo Brasil e uma proposta de trabalho muito interessante. Eu tenho principalmente o desafio de fazer um trabalho em grupo, com maior estabilidade e com pessoas com quem conversar, até porque a advocacia solitária é complicadíssima. Além da área corporativa do escritório, que possibilita o aprofundamento do estudo, já que lá no Machado, Meyer podemos ter colegas advogados de outros setores que podem nos ajudar nos casos. Estou no escritório há dois meses, feliz e tranqüilo, com uma equipe de 29 pessoas na minha área.
ConJur — O senhor sempre atuou em Direito trabalhista?
Sólon Cunha — Sim. Eu me formei na PUC-SP em 1985. Fui estagiário do Pinheiro Neto Advogados desde 1983. Nunca vou esquecer que quando eu prestei concurso para o exame da Ordem. Eu estava muito nervoso e na época tinha exame oral. Então disseram ao doutor Pinheiro que eu estava nervoso e ele me convidou para almoçar com ele. Nós dois fomos ao Jóquei e foi um momento e tanto. E ele terminou o almoço com uma brincadeira. Eu perguntei para ele como seria se eu não passasse no exame e ele disse: “Pode ficar tranqüilo que eu tenho boas conexões, eu vou arranjar um emprego em outro lugar para você”. Graças a Deus, eu passei. Depois montei meu escritório até dezembro de 2005. Então, eu fui convidado por Antônio Meyer a me tornar sócio do Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. O Antônio Meyer me conduziu pessoalmente por esse processo de mudança o que me deixou muito seguro na decisão que tomei.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


