"Críticas a delações premiadas são garantismo de ocasião"
16 de julho de 2017, 7h17
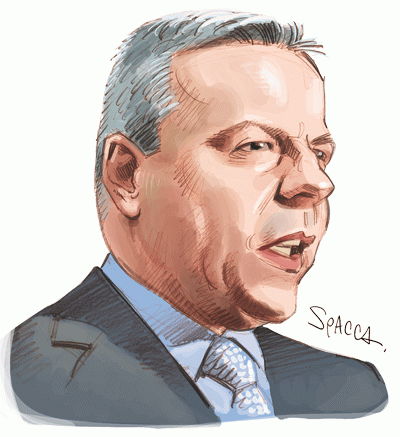 É raro um advogado com clientes envolvidos na "lava jato" defender os métodos empregados na operação das críticas. Por isso, chama a atenção quando o criminalista Antonio Figueiredo Basto, responsável por intermediar diversas delações premiadas no caso, diz que os ataques à atuação do Ministério Público Federal e do juiz Sergio Moro não passam de "garantismo de ocasião".
É raro um advogado com clientes envolvidos na "lava jato" defender os métodos empregados na operação das críticas. Por isso, chama a atenção quando o criminalista Antonio Figueiredo Basto, responsável por intermediar diversas delações premiadas no caso, diz que os ataques à atuação do Ministério Público Federal e do juiz Sergio Moro não passam de "garantismo de ocasião".“Nós nunca tivemos essa gritaria toda contra meios de produção de prova e medidas cautelares quando só as pessoas humildes eram processadas no Brasil. Quando as investigações mudaram de andar, as pessoas começaram a brigar por direitos e garantias individuais que nunca os incomodaram antes. Isso era uma coisa que não os interessava. Mas agora passaram a se interessar: nunca se falou tanto de presunção de inocência como agora. Nós sempre tivemos no Brasil, para o andar de cima, não a presunção de inocência, mas uma presunção de importância, de influência”, aponta o advogado.
Especialista em delações premiadas, Figueiredo Basto já firmou mais de 20 acordos. Na “lava jato”, ele negociou compromissos como o do doleiro Alberto Youssef — a seu ver, o mais importante da operação — e o do dono da UTC Engenharia, Ricardo Pessoa. Atualmente, está tentando emplacar a colaboração do financista Lúcio Funaro, que supostamente complicaria ainda mais a situação do presidente Michel Temer (PMDB).
Pioneiro da colaboração premiada, Figueiredo Basto virou alvo de críticas de seus pares. Isso porque muitos criminalistas consideravam ou consideram que o mecanismo suprime o direito de defesa do acusado. Mas ele dá de ombros para os ataques.
“Meus colegas viraram a cara, torceram o nariz, mentiram, me difamaram, mas a caravana passou e a cachorrada ficou latindo”, ataca, citando que boa parte dos antigos críticos agora faz delações.
Segundo ele, até mesmo o parecer do jurista português José Joaquim Gomes Canotilho, segundo o qual os acordos de delação são ilegais por prometer redução da pena em patamar não previsto na Lei das Organizações Criminosas, é "perfumaria".
O advogado, no entanto, não é só elogios às decisões da Justiça. As gravações clandestinas de delatores (sem que o outro interlocutor saiba que está sendo gravado) é, para ele, "um meio enganoso de obtenção de prova, porque viola o princípio da boa-fé da outra pessoa fazendo ela falar coisas que não falaria normalmente para se autoincriminar". Ou seja, um flagrante preparado.
Outra de suas críticas ao sistema se dirige aos burocratas, servidores, que operam no anonimato e, muitas vezes, criam "uma espécie de ditadura camuflada" para quem depende de sua boa vontade.
Em entrevista à ConJur na filial do Rio de Janeiro de seu escritório — a sede fica em Curitiba —, Antonio Augusto Figueiredo Basto também opinou que Sergio Moro não é um juiz punitivista e afirmou que os procuradores da autoproclamada força-tarefa da “lava jato” na capital paranaense não se importam com o impacto econômico das punições aplicadas a empresas.
Leia a entrevista:
ConJur — A delação premiada, como regulamentada pela Lei 12.850/2013, é coerente com o sistema penal e processual penal do Brasil?
Antonio Figueiredo Basto — Não há incoerência alguma. Nós temos um Código de Processo Penal muito antigo, que não aborda os modernos mecanismos de obtenção de provas. Mas o Brasil é signatário de vários tratados pelos quais se obriga a reprimir tráfico de pessoas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, e nessas normas há previsão desses novos mecanismos de prova, como a colaboração premiada. A colaboração faz parte do nosso Direito faz tempo. O arrependimento eficaz, a desistência voluntária e a confissão, em maior ou menor grau, sempre previram um prêmio para aquele que colaborasse. Então não vejo nenhum problema com a colaboração premiada. Até porque o artigo 197 do Código de Processo Penal diz que a palavra do réu sempre será confrontada com todas as provas. Isso também ocorre com a colaboração. Não há supressão de nenhuma forma do processo.
Existe muita filosofia em torno do assunto, mas muito poucas questões de abordagem técnica. Primeiro porque ela é um meio para de obtenção de provas, o que obriga o Ministério Público e a polícia a necessariamente investigarem e trazerem outras provas. Para que essa prova tenha validade, ela tem que passar pelo crivo do contraditório. Tem que ser jurisdicionalizada. Não consta que nenhum acusado na “lava jato” ou em outros casos não tenha tido o direito de enfrentar o colaborador.
Colaborar com a Justiça não é uma deduragem de delegacia, um sujeito apontando o dedo para uma pessoa. Pelo contrário: é um processo formal, um acordo. São feitas gravações. E o acordo passa pelo crivo do Poder Judiciário. Aqueles que forem acusados têm chance de acompanhar a investigação, impugnar as provas. A colaboração está perfeitamente harmonizada com nosso Código de Processo Penal. Não sou só eu quem está dizendo isso, é também o Supremo Tribunal Federal, que já disse que ela é constitucional. Os acusados têm todas as garantias constitucionais. Não estamos em um Estado de exceção. Isso é um discurso vazio. No estágio em que chegamos, não podemos abdicar de meios eficazes propiciados ao Estado de investigar organizações criminosas. Isso está provado. Olha o ponto em que nós chegamos no Brasil. Qualquer pessoa em sã consciência, com o mínimo de boa intenção, vê que a deterioração do Estado e do aparelho estatal por uma organização criminosa é brutal.
A crise que nós estamos vivendo não só econômica, mas de valores. Nós vivemos uma miséria moral. O Estado tem o direito de investigar crimes e tem que ter meios para isso. É um garantismo neurótico dar ao criminoso todo tipo de liberdade para praticar delitos e o Estado ficar sempre mil anos atrás porque não pode investigar. Claro, o Estado não pode coagir, torturar, não pode produzir prova ilícita. Não há dúvida disso, são práticas repugnantes. Mas dentro dos mecanismos de produção de prova, o Estado tem que evoluir. É importante lembrar que nós não temos direitos absolutos, a não ser a vida e a dignidade. Todos os demais são relativos. E são relativizados diante do princípio da razoabilidade. É razoável que o Estado use de mecanismos de prova para debelar um esquema de corrupção desse tamanho? É absolutamente razoável e lícito.
ConJur — O chefe de uma organização criminosa pode firmar acordo para delatar seus subordinados? Ou só é possível delatar quem está acima na hierarquia do grupo?
Antonio Figueiredo Basto — Absolutamente não. Isso que vem acontecendo é uma inversão absurda. A colaboração é exatamente o inverso: seu objetivo é chegar ao cabeça da organização. Tanto que a lei tem um aumento de pena para o chefe, e ele não pode deixar de ser denunciado. Estão invertendo o espírito da lei. O grande problema é fazer acordos com cabeças do esquema do núcleo econômico. Quem corrompeu mais, quem ganhou mais dinheiro com o esquema, tem mais informações e mais dinheiro para pagar a multa. O sistema acaba voltando a aquilo que sempre foi: privilegiando os mais fortes em detrimento dos mais fracos. Isso já aconteceu algumas vezes na “lava jato” e tem que ser consertado.
ConJur — Em que casos ocorreu essa inversão?
Antonio Figueiredo Basto — Nos da Odebrecht e da JBS. Foram feitos acordos com os cabeças do esquema. E as pessoas que estão embaixo e não têm como colaborar ficam presas por um tempo muito maior do que aqueles que foram os que mais lucraram, que obtiveram os melhores esquemas com corrupção e outros crimes. Houve uma inversão do sistema: quem corrompe mais, ganha mais e acaba obtendo o melhor prêmio. Esse não é o espírito da lei. Se o Estado já chegou ao cabeça, ele não precisa mais de colaboração.
ConJur — Mas como medir esse nível hierárquico? Quando os executivos de uma construtora delatam políticos, não estamos tratando de um nível diferente?
Antonio Figueiredo Basto — Nós estamos diante de um aparato organizado no poder, como nós tínhamos na Alemanha na época do nazismo, onde a garantia do crime era a presença do Hitler no poder. Ou seja, o funcionário apertava o botão da câmara de gás no campo de concentração, porque sabia que lá em cima havia alguém que o garantisse. Na “lava jato” funcionou da mesma maneira. Muitas pessoas que estavam embaixo praticaram crime porque sabiam que o aparato político de poder garantia essa prática. Era um projeto que garantia poder para uns e riqueza para outros em detrimento de toda a sociedade. E isso com enormes prejuízos à democracia. É evidente que, no caso da “lava jato”, os políticos comandaram o esquema. Eu não tenho dúvida disso. E a “lava jato” não atingirá seus objetivos se não punir os políticos e forçar mudanças no sistema.
Se as subdivisões são válidas — o grupo político, o grupo econômico, o grupo administrativo —, é preciso ver quem são os líderes delas. Não há dúvidas que, pela magnitude da colaboração e pelo o que foi dito, a Odebrecht criou um sistema, abafou e conduziu outras empreiteiras menores para o jogo. Criou-se a regra do jogo: ou joga-se assim ou não participa. O que não significa que as outras empreiteiras não participaram conscientemente e que não haja responsabilidade penal. Mas uma responsabilidade penal atenuada, em razão do que o líder praticou. Não faz sentido isso a delação partir do centro para as beiradas. A JBS, que é a maior produtora de proteína do mundo, tem um protagonismo enorme nesse mercado. E ela tem liderança. Agora, evidentemente que essa análise de liderança tem que ser feita pelo Ministério Público, dentro dos fatos que são investigados.
ConJur — Nenhum acordo de delação teve tanta exposição e debate público quanto o da JBS. O senhor acha que a delação premiada está na berlinda?
Antonio Figueiredo Basto — De jeito nenhum. Pelo contrário, as duas decisões do Supremo fortaleceram demais o processo de colaboração premiada. É um sistema que veio para ficar, não tem retorno. Seria absurdo se abrir mão de um meio de obtenção de prova como esse para o combate do crime organizado. Lembro que não estamos só falando de corruptos que estão dentro do aparelho do Estado, mas de outros tipos de organização criminosa que pode ser desvendadas e combatidas. Fora que é um instrumento que existe em diversos tratados e leis internacionais. A colaboração está sendo questionada porque atingiu o principal mandatário da República, que é o presidente, e porque trouxe um benefício grandioso aos colaboradores. Mas isso tudo tem que ser visto de um ponto de vista futuro. O Supremo já deixou claro que esse eventual benefício só pode ser analisado ao final da colaboração.
ConJur — O acordo de delação premiada é um contrato. Dessa maneira, o acordo de delação premiada não seria um negócio jurídico feito sob coação ao acusado? Portanto, anulável?
Antonio Figueiredo Basto — Eu gostaria que mostrassem onde está a coação. É um desafio que eu faço. O fato de o colaborador se submeter ao Estado não mostra nenhuma coação. Não há nenhuma narrativa lógica que demonstra coação. Muito se fala da prisão como mecanismo para forçar a colaboração. Mas a maioria dos acordos foram firmados com pessoas que estão soltas e querem evitar o processo. E mais: o cerceamento da liberdade não significa a perda do discernimento psíquico. É absolutamente natural que um réu queria evitar os danos na prisão.
Temos que parar com esse raciocínio quixotesco de que todos têm que enfrentar o processo, brigar dentro do processo, às vezes durante anos, para depois poder sofrer uma pena e só ficar livre dela 10, 15 anos depois. Esse sistema pode beneficiar muita gente, mas não o acusado. A não ser quando ele consegue a prescrição, o que está cada vez mais difícil. Nenhum dos mais de 150 delatores da “lava jato” disse que foi coagido a colaborar com a Justiça. O acusado quer resolver o problema. O advogado não pode mais expandir o problema, via processo. Não pode mais ficar anos debatendo teses jurídicas para publicar livros e fazer a vida enquanto o réu fica preso. Ele deve concentrar o problema e resolvê-lo. Concentrar o problema significa dialogar com o Ministério Público, com o Judiciário, para tentar diminuir os danos. O advogado tem que se adaptar a isso. Ninguém oferece a colaboração como primeira estratégia. Bom, eu nunca fiz isso. Em todas as delações que fiz, eu e meus clientes analisamos profundamente as provas. E tive a serenidade para dizer que o contexto era ruim e a chance de condenação era enorme.
O que adianta você continuar batendo no peito dizendo que não faz colaboração? Respeito quem não faz, embora entenda que não há objeção de consciência, é objeção de conveniência. Quem perde depois que o cliente é condenado a anos de prisão? Não é o advogado, é o acusado, que deixou de usar um mecanismo de defesa. A colaboração é um mecanismo de defesa, o que tira toda essa ideia de coação. Que coação é essa que o sujeito sofre para se beneficiar? Ele está se beneficiando do que o sistema lhe dá. Então, não tem coação nenhuma na colaboração. E a coação tem que ser provada objetivamente. As pessoas reclamam que os colaboradores não falam a verdade, mas o inverso também vale, porque só se fala de coação, mas não vi ninguém provar uma coação até agora. O grande problema é que essas colaborações trouxeram verdades desagradáveis. Elas fizeram um striptease moral do poder. Desmoralizaram e desnudaram pessoas que estavam há anos em uma corrupção vitalícia. E ninguém gosta de perder dinheiro e poder.
ConJur — Em artigo em que analisa os acordos do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef, o jurista português José Gomes Canotilho afirma que a delação premiada nos moldes da Lei 12.850/2013 só poderia atenuar pena ou conceder o perdão judicial dos crimes previstos naquela lei, já que não há previsão legal a respaldar os benefícios a outros delitos. Caso contrário, o MP estaria violando os princípios da separação dos poderes, da legalidade criminal, da reversa legal e da igualdade na aplicação da lei. O que o senhor pensa dessa análise?
Antonio Figueiredo Basto — Divirjo totalmente. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Entre o parecer de alguém sugestionado, como tiveram vários na “lava jato”, e a opinião do Supremo, fico com a opinião do Supremo. Tem parecer para tudo no mundo jurídico. Se você precisar de um parecer dizendo que dois mais dois são seis, você vai encontrar um jurista que vai elaborar um argumento nesse sentido. Só depende de quanto você está disposto a pagar para que ele escreva isso. Quanto a esse argumento específico, o primeiro ponto é a conexão dos fatos com a organização criminosa. Se os fatos são conexos a ela, não tem problema nenhum em aplicar os benefícios. Segundo, o fato da abrangência do acordo, o prêmio que a pessoa recebe delatar. O sujeito não iria fazer um acordo dessa envergadura para ter a diminuição de pena em apenas um crime. Isso não faz nenhum sentido na interpretação jurídica. Seria até absurdo que se fizesse acordo só para os crimes da Lei das Organizações Criminosas. A lei pressupõe uma série de práticas delituosas dentro da organização criminosa.
A definição de organização criminosa é “quando pessoas se unem para praticar um ou mais crimes”. Esses crimes estão conexos ao tipo. Assim, evidentemente que têm que ser abrangidos pelo acordo. Isso é uma obviedade. Não precisa ser professor, mestre e doutor para entender isso. Só ler o artigo, o tipo penal. Fora que existem outras leis que prevêem benefícios para o colaborador. Com todo o respeito, esse parecer é perfumaria.
ConJur — Canotilho também afirma que acordo de delação pré-sentença não pode negociar regime de cumprimento da pena, pois a Lei 12.850/2013 só prevê esse benefício para delações pós-sentença. O que o senhor pensa disso?
Antonio Figueiredo Basto — Discordo, naturalmente. A lei prevê claramente que pode haver diminuição de pena, modificação de regime, e não é pós-sentença, é antes da sentença. É preciso entender uma coisa em definitivo: o acordo de colaboração é uma proposta de benefícios, que o juiz vai analisar. Se homologar, ele se vincula a entregar os benefícios num grau mínimo ou máximo. Eu desconheço a interpretação dele [Canotilho], mas essa interpretação me parece absurda. Ela é delirante tendo em vista o que está na lei. O acordo pós-sentença, que também está na lei, estabelece benefícios menores, como redução de metade da pena. Mas antes da sentença, é possível negociar uma série de coisas, tanto é que se pode negociar imunidade. Está na lei. Como ele está falando isso, meu Deus do céu? Está na lei: se não for o líder da organização, o MP pode deixar de denunciar, pode suspender a denúncia, pode dar um regime diferente daquele. Está na lei isso dai, não é para acordos pós-sentença.
ConJur — O que o senhor pensa das críticas de colegas por defender as delações premiadas?
Antonio Figueiredo Basto — Isso começou em 2003, quando firmei o acordo de delação premiada do Youssef no caso Banestado. As críticas foram veementes. Meus colegas viraram a cara, torceram o nariz, mentiram, me difamaram. Mas a caravana passou e a cachorrada ficou latindo. E todos viram que não havia nada de ilegal na prática – tanto que vários escritórios estão fazendo. Na época tinha alguns que mentiam que não faziam colaboração e contratavam o meu escritório para fazer. Acompanhavam, mas não queriam assinar. Coitados. No meio jurídico há muito disso. Mas hoje em dia os escritórios estão buscando inspiração nas bancas norte-americanas. Os advogados americanos são multidisciplinares: sabem ir para o júri e sabem negociar. Advogado tem que saber brigar no processo, mas também analisar se vale a pena entrar no processo. E não deve nunca expor o cliente dele a uma briga desnecessária por vaidade, por honorários ou por uma questão de tempo.
ConJur — Muitos criticaram o acordo de delação premiada do doleiro Alberto Youssef na “lava jato”, uma vez que ele descumpriu o acordo firmado no caso Banestado e voltou a praticar crimes. Como o senhor rebate essas críticas?
Antonio Figueiredo Basto — Nós ganhamos aquele Habeas Corpus no Supremo por 10 a zero. A lei não impede um réu que não seja primário de firmar acordo de delação nem alguém que já colaborou de firmar novo compromisso. O que é importante para o acordo não é a pessoa do acusado — ela continua sendo vista com desconfiança. O delator não é confiável, todo mundo sabe disso. A própria lei diz isso. Então a personalidade do acusado não conta na hora de se firmar o acordo. Isso vai ser analisado na hora que o juiz estabelece a pena e aplica o benefício. É o que diz o artigo 59 do Código do Processo Penal. É nesse momento da colaboração que se analisa se aquele acusado dispõe de meios de obtenção de provas que podem ser úteis ao Ministério Público, e se ele quer entregá-los para obter privilégio, para sua defesa. É uma troca — o sujeito se defende acusando.
As críticas ao Alberto Youssef nunca foram por causa disso — isso caiu no Supremo com muita facilidade. A personalidade dele não tem nada a ver com a credibilidade da colaboração. E o mais importante, e que as pessoas esqueceram, é que o Alberto Youssef sempre cumpriu a palavra com o Ministério Público. O acordo dele não foi rompido por não ter produzido uma boa prova ou por ter mentido. Ele nunca mentiu. O acordo foi rompido teoricamente porque ele teria praticado novos crimes. Ou seja, não por uma conduta interna do acordo, mas externa. As críticas, naquele momento, eram porque ele iniciava a desestruturação da maior estrutura organizacional criminosa que esse país já conheceu. Ele começou a desmantelar isso. Daí vieram as críticas: pareceres contratados, comprados. Essas criticas foram todas sopesadas e analisadas no Supremo. A questão da elegibilidade do acusado não é considerada no momento de celebrar o acordo, é na sentença. Se tudo que ele disser naquele primeiro momento não se confirmar em juízo, se ele mentir, não vai ter o benefício, ou vai ter um benefício menor.
Hoje está provado jurídica e factualmente que o acordo do Alberto Youssef foi ótimo negócio jurídico, tanto para o Ministério Público como para a defesa. E ele foi fundamental: a meu ver, é o acordo de colaboração mais importante da “lava jato” em termos de provas. A operação não teria chegado aonde chegou sem o Alberto Youssef. Todos os acusados tiveram chance de enfrentá-lo, frente a frente, olho no olho. Perguntaram se estava mentindo, se não estava. Analisaram todas as provas. E ninguém foi condenado sem prova. Ninguém está condenado pela palavra do Youssef. As condenações foram baseadas em provas materiais. Não há, na “lava jato”, um dizendo que é inocente que realmente o seja. Quer dizer, de inocente os presídios estão cheios, né? 100% da massa carcerária brasileira é inocente. Se isso for verdade, os advogados do Brasil são os piores do mundo. Porque são incompetentes, deixam que todos os inocentes estejam na cadeia. Se essa versão vale, então nós somos um bando de imbecis, porque coitados desses caras, são todos condenados e inocentes atrás das grades. Nós trabalhamos muito mal. É evidente que não é isso — há uma responsabilidade penal, e essa responsabilidade penal é atribuída em processo legal com a supressão de forma. Se há na lava jato excessos, e eles existem, estão cada vez mais sendo trazidos à luz, é outro problema. Na formação da colaboração não há nenhum excesso.
ConJur — Há na “lava jato”, realmente, uma estratégia de prender preventivamente para forçar o suspeito a firmar acordo de delação premiada? Se sim, essa prática é legítima?
Antonio Figueiredo Basto — Não há essa estratégia. As prisões preventivas na “lava jato” são excessivas, tanto em número quanto na duração, mas não acredito que um magistrado, especialmente o Sergio Moro, que eu conheço há muito tempo, tivesse essa ideia de decretá-las para forçar colaborações. Não há nenhuma correlação lógica entre a prisão preventiva e a vontade de colaborar — até porque a maioria dos colaboradores está solta. Eu acho que o uso da prisão preventiva é uma estratégia processual justificável em muitos casos. Afinal, mesmo com a “lava jato” e todas essas prisões, muita gente continuou a praticar crimes, e as tentativas de obstruir as investigações são notórias.
O ponto é que usar prisão preventiva contra pessoas frágeis é fácil. Agora, quando o Estado tem que ser forte, tem que ser forte contra os fortes. Nós nunca tivemos essa gritaria toda contra meios de produção de prova e medidas cautelares quando só as pessoas humildes eram processadas no Brasil. Quando as investigações mudaram de andar as pessoas começaram a brigar por direitos e garantias individuais que nunca os incomodaram antes. Isso era uma coisa que não os interessava. Mas agora passaram a se interessar: nunca se falou tanto de presunção de inocência como agora. Nós sempre tivemos no Brasil, para o andar de cima, não a presunção de inocência, mas uma presunção de importância, de influência.
Além disso, não há uma correlação lógica de que a prisão promova uma afetação psíquica das pessoas. Claro, o sujeito quer sair da cadeia. Mas daí a provar que isso é coação tem uma distância muito grande. E todo mundo adora falar da motivação do colaborador. Mas não interessa se o sujeito resolve delatar para sair da cadeia, por vingança, por ciúmes etc. — a lei não fala disso. A questão é se aquilo que o sujeito diz pode ser provado, porque só a sua palavra só não tem valor nenhum. É nisso que as pessoas continuam errando. O sujeito pode ter a motivação que for, se ele não provar o que eu fala, ninguém pode ser condenado.
ConJur — Qual o impacto da decisão do STF de permitir a execução da pena após condenação em segunda instância, com relação as delações?Antonio Figueiredo Basto — Muda as estratégias. As pessoas passam a tentar evitar as suas condenações e ir para a cadeia. Antes disso, a estratégia era recorrer, recorrer e recorrer para reverter as condenações. Evidentemente, muitas sentenças eram revertidas. Mas muitas vezes ficava a sequela da pena ser cumprida após anos de prisão, quando a pessoa já não é mais a mesma. Com a hipótese da prisão após condenação em segundo grau, as pessoas querem começar a resolver as suas vidas o quanto antes. Por isso que eu digo que a delação é um mecanismo de defesa, pois permite que as pessoas se antecipem e já resolvam seus problemas.
ConJur — Mas essa decisão não violou o princípio da presunção de inocência?
Antonio Figueiredo Basto — Violou totalmente. A Constituição é clara nesse aspecto e não comporta nenhuma margem de dúvida. Independentemente de o sistema ser ruim ou bom, essa é a sua lógica, e para alterá-la é preciso mudar a Constituição. No mundo inteiro isso funciona de forma diferente à do Brasil. Não tem como sustentar que uma pessoa recorra em liberdade até a última instância sob a alegação de presunção de inocência, especialmente visto que a partir do segundo grau que questões fáticas não são mais debatida, apenas questões processuais. Mas nosso sistema garante isso, então é preciso respeitar o princípio constitucional.
ConJur — Tivemos alguns episódios na “lava jato”, primeiro com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e políticos do PMDB, depois com o sócio da JBS Joesley Batista, Michel Temer e Aécio Neves, nos quais um interessado em fazer acordo de delação premiada grava conversa sobre possíveis crimes. Essa é uma medida legítima?
Antonio Figueiredo Basto — Esse é um meio enganoso de obtenção de prova, porque viola o princípio da boa-fé da outra pessoa fazendo ela falar coisas que não falaria normalmente para se autoincriminar. Ninguém pode fazer isso. É muito diferente de usar gravação para se defender — nesses casos está se usando a gravação para incriminar a pessoa. É algo absolutamente inválido, que não deveria ser permitido. Essas gravações não têm valor jurídico nenhum. Toda prova obtida mediante uma ação de ludibriar não pode ser considerada válida. O Estado não pode compactuar com isso.
ConJur — Como a burocracia da polícia, do Ministério Público e do Judiciário impactam as decisões desses órgãos?
Antonio Figueiredo Basto — Juiz, procurador, advogado todos têm manuais de procedimento, prazos e regras conhecidas. Existe uma autofiscalização. O burocrata por trás dos balcões e do anonimato, não. Ele faz suas próprias regras. O cidadão depende da boa vontade desse funcionário. E, não raro, eles são mais realistas que o rei. Vão além ou aquém do que determina o delegado, o procurador ou o juiz. É uma espécie de ditadura camuflada. Um sindicato de interesses que escapa ao controle do cidadão. Não existe corregedoria para eles. O cidadão não deveria ficar à mercê dessa gente.
ConJur — A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União firmaram com a UTC Engenharia o primeiro acordo de leniência negociado pelo Executivo federal. O que o senhor pensa de o Ministério Público estar fora acordo?
Antonio Figueiredo Basto — O Ministério Público — bem como outros órgãos — deveria também aderir a esse acordo. É preciso criar uma lógica jurídica única para todo o sistema com relação aos acordos de leniência. Uma empresa não pode firmar um acordo de leniência com um órgão e ficar à mercê da maior ou menor boa vontade de outro.
ConJur — Nessa lógica da leniência, como o senhor tem visto o papel do Tribunal de Contas da União, da AGU, do Ministério da Transparência, do Ministério Público e do próprio Sergio Moro com relação à recuperação das empresas? Quem está querendo punir mais as empresas e quem está querendo mais que elas se recuperem e mantenham os empregos?
Antonio Figueiredo Basto — O Sergio Moro, desde o início da “lava jato”, sempre demonstrou uma enorme preocupação em preservar as empresas. E todas as decisões dele são no sentido de buscar que as empresas se recuperem — tanto que ele incentiva a celebração de acordos de leniência. No Ministério da Transparência, na AGU e no TCU é a mesma coisa — eles buscam preservar a função social da empresa, desde que ela cumpra alguns requisitos, como adotar um programa de compliance. No MP a questão é um pouco mais delicada. No Rio de Janeiro e em Brasília, o MPF tem uma forte preocupação com a função social da empresa e a preservação de empregos. Por outro lado, o MPF em Curitiba tem feito imposições duríssimas às empresas. Alguns integrantes da força-tarefa de lá não demonstram a menor preocupação com a função social da empresa. Eu já ouvi várias vezes eles falando "para nós, a empresa pode quebrar que não tem problema." Eu discordo dessa postura porque ela contraria a lógica do sistema, que é punir aquele que administrava a empresa, mas manter o negócio funcionando, sob pena de se aumentar o desemprego e gerar um risco sistêmico para a economia.
ConJur — As penas que o juiz Sergio Moro aplica são mais altas do que se vê em outras esferas da Justiça, tanto na primeira instância quanto nas superiores?
Antonio Figueiredo Basto — Não. Eu não vejo o Sergio Moro como um juiz punitivista. Ocorreram excessos na “lava jato”, como no caso das prisões preventivas e conduções coercitivas Mas o Moro aprendeu com isso e mudou seu entendimento. Tanto que ele não prendeu o Lula. Concordo que houve excessos, mas é importante lembrar que, em um primeiro momento, tudo que foi feito em Curitiba foi avalizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (PR, SC e RS), pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo STF. Há uma mudança de posicionamento, mas é algo coisa muito recente e muito tênue no STF. Não foi o Sergio Moro que mudou a jurisprudência do STF em relação à prisão após condenação em segunda instância. A própria Suprema Corte entrou nessa onda de um maior rigor penal. A postura do juiz Sergio Moro está adequada ao que se espera de uma investigação desse quilate. Não podemos perder de vista que é muito fácil o processo penal e as autoridades serem fortes com quem é fraco e fracas com quem é forte.
A ideia de que o processo penal está sendo subordinado a interesses punitivos não é correta. As fórmulas penais estão sendo mantidas, há um processo, com produção de provas e discussões, e as sentenças são podem ser revertidas. As penas aplicadas pelo Sergio Moro estão abaixo da média. É só comparar com o TRF-4, que tem aumentado as penas. Não estou dizendo que ele tenha sempre agido corretamente, eu não tenho procuração pra defendê-lo, mas eu vejo que muitas vezes se critica de uma forma exagerada um juiz que tem feito um belíssimo trabalho no sentido de buscar, dentro dos limites legais, o melhor caminho da aplicação da lei penal. Se isso não agrada a A, B ou C, tem que ser discutido nos tribunais superiores. Então, não vivemos um momento de excesso punitivista. Tem uma frase que eu gosto de repetir: o excesso de garantismo zomba da Justiça, e a ausência de garantismo leva ao arbítrio, que é a pior forma de corrupção. Então é preciso equilibrar o garantismo constitucional com uma Justiça Penal eficaz, o que nós não tínhamos antes. Quando eu digo eficaz, é que as pessoas sejam processadas, não necessariamente condenadas. Eu não estou dizendo que alguém tenha que ser condenado. Mas é fundamental ter a certeza de que quem corrompe e pratica crimes, malversando o poder, tem que ser, pelo menos, processado. Não estamos vivendo em um Estado de exceção. A exceção no Estado, com todo o respeito, é a falta total de ética que nós temos no trato da coisa pública, o que gerou a operação “lava jato”.
ConJur — Na mesma semana, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) teve seu mandato devolvido, o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto foi absolvido e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) e a ex-presidente do Banco Rural Kátia Rabello foram libertados. Isso seria uma nova tendência?
Antonio Figueiredo Basto — O primeiro significado disso tudo é que o sistema está funcionando muito bem. O caso do Vaccari é uma questão de análise de provas: se a condenação foi toda baseada na palavra de delatores, tem que ser anulada. Quanto à Kátia Rabello, não há impunidade nenhuma. Ela progrediu de regime, por mérito próprio, em um processo em que quem foi punido foram os empresários, e os políticos de maior envergadura ficaram todos soltos. Mas as situações do Aécio e do Rocha Loures são mais delicados. Em relação a esses dois casos, há um sinal, sim, de que a “lava jato” está analisando melhor as prisões preventivas. Agora, se não há motivo para manter preso um sujeito que, no exercício de uma função pública relevante, de auxílio ao Palácio do Planalto, estava recebendo dinheiro na rua, como se fosse a coisa mais natural do mundo, agindo como um verdadeiro punguista na calada da noite, muitos daqueles que estão presos aguardando o julgamento em Curitiba também não deveriam estar.
É preciso que se estabilize as regras e que elas não sejam aplicadas conforme o nome que está na capa do processo. Isso aconteceu no Brasil durante muitos anos. É lamentável que, por exemplo, uma senhora que furtou dois desodorantes num supermercado fique presa enquanto um sujeito que recebeu R$ 500 mil para desviar dinheiro público de um contrato e malversar possa ficar solto. E as duas decisões foram proferidas pelo mesmo ministro do Supremo [Edson Fachin].
ConJur — O senhor falou que o fato de o Vaccari Neto ser absolvido por falta de provas mostra que o sistema está funcionando. Mas também não mostra que as pessoas estão sendo condenadas em primeira instância sem provas?
Antonio Figueiredo Basto — Evidentemente que há um livre convencimento do magistrado que não pode ser retirado. A interpretação da prova é uma das maiores garantias que a Constituição dá ao magistrado. Se ele entendeu que aquela prova era boa e suficiente e condenou, nós temos que respeitar a decisão. Mas isso não significa que não se possa recorrer dela. É por isso que eu digo que o sistema funciona bem: se há um rigor em primeiro grau, uma decisão equivocada, há recursos para tentar reverter a sentença.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


