Os livros da vida do criminalista Arnaldo Malheiros Filho
25 de setembro de 2012, 8h00
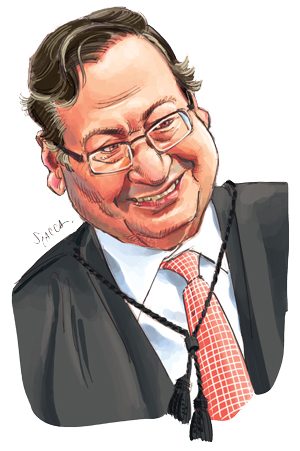 A pergunta é sobre os livros que marcaram a minha vida. Não me agrada a amplitude e a restrição de “livros”. Explico: Tenho uma forte ligação com o livro, até porque fui conferente de revisão, revisor, copidesque e produtor da Editora Revista dos Tribunais; amo o livro. Mas, o importante não é o livro, são as leituras. E, quanto a esta conversa, gostaria de circunscrevê-la à ficção em prosa, sem falar de poesia e dos livros de História, Filosofia e, muito menos, Direito, que me marcaram.
A pergunta é sobre os livros que marcaram a minha vida. Não me agrada a amplitude e a restrição de “livros”. Explico: Tenho uma forte ligação com o livro, até porque fui conferente de revisão, revisor, copidesque e produtor da Editora Revista dos Tribunais; amo o livro. Mas, o importante não é o livro, são as leituras. E, quanto a esta conversa, gostaria de circunscrevê-la à ficção em prosa, sem falar de poesia e dos livros de História, Filosofia e, muito menos, Direito, que me marcaram.Falar sobre textos marcantes é quase fazer uma autobiografia. Minha vida nada tem de tão especial que a mereça, mas tentarei assim mesmo.
Minha relação com o livro começa na biblioteca de meu avô paterno. Aristides Malheiros não chegou à universidade, mas era homem de grande cultura, geral e jurídica. Quanto a esta, inspirou — com uma publicação remissiva do Código de Processo Civil de São Paulo — seu querido amigo e discípulo Theotônio Negrão a organizar códigos anotados.
A biblioteca de meu avô — que não sei dizer se era tão grande quanto parecia a meus olhos de menino — ficava no porão de sua casa na Av. Aclimação, pertinho da Rua Topázio, e foi ali que eu me encantei com os livros, enquanto me perdia entre as estantes de aço Bernardini.
Tornei-me leitor (e depois releitor) a partir de dois presentes de meu avô, que se foi quando eu tinha dez anos: A coleção infantil de Monteiro Lobato, da Brasiliense, encadernada em couro marron e As Mil e Uma Noites, com uma capa em percalina azul-claro e mais de dez volumes. Quanto à primeira, não sei se por artes de Lobato ou da editora, a sequência dos volumes acompanhava o crescimento do jovem leitor: de Reinações de Narizinho, que era possível apreciar aos dez anos, aos Doze Trabalhos de Hércules, já para a adolescência, a série cobria o desenvolvimento da criança.
Da literatura juvenil ficaram-me A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson (de quem vim, mais tarde, a me deliciar com O Médico e o Monstro), Robson Crusoé, de Daniel Defoe, Scaramouche, de Rafael Sabatini. Também dessa época, marcou-me Júlio Verne, especialmente Viagem ao Centro da Terra, Cinco Semanas em Balão e Da Terra à Lua. O cinema fez com que não me interessasse por ler Vinte Mil Léguas Submarinas e A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Entrei na área policial — gênero que aprecio até hoje — através de Sherlock Holmes. Achei a série vermelha da Melhoramentos, completa, na garagem de casa, lugar com certa umidade. Os livros, não sei por que, eram impressos em papel cor-de-rosa que, com a umidade, ganharam um cheiro marcante. Li toda a coleção, mais empolgado com a Inglaterra do Século XIX do que com as “deduções” do genial personagem. Entre os melhores textos estão a novela (não me refiro ao pastiche televisivo, mas ao gênero literário de que falo adiante) Um Estudo em Vermelho e o conto A Liga dos Cabeça-Vermelha, mescla de mistério e humor. A maneira como Conan Doyle jogava com a mediocridade — de Watson ou Lestrade — para contrastar com a inteligência de Sherlock era muito divertida.
Daí fui para Agatha Christie e a Inglaterra do entre-guerras e do pós-guerra, um encanto. Para mim seu livro mais simbólico é Um Corpo na Biblioteca, que recentemente reli no original, bem mais saboroso que nas traduções.
Nessa trilha cheguei a Georges Simenon. Esse novelista belga prestou mais serviço à França do que muitos franceses. É que cada caso do inspetor Maigret é uma viagem a uma região do país, descrita por sua paisagem, sua gente e — bien sûr! — sua comida. Uma Sombra na Janela, ambientado na Place des Vosges, em Paris, é delicioso, assim como A Cabeça de um Homem, A Casa do Juiz e outros tantos.
Ainda na França, divertia-me Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, literatura policial em que o herói era o “ladrão de casaca”. Ficaram na lembrança A Condessa de Cagliostro, As Oito Pancadas do Relógio e A Rolha de Cristal.
Reservo um lugar especial para os contos de Edgard Allan Poe. Gosto mais d’ A Carta Roubada e d’ O Barril de Amontilado que do célebre Os Crimes da Rua Morgue, pois nos primeiros há mais realismo. Hoje continuo leitor de policiais, especialmente com P. D. James e Patricia Cornwell, mas me delicio com a releitura de qualquer um dos anteriores. Já que cheguei a esse ponto, devo citar também Jeffrey Archer: Seu First among Equals é uma aula exemplar sobre o complicadíssimo sistema de governo britânico.
Gostaria, agora, de falar sobre obras classificadas por seus gêneros literários, o que me parece importante num país cujos escritores padecem do fetiche do romance: Só o romancista é tido como escritor, os outros gêneros seriam menores.
O epítome dessa síndrome é Fernando Sabino. Um dos maiores cronistas do Brasil, em vez de se orgulhar disso, queria a todo custo ser romancista. Escreveu magnífica autobiografia romanceada, O Encontro Marcado, que tem muito de crônica e de não-ficção, onde essa frustração é explícita. Li-o três vezes entre os 16 e os 21 anos, cada vez com uma identificação diferente, sempre adorando. Depois Sabino deu o rótulo de “romance” a um livro chamado O Grande Mentecapto, na verdade uma coletânea de contos ruins com o mesmo personagem. A despeito das ótimas crônicas, continuou perseguindo o sonho de ser o que não era e, no fim da vida, publicou uma lastimável história baseada num fracassado affaire entre ministros do governo Collor.
Se há algo em que concordo com Marta Suplicy é a afirmação dela de que, com esse último livro, Fernando Sabino “traiu a geração Encontro Marcado”, à qual — conquanto mais jovem que Marta — também pertenço.
Dessa época da minha vida veio o que eu poderia chamar de “literatura da pós-adolescência”, com algumas obras marcantes. Cléo e Daniel de Roberto Freire (releitura quinze anos depois, decepcionante) e O Apanhador no Campo de Centeio de J. D. Salinger (eu não conseguia acreditar que o autor tinha mais de 30 anos…). O melhor dessa fase foi Zero, deIgnácio de Loyola Brandão; revolucionário na forma e no conteúdo, marcou minha juventude na ditadura. A atração pelo outrora proibido levou-me a O Primo Basílio e O Crime do Padre Amaro, do Eça, assim como a Madame Bovary, de Flaubert, mas a pós-adolescência já era tardia… Quanto ao Eça, gostei muito mais d’Os Maias ou A Relíquia.
Deixando o fetiche do romance de lado, gostaria de, logo, falar sobre a novela, esse gênero mais estruturado do que o conto e menos complexo que o romance. Os ingleses usam novella como um diminutivo de novel que, para eles, significa “romance”.
Entrei na literatura brasileira em prosa por uma novela de José de Alencar, O Garatuja, seguindo-se Iracema, a virgem dos lábios de mel; o primeiro é mais leve, o segundo é poesia em prosa, ainda que seja chato.
Machado de Assis, que foi grande em todos os gêneros literários — poesia, crônica, conto, novela, romance e até tradução — tem uma novela entre suas maiores obras: O Alienista, notável denúncia sobre a aceitação como incontrastável do “poder da ciência”.
De Jorge Amado destaco três novelas geniais: O Capitão de Longo Curso, com seu insuperável Vasco Moscoso de Aragão, Farda, Fardão, Camisola de Dormir, sobre uma eleição para a Academia Brasileira no Estado Novo e Quincas Berro d’Água, não a melhor (que é a primeira ou a segunda), mas a mais famosa.
Na literatura estrangeira a novela que primeiro me vem à lembrança é a extraordinária O Mandarim do Eça (resiste muitíssimo bem à releitura). Mais de uma vez citei seu Teodoro em arrazoado, para explicar dolo eventual. A Metamorfose, de Kafka é também leitura fascinante. Ítalo Calvino, com Visconde partido ao meio ou A especulação imobiliária é uma lembrança constate e, para falar de uma novela moderna, citaria A Humilhação de Philip Roth, Na verdade o Axel de Roth lembra o Gregor Samsa de Kafka, pois acordar sem talento e sem condições de exercer a profissão não é muito diferente de acordar como uma barata.
Importante, também, é falar do conto. O maior contista que jamais li é Borges. Seu Ficções é obra para muitas releituras, cada vez mais ricas; ele é capaz de imaginar um planeta e discorrer sobre a gramática de sua língua, algo inacreditável! Não me esqueço, também, de Guy de Maupassant, cujo Bola de Sebo veio a ser musicado por Chico Buarque como “Geny”.
No conto brasileiro, lembro outra vez Machado, de quem destaco o magnífico Suje-se, gordo, obra-prima que pode ser classificada na “literatura de júri”. Não me esqueço, porém, de Antonio de Alcântara Machado com o Gaetaninho e outras boas histórias de Brás, Bexiga e Barra Funda. A imigração italiana para São Paulo é também imortalizada por Juò Bananère (pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado), cuja Divina Increnca e o Galabaro são memoráveis. E lembro aindaJoão Antônio, com Malagueta, Perus e Bacanaço.
Um grande contista brasileiro é o Lobato “para adultos”, de Urupês e Cidades Mortas. A vingança da peroba e Bugio moqueado são brilhantes. O conto sobre o padre que dizia falar alemão — que tem paralelo em O homem que sabia javanês, de Lima Barreto — é também inesquecível.
Nossa crônica é riquíssima, extremamente saborosa! Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos e Rachel de Queiroz formaram um time imbatível; Drummond, sempre lembrado como um de nossos maiores poetas, foi cronista de primeira. Mais para nossos dias temos Luís Fernando Veríssimo, João Ubaldo Ribeiro, Ferreira Gullar e Ignácio de Loyola Brandão. Para mim o maior de todos foi, sem dúvida alguma, Nélson Rodrigues. Ele escreveu bons contos e romances, revolucionou a dramaturgia brasileira, mas em nenhum gênero, na minha opinião, ele foi melhor do que na crônica. Em 1968 havia passeata quase todos os dias. Eu ia; antes de voltar para casa, comprava o Jornal da Tarde, só para me deliciar com Nélson Rodrigues metendo o pau nas passeatas e em quem delas participava, como eu…
Bem, voltemos ao romance.
Comecei literatura brasileira com José de Alencar em duas novelas, no romance ele não me marcou, nem mesmo com o ridículo de Ceci e Peri descendo o rio numa folha de bananeira. Já Machado ficou por muitos títulos; não há quem passe imune por Dom Casmurro ou Quincas Borba, mas o que gravou minha memória e resistiu melhor à releitura foi Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Aí comecei a viajar pelo Brasil, tomando aulas com nossos escritores. Aprendi o Nordeste principalmente com Graciliano, e recentemente ouvi que meu mestre Fábio Konder Comparato teria dito que o português dele — seco, afiado, direto, preciso e parco em adjetivos — é o ideal para o discurso sobre o Direito, que é o nosso ofício. Creio que a cachorra Baleia, de Vidas Secas, é um dos grandes personagens de nossa literatura. Acho Memórias do Cárcere uma leitura importante, mas, acima de tudo isso, recomendo aos profissionais do Direito o relatório ao Governador, feito por Graciliano quando prefeito de Palmeira dos Índios (há excertos na internet): É um exemplo de como é possível falar seriamente de coisas sérias sem perder o estilo, a graça e o bom humor; deveria ser lido por todo advogado e juiz.
A Bahia (que no meu tempo não era da Região Nordeste, era Leste) eu aprendi com Jorge Amado, especialmente com seus livros menos engajados, como Gabriela, Tieta do Agreste e Tenda dos Milagres. De sua literatura tarefeira (de quem cumpria tarefas impostas pela direção do Partido Comunista) lembro O Cavaleiro da Esperança, louvaminha servil a Luís Carlos Prestes, tão sevandija que não dá para aguentar (se Jorge tivesse lido William Waack, talvez não fosse tão fundo). Já Os Subterrâneos da Liberdade, conquanto panfletário e fruto de imposição partidária, tem muito sabor, como por exemplo a parte de poema em prosa sobre o negro Damião e sua negra Engrácia. A trilogia começa às vésperas do golpe do Estado Novo e o terceiro romance chama-se A Luz no Túnel, o que, imaginam os ingênuos, seja a redemocratização do País. Nada: A luz no túnel é uma pixação de foice e martelo num muro, que mostra a sobrevivência do celestial Partido…
Não posso passar pela Bahia sem falar de João Ubaldo (a quem já me referi com relação à crônica), especialmente com O Sorriso do Lagarto e Viva o Povo Brasileiro.
O Sul é território de Érico Veríssimo. Entre tanta coisa boa que ele escreveu, vale dizer que O Tempo e o Vento, fantástica trilogia, é talvez a melhor e mais monumental obra da literatura brasileira. De Ana Terra a Floriano Cambará, a história do povo gaúcho — e, por ele, do brasileiro — é contada com talento, doçura e graça.
E do Sul não se pode falar sem lembrar Simões Lopes Neto, especialmente por seus contos, tão ricos em revelar a alma gaúcha.
O Norte eu conheci com as Histórias da Amazônia de Peregrino Júnior. São Paulo ficou para os contos de João Antônio e de Antônio de Alcântara Machado, já mencionados. O interior deixei por conta de Francisco Marins e seu Grotão do Café Amarelo.
No sertão mineiro fui guiado por um escritor que morreu em dívida conosco, Mário Palmério. Vila dos Confins e Chapadão do Bugre figuram entre o que considero obras-primas da literatura brasileira. A dívida é porque o autor se foi antes de publicar um terceiro romance, que há longos anos prometia, O Morro das Sete Voltas; sempre “no prelo”, mas do prelo nunca se aproximou, que pena!
Um lugar de destaque nos romances brasileiros que me marcaram há de ser para o já citado Zero, de Ignácio de Loyola Brandão: Era uma tremenda denúncia contra a ditadura (ousadíssima, arriscada, para os padrões da época) em estética realmente revolucionária. O profético Não Verás País Nenhum e o angustiante Veia Bailarina são também ótimos textos, que consagram o autor.
Mais ou menos na época em que li Zero tive enorme encantamento com Cem Anos de Solidão. Continuei a me interessar por García Marques, apreciando O Amor nos Tempos do Cólera e a preciosidade de texto jornalístico que é Notícia de um Sequestro. Mas Cem Anos é o máximo. Curiosamente, contudo, não foi grande releitura.
Concluída a Faculdade, comecei na advocacia criminal, numa época em que era muito importante acumular experiência de júri. Aí, abri espaço ao que se pode chamar literatura de júri, desde o Suje-se, Gordo, de Machado, que já mencionei. Rebeca, de Daphne de Maurier é sobre a mulher que queria e trabalhava para ser assassinada. Já Os Subterrâneos do Vaticano, de André Gide, traz a figura de Lafcádio, que matou um desconhecido sem motivo algum, coisa que — dizíamos em Plenário — não existia fora do reino mágico da ficção. O Processo, de Kafka, assim como Crime e Castigo ou Os Irmãos Karamazov e Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoievski forneciam bom material para as defesas. Mas o grande clássico do júri no meu tempo era O Estrangeiro, de Albert Camus, cujo Mersault foi condenado por homicídio, na verdade porque era estrangeiro, mas oficialmente porque fumara no enterro da mãe…
Digo sempre a meus colegas mais jovens que advogar é saber contar uma história, daí a importância do domínio da língua. É fundamental para quem quer começar nessa profissão a leitura de bons textos, de histórias bem contadas. E, sabemos todos, o essencial para contar uma história é fazê-lo com clareza e concisão.
Por isso, quem deseja seguir esta sofrida profissão deve dedicar-se à leitura, não só de literatura, mas de bom jornalismo. Uma reportagem de meu amigo Ricardo Kotscho (qualquer que seja ela) é sempre um bom exemplo de clareza e concisão. Não se obriguem, aceitem ou se vinculem às opiniões, mas não deixem de aprender com o admirável domínio do vernáculo de Dora Kramer, Jânio de Freitas e Eliane Cantanhêde, cujos textos devem ser lidos diariamente por quem quer escrever bem.
Sempre achei que quem pretende ser um bom advogado deveria, antes de entrar num escritório de advocacia, fazer um estágio na redação de um jornal. É que o jornalista aprende, desde o primeiro dia, três aptidões fundamentais para a advocacia: a) cumprir prazo; b) limitar-se a um tamanho de texto limitado; c) “pensar no teclado”, ou seja, não passar por rascunhos antes de chegar ao produto final.
Meus próximos dias e semanas serão de lembranças de coisas de que não falei, como costuma acontecer a qualquer um. Na despedida, reitero sugestão à ConJur: Em vez de “os livros que marcaram”, peçam que se fale sobre “as leituras que marcaram…”, assim ficará mais fácil abrir espaço à crônica, ao jornalismo, ao conto e è novela, gêneros de que um advogado não pode prescindir.
Li e recomendo
Vou sugerir um vient de paraître que é puro deleite. Trata-se de Paris — Quartier Saint-Germain-des-Prés de Eros Grau. Ignácio de Loyola Brandão, nas orelhas, disse alguma coisa parecida a ser o livro um misto de crônica, poesia, história, memórias e “guia”, assim mesmo, entre aspas.
Ler a obra é desfrutar de um tempo de encantamento e prazer, nascido da pena leve e solta do autor.
Ali ele me desafia a escrever sobre o mesmo tema. Quem sabe?
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


