"Não entendo porque juiz tem 60 dias de férias"
9 de maio de 2010, 9h55
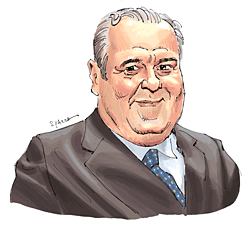 Spacca" data-GUID="luiz-paulo-barreto1.png">
Spacca" data-GUID="luiz-paulo-barreto1.png">Num mesmo dia, ele discute a situação dos indígenas no Pará, avalia a crise no sistema penitenciário, recebe uma comissão para tratar de conflitos fundiários, senta com empresários para harmonizar a relação com os consumidores, conversa com a Polícia Federal sobre os problemas nos oito mil quilômetros de fronteira do país e ainda encontra tempo e energia para comandar seis secretarias e pensar em projetos de lei. Antes de completar três meses no cargo de ministro da Justiça, o carioca, criado em Brasília, Luiz Paulo Barreto já lida com os assuntos da pasta com a familiaridade de um veterano.
Não é para menos. Dos 46 anos que tem de idade, 27 foram dedicados ao Ministério da Justiça, onde chegou e se manteve depois de passar em dois concursos. O primeiro aos 19 anos e o segundo, para nível universitário, em que foi aprovado em primeiro lugar. “Não há dia calmo e também não há monotonia. O dia começa cedo, geralmente, por volta das 8h30 e só termina às 22h. E o incrível é que nesse período sequer se tem tempo para parar e tomar um café. É tudo muito rápido. São reuniões sucessivas, eventos por todas essas áreas, crises, porque são áreas difíceis, problemáticas, que historicamente enfrentam seus momentos de crises, e nós temos que cuidar disso muito de perto”, relata.
Em entrevista à revista Consultor Jurídico, falou sobre as iniciativas do Ministério para aproximar a Justiça do cidadão e o cidadão de seus direitos. O ministro conta de sua surpresa ao descobrir que as operadoras de cartão de crédito cobram 48 tipos de taxas de serviço. Uma delas é o cash by phone, que nem ele, ministro da Justiça, nem as operadoras sabem explicar para que serve e porque é cobrada. "São milhões e milhões de reais que saem da economia popular para uma apropriação indevida das operadoras de cartão de crédito", diz ele ao comentar o assunto.
Há duas semanas, a equipe de elaboração legislativa do Ministério estuda a melhor forma para instituir o dano punitivo. Através desse instrumento, o juiz poderá aplicar multas severas contra empresas de consumo massivo que insistir em desrespeitar o consumidor em casos em que já foram condenadas.
Ao falar do Judiciário, Luiz Paulo Barreto elogia a atuação estratégica do Conselho Nacional de Justiça. Entende que os juízes precisam sentir que há um controle sobre as suas atividades. Por isso espera que a questão da carga horária da magistratura seja colocada em debate. “Não entendo porque o juiz, diferente de qualquer trabalhador brasileiro, precisa de dois meses de férias por ano. O juiz, como um operário ou como um executivo de empresas, deveria ter um mês de férias, como prevê a lei.”
Gostaria que também a polícia adotasse medidas de gestão que tornassem mais eficientes seus esforços. A tecnologia, defende, está aí para integrar os bancos de dados e as investigações feitas nos estados, mas isso não funciona sem uma mudança de cultura. Barreto revela que, hoje em dia, é mais fácil obter informações em processos penais no Japão e na Argentina, do que fazer as polícias estaduais conversarem entre si.
O ministro da Justiça também é a favor dos mutirões carcerários e do uso de tornozeleiras ou pulseiras eletrônicas para controlar as saídas e a efetividade do regime semiaberto. Ele explica que a pulseira visualmente parece um relógio, com um GPS e um rádio. Assim, quando o preso sair da área delimitada, a comunicação vai ser simples. Esse ano R$ 500 milhões serão investidos na criação de centros de detenção provisória com 30 mil novas vagas. Barreto contou que do prédio do Ministério consegue ver tudo o que acontece nos presídios federais. Há uma sala com diversos monitores acompanhando os passos dos presos e também dos agentes penitenciários. Um dos próximos passos será a compra de microfones de lapela para ouvir a conversa desses agentes.
Antes de receber o diploma de bacharel em Direito, Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto formou-se em Economia. Foi levado pela onda de planos econômicos que aqueceu o mercado de trabalho dos economistas em décadas passadas. Com o trabalho no Ministério da Justiça encantou-se pelo Direito e aderiu ao estudo das ciências jurídicas. Completou os dois cursos no UniCeub, de Brasília. Presidiu o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e do Comitê Nacional para Refugiados, e ocupava a secretaria executiva do MJ quando, em fevereiro de 2010, o titular da cadeira, ministro Tarso Genro, deixou o cargo para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul.
Leia a entrevista
ConJur — O candidato à presidência, José Serra (PSDB-SP), propôs subdividir o Ministério da Justiça para criar o Ministério da Segurança Pública. Como o senhor avalia essa proposta?
Luiz Paulo Barreto — A ideia não é nova. Em 2002, o próprio Serra a lançou. Mas criar um órgão não resolve. Em 2003, o governo Lula estudou a proposta e a descartou por conta de um embate técnico. O sistema brasileiro de justiça é composto por um tripé: o Judiciário, o sistema de polícia e o sistema prisional. Separar esse sistema não é um bom caminho. Hoje, a tendência moderna de Direito Criminal Internacional é de trabalhar de maneira conjunta, com a polícia que prende, com o Judiciário que julga e com o sistema penal que deveria promover a reintegração do indivíduo. Então, não adianta ter um Ministério das Polícias, um Ministério da Prisão e um Ministério da Justiça.
ConJur — A comunicação entre eles ficaria ainda mais complicada.
Luiz Paulo Barreto — Não vão se comunicar. Em São Paulo, a experiência de ter uma Secretaria de Administração Penitenciária e uma de Segurança Pública separadas não deu certo. Houve problemas por falta de diálogo, até o alargamento da criminalidade organizada dentro dos presídios. Acabamos de participar do 12º Congresso das Nações Unidas de Combate ao Crime, em Salvador, que reuniu especialistas de 140 países, onde um dos temas mais discutidos foi a necessidade de integração dos sistemas de Justiça, de segurança pública e prisional. A criação de um Ministério da Segurança Pública vai na contramão dessa nova tendência mundial. Hoje, 87% do orçamento do Ministério da Justiça vai para a segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Pronasci e todos os outros. Já somos o Ministério da Segurança Pública, que trabalha de maneira muito integrada também com o Poder Judiciário. Tanto é verdade que criamos a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, com participação do Ministério de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa nova instância de cooperação entre os poderes para combater a violência e a criminalidade no país foi criada por mim junto com o ministro Gilmar Mendes [então presidente do STF] e com Roberto Gurgel, procurador-geral da República.
ConJur — A polícia de cada estado tem uma estratégia e forma de atuação. É necessária a criação de uma política nacional de combate à criminalidade? Ou é preciso respeitar as peculiaridades de cada região?
Luiz Paulo Barreto — Claro que as peculiaridades devem ser respeitadas, mas a integração já deveria ter acontecido. Um exemplo crasso de como isso não acontece e prejudica o país é a expansão do crack, da cocaína. É comum os governos estaduais dizerem que o governo federal deveria fechar as fronteiras. O problema é que temos 8.000 quilômetros de fronteiras, e a maior parte de fronteiras secas, mais fácies de transpor. Por mais que colocássemos homens de braços dados, poderiam passar de helicóptero, avião. É impossível ser dessa maneira. Então, a droga sai da Bolívia, passa por Mato Grosso e vai parar nas capitais de São Paulo e do Rio. Quando a polícia local faz a apreensão, o inquérito, a investigação, passa para o Judiciário local, sem comunicar à polícia de Mato Grosso, que estava na rota da droga. O correto seria que as polícias conversassem, do ponto de fronteira até o ponto onde a droga foi apreendida. Não adianta prender o pobre do motorista do caminhão, que muitas vezes é uma mula, uma pessoa desavisada. Amanhã, haverá outros cinco, seis. A atuação deve ser contra toda a rede do crime organizado, que se estrutura para trazer a droga para dentro do país. O crime não respeita fronteiras geográficas ou políticas.
ConJur — É difícil fazer essa troca de informações?
Luiz Paulo Barreto — Não. A tecnologia hoje permite a integração de maneira muito fácil. Mas, mais do que tecnologia, é necessária uma mudança de cultura. Precisamos de uma cultura policial para um trabalho integrado, no âmbito estadual e federal. A criação de gabinetes de gestão integrada funcionou muito bem. O que é esse gabinete? É um órgão? Não. É um conceito. Sentam na mesma mesa representantes da Polícia Civil, Militar, Rodoviária Federal, bombeiros estaduais. Juntos, verificam quais são os problemas da região e estabelecem estratégias de combate. Depois, replicamos essa prática para os gabinetes municipais de gestão de segurança, também com a guarda municipal, com o prefeito, e funciona muito bem. Mas entre estados essa integração ainda é muito rara. Essa cultura tem que ser difundida e ampliada para que a integração também concorra no âmbito sistêmico. A polícia precisa modernizar as suas atividades. Essa é a melhor maneira de fazer, com integração, com compartilhamento de sistemas, com otimização dos investimentos.
ConJur — Em seu discurso de posse na presidência do Supremo, o ministro Cezar Peluso falou sobre a necessidade de cooperação internacional para combater a criminalidade. Quais foram os resultados práticos com a assinatura de acordos e tratados internacionais?
Luiz Paulo Barreto — Há 15 anos a ONU editou um texto onde constatou que o crime internacional estava se organizando de maneira globalizada. Só se poderia combater esse tipo de crime com uma estratégia globalizada. A partir daí houve uma difusão dos acordos de cooperação jurídica internacional. O Brasil assinou a Convenção de Palermo, de 2001, que é a convenção internacional de combate ao crime organizado. Ela tem três protocolos adicionais, um protocolo para tráfico de armas, um protocolo para tráfico de pessoas e o outro para tráfico de drogas. Com isso, o Brasil passou a ter um quadro normativo internacional bastante adequado para o enfrentamento dessa criminalidade, sem contar os acordos bilaterais assinados com diversos países, inclusive, com paraísos fiscais. Através dessa cooperação, conseguimos obter provas em processo penal, ouvir testemunhas, bloquear contas bancárias, recuperar ativos. Mecanismos como a Interpol, Mercosul, Unasul ajudaram muito nesse esforço coletivo. Hoje, conseguimos instruir um processo criminal que está tramitando no Japão, com rapidez. É isso que precisamos fazer internamente no Brasil. É mais difícil trocar informações entre as polícias estaduais do que com a polícia da Argentina.
ConJur — O Ministério da Justiça fará um investimento de R$ 500 milhões na criação na vagas em presídios. A prisão é a melhor forma de punir quem comete um crime?
Luiz Paulo Barreto — A prisão não é a melhor maneira de se recuperar uma pessoa. Isso é verdade. Mas muitas vezes é necessária para excluir do meio social o indivíduo que se mostra nocivo. Essa é uma das teorias da pena. Outra, fala sobre a vingança social, e também defende o isolamento em presídio daquele que praticou ato contra a sociedade. Outras teorias falam da reintegração social, em que o sujeito que falha é recuperado no convívio social por meio do sistema prisional. É incrível perceber que nenhuma das três funciona automaticamente, nem isoladamente e nem em conjunto. E não é só no Brasil. Na História, o tema das prisões sempre foi um tema maldito. Desde a Idade Média, quando existiam os calabouços, prisões em castelos em ilhas, sempre no sentido de punir e isolar os presos. No Brasil, a prisão não conseguiu isolar o detento, que muitas vezes pratica crimes de dentro da cadeia, e não conseguiu punir, porque passa muitas vezes por desrespeito aos direitos humanos. A punição pode afetar a liberdade da pessoa, mas não a sua integridade física ou o seu bem-estar emocional e psíquico. É essa a pena que se fixa no Brasil. A teoria da reintegração social também não estava funcionando na prática, porque as pessoas não estavam se recuperando. O índice de reincidência de 70% mostrava isso.
ConJur — O que o governo tem feito para mudar essa realidade?
Luiz Paulo Barreto — A resposta do Ministério da Justiça para isso foi o sistema prisional federal. Nunca houve uma fuga, rebelião. O preso recebe um tratamento duro, não consegue usar o celular, não consegue controlar o crime de dentro do presídio, não recebe nada da família. Mas ao mesmo tempo tem respeito aos direitos humanos quando tem direito a visita íntima, visita da família, tem uma biblioteca, tratamento médico, dentista, psicólogo. É um sistema mais caro, necessita de investimentos, mas a replicação desse sistema no país inteiro permitirá um melhor tratamento do preso. Aquelas cenas que aparecem na televisão em geral são nas cadeias públicas, o que é um problema maior ainda, porque a polícia ao invés de estar investigando crimes e atendendo a população, está cuidando da custódia de presos. Por isso, vamos investir R$ 500 milhões para a construção 30 mil novas vagas em centros de detenção provisória, em 2010. A ideia é tirar os presos das delegacias e permitir que os presos provisórios fiquem de maneira adequada esperando a sua sentença, sem se misturar com condenados, evitando uma periculosidade maior. Esse quadro da instituição prisional precisa evoluir com a construção de prisões que realmente tenham rigor no cumprimento da pena, mas respeitem os direitos humanos.
ConJur — Qual a sua opinião sobre a aplicação de penas alternativas?
Luiz Paulo Barreto — O indivíduo que atropela e mata uma pessoa tem de ir para a cadeia? Claro que houve um homicídio, claro que foi uma conduta irresponsável, uma conduta grave muitas vezes, mas não era uma conduta dolosa, não havia nenhuma intenção de matar. Havia no máximo o preterdolo, ou seja, assumir os riscos de obter os resultados. Mas não havia uma intenção de matar. Essa pessoa se recuperará muito mais se tiver que trabalhar em um hospital de acidentados, ou no IML, onde possa perceber que todos os dias as pessoas morrem, são mutiladas e sofrem em razão da violência no trânsito. Depois disso, é bem possível que o indivíduo passe a ser um bom motorista. Isso é muito mais didático do que colocá-lo em uma prisão, é muito mais viável em termos de recuperação social do que trancafiá-lo em uma prisão. Então, para esse individuo a pena alternativa vai mostrar uma recuperação mais rápida. Tanto é verdade, que no sistema prisional tradicional o índice de reincidência é de 70% e no sistema de penas alternativas não chega a 20% de reincidência. Em alguns estados chega a 4%.
ConJur — Como fica o juiz diante da obrigação de mandar para a prisão e da situação caótica do sistema prisional?
Luiz Paulo Barreto — O juiz tem mudado a mentalidade. Não tem mais se atido só aos autos na hora de decidir. É importante percebermos que, desde o juiz de primeira instância até o Supremo, a sensibilidade social tem aumentado muito no Poder Judiciário. O Supremo, por exemplo, tem usado hoje a figura do amicus curiae, tem usado audiências públicas, como aconteceu no julgamento das células tronco. Em um passado recente, isso era quase impensável. É importante os juízes estarem dispostos a esse contato com a sociedade. No caso das penas, ele precisa avaliar o indivíduo. Quem é essa pessoa? Que crime ela praticou? Em que circunstâncias ela praticou esse crime? Quais suas possibilidades futuras?
Conjur — O CNJ fez um trabalho interessante nesses últimos tempos, em que 22 mil presos em situação irregular foram libertados. Essa é uma forma de ajudar a resolver essa situação do sistema prisional brasileiro?
Luiz Paulo Barreto — O CNJ está fazendo um trabalho magnífico. Foi um grande avanço para o Judiciário, tanto ao criar metas para os juízes e acelerar os processos criminais quanto ao buscar soluções para a Justiça Criminal. Mas muitas vezes há uma confusão, tanto dos meios de comunicação quanto da sociedade, em relação a esse trabalho. A ideia não é esvaziar as prisões ou simplesmente soltar presos. A questão é cumprir a lei. Imagine uma pessoa condenada a quatro anos de prisão, que está a quatro anos e meio presa. Quem vai pagar por esses seis meses a mais de pena? Essa é uma violação dos direitos humanos gravíssima. Cada dia a mais na prisão tem um custo muito alto para o indivíduo. É dar direito a quem tem direito, permitindo que o Direito e a Justiça sejam efetivamente cumpridos.
ConJur — O ministro Marco Aurélio, do Supremo, criticou a atuação do CNJ, dizendo que o órgão nasceu para fazer o planejamento e a gestão do Judiciário, e não ser uma grande corregedoria. O senhor concorda?
Luiz Paulo Barreto — O ministro Marco Aurélio é inovador e sempre enxerga além dos fatos e do tempo. E, certamente, qualquer crítica que faça é objeto de muito respeito. Mas é inegável o avanço que o CNJ trouxe para a Justiça brasileira. Os juízes não podem mais estar trancados nos seus gabinetes. Eles têm de perceber que há um controle social e do próprio Judiciário sobre sua atividade. Percebemos a diferença que existe entre o Executivo e o Judiciário. Enquanto no Executivo temos 12, 13 horas diárias de trabalho, alguns juízes, que têm salários maiores e boas condições de trabalho, chegam à 1h da tarde no gabinete e saem às 19h. Durante a manhã desenvolvem outras atividades. Além de terem dois meses de férias, sem preocupação efetiva com o índice de produtividade. Esse conceito antigo de funcionalidade pública tem mudado nos últimos anos no Brasil. Hoje, percebemos os servidores muito mais envolvidos com produtividade, metas, tanto no Executivo quanto no Legislativo, e até no Judiciário. É essa a intenção do Conselho Nacional de Justiça ao fixar metas, quando faz auditorias com relação ao tempo de julgamento e faz correição no trabalho do juiz. Isso é benéfico.
ConJur — É mais do que uma corregedoria, então?
Luiz Paulo Barreto — Não é um sistema montado para punir juízes, mas uma instância para que o juiz perceba que há um controle sobre sua atividade. Ninguém está satisfeito com o tempo do processo civil. Não é possível que um processo de indenização demore 20 anos no Poder Judiciário. Se um processo penal levar 10 anos até chegar o final, o juiz estará julgando outra pessoa, não mais aquela que praticou o crime. O Judiciário serve para reequilibrar as relações sociais. Não é por outra razão que o símbolo da Justiça é uma balança. Se o reequilíbrio leva 10 anos para acontecer, é porque o sistema não está funcionando. Isso leva a pessoa a desacreditar nesse sistema e tentar resolver com as próprias mãos, o que terá como consequência a violação de direitos. Esses novos delitos vão abastecer o sistema prisional, já que a morosidade do Judiciário também é um fator de segurança pública. Além disso, é preciso, sim, discutir a carga horária dos juízes e as férias além do normal. Não entendo porque o juiz, diferente de qualquer trabalhador brasileiro, precisa de dois meses de férias por ano. O juiz, como um operário ou como um executivo de empresas, deveria ter um mês de férias, como prevê a lei, que deveria ser aplicada a todos.
ConJur — O que o Ministério da Justiça está fazendo para levar mais justiça para o cidadão, para deixá-lo mais próximo do seu direito?
Luiz Paulo Barreto — O Ministério da Justiça é o Ministério da Defesa dos Direitos, defendendo os direitos dos cidadãos no âmbito coletivo como um todo. Felizmente, nesse aspecto que você colocou, a AGU mudou seu procedimento. Em um passado recente, a orientação que partira da própria administração era para se recorrer de tudo até o final. O novo ministro da AGU, Luis Inácio Adams orientou os advogados da União a lutarem até o fim, quando o direito está do lado da União, mas não nos casos em que há jurisprudência firmada, Súmula Vinculante. Já houve uma reeducação da Advocacia Geral da União nesse sentido.
ConJur — E no âmbito do Ministério da Justiça?
Luiz Paulo Barreto — Em relação à defesa dos direitos, o Ministério da Justiça está envolvido em dois grandes projetos. Reclamações é um deles. As três últimas edições do nosso cadastro de reclamações fundamentadas apontaram o segmento de cartões de crédito e o de telefones celulares pré-pagos como os que apresentam mais problemas nas relações de consumo no país. Vamos elaborar um projeto de lei que permita ao Banco Central regulamentar o setor de cartões de crédito, por meio de uma alteração na Resolução 3.518 do Conselho Monetário Nacional. São milhões os brasileiros que usam cartões de crédito, substituindo o pagamento com cheque, e é preciso ter regras muito claras. Um estudo feito pela nossa área de defesa do consumidor mostrou que os cartões de crédito cobram 48 taxas em diferentes momentos, muitas delas incompreensíveis.
ConJur — Por exemplo?
Luiz Paulo Barreto — A taxa de não utilização do cartão. A pessoa paga a anuidade e se não usa o cartão todos os meses paga também uma taxa de inabilitação. Tem outra, chamada cash by phone. Esta nem a operadora soube dizer a que se refere. Dinheiro pelo telefone? Tem ainda a taxa por saque em caixa eletrônico, outra de conversão de moeda estrangeira, de uso do cartão no exterior. É uma bitarifação. São milhões e milhões de reais que saem da economia popular para uma apropriação indevida das operadoras de cartão de crédito.
ConJur — Qual o tamanho da expansão do uso do cartão de crédito no país?
Luiz Paulo Barreto — Um estudo mostrou que, de sete anos para cá, 25,6 milhões de brasileiros passaram das Classes D e E para a Classe C. E cinco milhões de pessoas subiram da Classe C para a Classe B. Esses novos 25 milhões de consumidores estão tendo pela primeira vez acesso ao crédito. É aquela senhora que compra sua geladeira, o senhor que compra a sua televisão, aquele que pela primeira vez compra o seu carrinho. O sistema de crédito é um sistema de realização da cidadania. Se essa pessoa se frustra se endividando de maneira excessiva, haverá uma frustração da cidadania, e não só do acesso ao crédito. Por isso, a cautela com os novos consumidores. Muitos deles não têm conhecimento das regras do jogo.
ConJur — Qual a principal reclamação em relação aos celulares?
Luiz Paulo Barreto — Nós temos no Brasil hoje mais de 140 milhões de telefones celulares, e desse total 85% são pré-pagos. E a principal reclamação dos consumidores é que o crédito vence, em 30 dias por exemplo. A pessoa só recupera o crédito se colocar mais crédito. Isso é induzir o consumo e apropriação indevida. Trata-se de transferência da economia popular para a lucratividade dessas empresas. Estamos partindo para um diálogo com a Anatel e com as empresas telefônicas, para tentar regulamentar esse direito e melhorar a situação dos consumidores.
ConJur — E em relação às concessionárias de serviços públicos?
Luiz Paulo Barreto — O Ministério está enfrentando no momento questões de direito coletivo, como a informação sobre o uso da água. A taxa da água chega na minha casa, mas não tenho informações sobre a sua qualidade. A água tem coliformes fecais? Ela é uma água pura? Ela é própria para o consumo direto? Você pode beber aquela água ou não pode? Pode só tomar banho com ela? São informações adicionais que os consumidores precisam ter das fornecedoras de serviços públicos, serviços universais. Com relação ao serviço de luz: quais os critérios da leitura? Por que, às vezes, há variação no consumo de uma pessoa? Esses direitos coletivos são os direitos mais importantes que a gente tem que proteger.
ConJur — O que se pode fazer para que as empresas cumpram o papel delas de oferecer um serviço de boa qualidade pelo preço justo?
Luiz Paulo Barreto — A regulamentação é o melhor caminho. Em alguns casos, a autorregulamentação pode funcionar. Mas, em geral, temos que acompanhar de perto. A linha do Ministério é negociar. Não vamos partir para uma briga com um setor da economia, mas vamos dialogar. Tenho certeza que só nesse ato de sentar governo e empresários para discutir, vamos avançar vários passos. Quando não houver resultados, vamos para uma regulamentação legal. Temos a Secretaria de Assuntos Legislativos para isso. E o nosso poderoso instrumento para fiscalizar é o Sindec [Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor]. É um sistema que envolve os Procons estaduais, com a participação de 24 estados. Apenas Paraná, Roraima e Amapá não estão no sistema. São os Procons totalmente interligados no sistema nacional, que editam o Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, o que nos permite auferir quais são as reclamações mais usuais. A partir disso, entramos em contato com as empresas. O Código de Defesa do Consumidor está fazendo 20 anos agora em 2010, e o melhor presente que pode outorgar aos consumidores é o seu efetivo cumprimento.
ConJur — O brasileiro aprendeu a reclamar a partir da edição do CDC ou foi uma consequência natural da democracia, do processo que veio com a Constituição?
Luiz Paulo Barreto — As duas coisas. Claro, que a democratização fez com que as pessoas participassem mais de tudo que diz respeito à relação Estado e cidadão. Agora, o código veio trazer um rumo para essas reclamações. É um instrumento poderoso nas mãos dos consumidores brasileiros para fazer a sua reclamação. O código, infelizmente, não é integralmente cumprido, mas é muito avançado. Por exemplo, o consumidor nem sempre sabe que pode trocar um produto sempre que não satisfizer a sua expectativa de consumo. Não só quando está com defeito. Em 2010, queremos transformar esse aniversário do código no aniversário da sua difusão junto ao meio empresarial e aos consumidores, para que ambos conheçam o que está previsto e consigam respeitar a relação de consumo. Se o Brasil satisfizer os consumidores internos, satisfará também os internacionais. Continuará tendo condições de exportar produtos para qualquer parte do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, porque certamente o padrão de consumo de lá não vai ser melhor do que o daqui.
ConJur — O acesso aos advogados pelo brasileiro precisa ser expandido, e a OAB tem regras que restringem a propaganda do serviço. Acabar com as restrições seria uma forma de dar acesso aos advogados, aos seus direitos e à Justiça?
Luiz Paulo Barreto — Não. Não. Não. Temos muita preocupação com a questão da mercantilização da advocacia. Isso não interessa a ninguém. Senão daqui a pouco nós vamos ver na TV: “Dr. Fulano, Fera do Divórcio.” Não podemos permitir isso. A advocacia tem que dignificar a sua atividade, porque ela é essencial à Justiça brasileira. Então, tem que ser uma atividade realmente digna e em condições adequadas. O que é diferente da universailização do acesso à Justiça, e nisso temos que investir e estamos trabalhando muito. O Ministério tem a Secretaria de Reforma do Poder Judiciário, que tem como uma das suas principais vertentes de trabalho promover o acesso à Justiça.
ConJur — De que forma?
Luiz Paulo Barreto — Com instrumentos aplicados à mediação, arbitragem, Juizados Especiais, que não precisam de advogado. E a Defensoria Pública também precisa estar melhor estruturada para atender os hipossuficientes. O acesso à Justiça é fundamental. Então, como eu disse antes, se a Justiça regula as relações sociais, e se a pessoa não tem acesso a ela, os seus direitos serão violados e ficam irreparados. Estudos apontam que isso volta para a sociedade como violação de direitos. A pessoa que tem os seus direitos violados e não consegue repará-los, vai violar direitos também. Então, uma prestação jurisdicional rápida e efetiva é necessária para que o sistema social de paz se consolide também. Investir em mecanismos de solução de conflitos que não envolvam necessariamente o Judiciário é um belo caminho.
ConJur — E qual o caminho para resolver as questões que envolvem o Judiciário?
Luiz Paulo Barreto — Uma Defensoria Pública bem estruturada e a defesa dos direitos coletivos, que precisa ser dinamizada no país. O Ministério da Justiça está trabalhando em um projeto de lei para instituir o dano punitivo, que não é comum no Direito brasileiro. O dano punitivo pode mudar essas relações no Brasil. Como funciona? O juiz faz a primeira condenação de uma empresa, num caso de telefonia, por exemplo. Julga a segunda, a terceira, em relação à mesma reclamação. Na quarta, ele pensa: “Espera aí, essa empresa está suprimindo direitos de todos”. Aí, aplica o dano punitivo, que é uma multa muito mais alta do que aquelas indenizações individuais. Nos Estados Unidos isso é muito comum, e às vezes acontece do juiz dar US$ 1 milhão para um primeiro reclamante, depois US$100 milhões, porque ela está violando direitos sistematicamente. Isso faz com que o Poder Judiciário tenha muita capacidade de regular as relações de consumos e de serviços no mercado americano. O Brasil pode ter um sistema como esse. E nossa equipe de legislativo está estudando esse assunto.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


