"CNJ deveria destacar as boas práticas da Justiça"
23 de agosto de 2009, 9h58
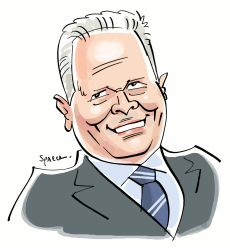 Spacca" data-GUID="nelson_calandra.png">
Spacca" data-GUID="nelson_calandra.png">O desembargador de São Paulo Henrique Nelson Calandra, também presidente da Associação Paulista de Magistrados (Apamagis), pretende desembarcar em Brasília em breve. Ele é um dos candidatos para ocupar a vaga aberta no Superior Tribunal de Justiça com a aposentadoria do ministro Paulo Gallotti. Se chegar na corte, vai trabalhar perto de um de seus grandes motivos de irresignação: o Conselho Nacional de Justiça.
Calandra é contra a existência do CNJ e se diz preocupado com a publicidade dada às irregularidades encontradas nos TJs inspecionados. Para ele, divulgar esse tipo de informação pode passar a imagem de que o Judiciário brasileiro, como um todo, é irregular, o que não é verdade. O desembargador entende que as boas práticas do Judiciário também devem ter destaque e as irregularidades, ser apuradas.
Em entrevista à Consultor Jurídico, Calandra critica, além da divulgação de relatórios das inspeções feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, a arquitetura do CNJ. O fato de a Justiça Estadual ter apenas duas cadeiras no conselho, uma para juiz e outra para desembargador, é motivo de inconformismo por parte do desembargador. “A Justiça que realmente faz o atendimento por atacado para toda a população é colocada em uma posição de subordinação à Justiça Federal. As cadeiras para a Justiça Estadual deveriam ser majoritárias.”
Ao falar da lentidão e da ineficiência da Justiça paulista, Calandra dispara críticas à atuação do Estado, que insiste em recorrer em matérias repetitivas que já possuem posição majoritária a favor do contribuinte. É uma questão de conscientização do Executivo que, se acontecer, reduzirá a demanda — já que o cidadão não precisará bater à porta da Justiça para conseguir o benefício a que tem direito — e o tempo de julgamento dos outros processos, diz o desembargador. “A administração pública não olha para o administrado como alguém que é razão e motivo de sua existência. Olha para o administrado como protagonista anônimo de um direito que só o Judiciário pode resgatar. Isto é que provoca um número excessivo de demandas.”
Henrique Nelson Calandra trabalhou dos 12 aos 19 anos na indústria metalúrgica para ajudar a família, “que era numerosa”, e morava no Brooklin, cidade de São Paulo, bairro que naquela época tinha até criação de gado e bonde. Antes de entrar na Faculdade de Direito da PUC-SP, em 1970, passou pela área de recursos humanos de uma empresa, trabalhou com pesquisas, auditoria e contabilidade.
Demorou um pouco para terminar na faculdade. Nessa época, “mexi com teatro, revolução, sindicato, tudo o que não podia”, conta. Durante 15 anos, atuou como advogado. Quando decidiu prestar concurso para entrar na Magistratura, não teve o apoio dos colegas de escritório. Calandra conta que chegaram até a esconder o Diário Oficial em que ele era convocado para a segunda fase da prova. Depois de aprovado, os primeiros anos de carreira foram difíceis. O salário, que era de 210 mil cruzeiros, caiu para 23 mil cruzeiros.
Há 28 anos na Magistratura, sabe que essa pode ser sua última chance de chegar em Brasília. Tem 64 anos e o limite de idade para ser indicado para o STJ ou até mesmo para o STF é 65 anos, que ele atinge em junho. Já é a segunda vez que Calandra tenta chegar à corte superior. Da outra vez, diz, “tive alguns votinhos que representaram um sinal verde para pretensões futuras”. No entanto, demonstra cautela. “Estou medindo meu passo, vendo com meus companheiros de tribunal o que fazer e o que não fazer porque há muitos candidatos em São Paulo.” Sua candidatura vai depender da construção de um consenso para que não haja mais de um candidato do TJ paulista, explica.
Leia a entrevista
ConJur — De acordo com dados do CNJ, o número de processo no TJ paulista só cresce. Por mais que os juízes e desembargadores julguem, a demanda aumenta. Qual é a saída para a Justiça paulista?
Nelson Henrique Calandra — No Judiciário brasileiro, faltam recursos e sobram talentos. Temos juízes e advogados muito qualificados. Mas, para resolver o problema, é preciso investir na modernização em primeiro grau e na capacitação dos servidores. É comum passarem candidatos no concurso sem nunca terem visto um processo na frente ou terem entrado em um fórum. Os servidores chegam sem qualquer conhecimento do que terão pela frente. Trabalhando com pessoas despreparadas, o juiz fica como um Dom Quixote isolado, com a lança dele combatendo os moinhos de vento. Outra questão importante é que o Executivo precisa se conscientizar de que não é politicamente correto mandar o fisco e o contribuinte baterem às portas do Judiciário por questões repetidamente solucionadas a favor dos contribuintes e ainda fazê-los entrar na longa fila de precatórios para receber.
ConJur — Quais são os principais problemas da Justiça paulista?
Nelson Calandra — A falta de juízes é um dos problemas. O déficit é de 250 juízes. Se hoje quiséssemos recrutá-los, seria uma missão impossível. No último concurso, de sete mil candidatos, apenas 97 foram aprovados e um deles desistiu da carreira. Isso porque a banca de examinadores tem de apurar a vocação das pessoas, mais do que o conhecimento teórico. A maior deficiência dos candidatos é falta de conhecimentos básicos, como de língua portuguesa. O problema de formação vem antes da faculdade. Aparece desde o ensino básico. E a linguagem escrita é ferramenta de trabalho para o juiz.
ConJur — Além de juízes, o que mais falta para a Justiça em São Paulo funcionar de forma adequada?
Nelson Calandra — Investimento. O Judiciário vive em um mundo de papel, só que a sociedade brasileira e mundial opera em um mundo virtual. Em São Paulo, demos alguns passinhos para melhorar a performance, como a implantação do Diário Oficial Eletrônico, que trouxe uma economia enorme de papel e tempo. Criamos também a distribuição eletrônica, que é mais rápida e evita fraudes, e já temos acompanhamento eletrônico dos processos. Em breve, vamos implantar uma câmara de julgamento eletrônica no Tribunal de Justiça. Há sensibilidade e vontade para fazer essas mudanças, mas falta verba. Houve época em que a verba de investimento do TJ era de R$ 1.
ConJur — Investimento em informática?
Nelson Calandra — Para qualquer tipo de investimento. O orçamento do TJ sofreu cortes muito severos. Embora o Conselho Nacional de Justiça diga que gastamos muito com pessoal [o TJ-SP gasta 91,8% do orçamento com pessoal], hoje, os nossos gastos estão no limite de 4,58% do orçamento do estado e o limite legal é de 6%. Embora haja suplementação, que vai socorrendo o Judiciário no seu dia a dia, não é suficiente para fazer investimentos. Os nossos prédios envelheceram e isso traz como consequência uma defasagem. Para instalar computadores no Fórum Cível de São Paulo, foi preciso perfurar paredes para passar cano de ferro, tudo na base do improviso. Um dos maiores fóruns da América Latina não estava preparado para utilizar computadores. A carga elétrica não era suficiente. Os colegas que dirigiram o tribunal fizeram muito, mas o muito que foi feito não acompanhou a evolução da população. Em menos de uma década, passamos de 20 milhões para 40 milhões de habitantes no estado.
ConJur — Não existem formas de racionalizar o andamento e o julgamento dos processos sem gastar dinheiro?
Nelson Calandra — A Súmula Vinculante do Supremo ajuda, e muito. Encaminhamos ao STF um pedido de edição de uma súmula em relação à execução penal. Apesar de o Supremo já ter decidido que condenado por crime hediondo tem direito a progressão de regime, ainda existem dois entendimentos em vigor em São Paulo. Se o STF uniformizar a questão, a situação dentro dos próprios presídios ficará mais tranquila, o trabalho no tribunal será facilitado e teremos uma aplicação mais racional da Justiça penal.
ConJur — Há resistência dos juízes em aplicar entendimentos que ainda não foram sumulados?
Nelson Calandra — Sim. O juiz de primeiro grau trabalha em cima dos argumentos apresentados pelos advogados e nem todos colocam a questão da mesma forma. Se o advogado coloca um fundamento errado, o juiz é obrigado a negar. Para o outro, que usa os argumentos certos, ele tem de conceder. Imagine a bagunça que gera dentro de um estabelecimento penitenciário. Isso traz problemas e insegurança jurídica.
ConJur — São muitos os temas repetitivos na Justiça paulista?
Nelson Calandra — São muitos. Há inúmeros processos, por exemplo, em que servidores pedem o reconhecimento de benefícios. A posição dominante no tribunal é de que eles têm direito, mas há câmaras e juízes com convicções diferentes. O resultado disso são recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo. O ministro Gilmar Mendes, quando foi advogado-geral da União, criou a súmula administrativa para que o Estado não recorresse em matérias repetitivas. O governo tem de criar o bom hábito de não questionar reiteradas vezes temas que já foram decididos. Aí, há um choque de opiniões. De um lado ficam as procuradorias e os juristas. De outro, o pessoal da área econômica. O advogado diz: “Isso aqui já foi decidido centenas de vezes”. E os donos dos recursos financeiros, o secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda, dizem: “Não. Vamos empurrar com a barriga. Recorra mais uma vez, assim ganharmos tempo para adequar o orçamento e pagar a conta”.
ConJur — O Estado ainda é o grande criador de demanda na Justiça Estadual?
Nelson Calandra — E na Justiça Federal também, principalmente em matéria previdenciária. A repartição não obedece nem a Constituição, nem a lei, nem aquilo que está decidido reiteradas vezes. É preciso que o tribunal decida em lugar do administrador. Quem sofre o primeiro impacto é o trabalhador e depois, o juiz. Criamos uma instância que se dedica a rever aquilo que a administração deveria ver para evitar o excessivo número de demandas. A administração pública não olha para o administrado como alguém que é razão e motivo de sua existência. Olha para o administrado como protagonista anônimo de um direito que só o Judiciário pode resgatar. Isto é que provoca um número excessivo de demandas. É o famoso “se o senhor não está satisfeito, vá procurar seu direito na Justiça”.
ConJur — O senhor acha que ampliar o número de desembargadores é uma forma de tentar resolver também a questão do número de processos na segunda instância?
Nelson Calandra — É uma contingência ter mais cargos em segundo grau. Essa questão do número de cargos em segundo grau é muito ligada ao volume de trabalho e a força de trabalho empregada para solucionar os recursos. Eu passei pelo primeiro Tribunal de Alçada, pelo segundo, pelo Tacrim e pelo TJ. Uma vez, aceitei receber 600 apelações de colegas para tentar resolver uma demanda repetitiva. Resultado: um colega ficou vencido nos 600 casos e eu fiquei com 1,2 mil votos e mais 1,2 mil acórdãos para escrever. Quando foram encerradas as atividades do Tribunal de Alçada Criminal, zeramos tudo. Em pouco tempo, já estava com 2 mil processos para cuidar de novo. A força de trabalho necessária para enfrentar os recursos, com a burocracia que temos hoje, equivale a 500 colegas. Nós temos 360 desembargadores e mais 85 substitutos. Falta gente. Embora haja resistência ao aumento do número de cargos, não damos conta do trabalho que temos.
ConJur — Quantos desembargadores dariam conta do recado?
Nelson Calandra — Há um estudo feito pelo chefe de gabinete do presidente do TJ-SP que fala em 130 cargos a mais no segundo grau. Esse estudo foi desenvolvido com estatísticas, mas quando o presidente Vallim Bellocchi colocou esse tema em discussão, houve um estremecimento entre os colegas, que diziam: “Imaginem, mais de 100. Vai virar um tribunal gigante. E a jurisprudência? E a orientação do tribunal? Onde vão parar?”. São perplexidades que surgem. Criar cargos e criar soluções é criar problemas também.
ConJur — E mais gastos.
Nelson Calandra — Sim. É um assunto que temos que olhar sob dois pontos de vista. O do contribuinte que paga a conta e também o do contribuinte que leva a causa e não recebe solução. Se o Estado procurar eliminar tudo aquilo que ele demanda repetidamente e de modo constante, já caminhamos para uma solução. Além do que a taxa judiciária tem que ser destinada ao próprio Tribunal de Justiça.
ConJur — Quanto a essa questão das taxas, dados estatísticos mostram que mesmo que os tribunais recebessem esses valores, não conseguiriam ter autonomia financeira.
Nelson Calandra — Discordo. A taxa judiciária é a medida do serviço. Se ela for cobrada daqueles que usam o serviço, de um lado vai despertar responsabilidade, de outro lado, vai despertar uma análise financeira de aplicação correta desses recursos. Nós fizemos um estudo e concluímos que, se os recursos da taxa judiciária fossem destinados ao tribunal e fossem eliminadas certas isenções que correspondem a irresponsabilidades, produziriam um número superior a R$ 8 bilhões. A proposta orçamentária do tribunal para 2010 é de R$ 11 bilhões. As prefeituras usam o Judiciário como agência de cobrança de luxo. No final de cada exercício, o prefeito envia milhões de processos para a cobrança de dívidas incobráveis. Se não fizer, será responsabilizado perante o Tribunal de Contas por improbidade administrativa. Se houver cobrança de taxa das prefeituras, que hoje são isentas, o Judiciário passa a gerar recursos.
ConJur — O prefeito é obrigado a fazer isso?
Nelson Calandra — Sim, ele é obrigado. Essa é uma falha que tem que ser corrigida. Nas execuções fiscais, não existe uma fase prévia de cobrança. Findou o exercício, manda tudo para o Poder Judiciário. Servimos apenas para respaldar a atividade do Executivo, que deixou de cobrar o que era devido. Já que não precisa gastar um tostão para propor uma ação, prefere cobrar judicialmente. O Estado, se tivesse que pagar para demandar, ia pensar duas vezes antes de ingressar com recurso. Hoje é muito mais fácil um procurador apresentar um recurso do que justificar para o superior dele por que não vai recorrer. Essa é uma realidade brasileira, não só no estado de São Paulo. É muito mais fácil demandar do que solucionar problemas.
ConJur — As ações coletivas não são uma maneira de reduzir o números de processos, tornar os julgamentos mais céleres e aumentar a jurídica?
Nelson Calandra — A ação coletiva é a grande saída, principalmente para assuntos ligados ao funcionalismo público. Mas é preciso cuidado porque todo instrumento jurídico tem um pouco de remédio e um pouco de veneno. Ações coletivas podem ser usadas para destruir governos e pessoas. A polêmica ação proposta pelo Ministério Público Federal contra a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, é um exemplo. A ação deveria ter sido proposta pelo MP estadual, nunca pelo MPF. É preocupante a manipulação do coletivo e a subtração de competências. A única maneira de se ter uma vida democrática é manter os estados federais autônomos e independentes, como está escrito na Constituição Federal. Não podemos acender todos os holofotes sobre o governo central, sobre a Justiça Federal ou sobre a Polícia Federal e esquecer que temos instituições estaduais. Se há erros e errados no âmbito dos estados, nós temos que eliminá-los. Eu me preocupo muito quando vejo o ministro Gilmar Mendes traçar o retrato do que encontra pelo país. As irregularidades por ele encontradas não são generalidades, esse não é o retrato do Brasil.
ConJur — Mas expor os problemas dos tribunais não é uma forma de dar transparência ao Judiciário, assim como mostrar o que está sendo feito para resolver essas irregularidades?
Nelson Calandra — Com a internet, a força da informação é muito maior. Ela se espalha muito rápido. A divulgação das irregularidades pode passar a impressão de que o Judiciário brasileiro é todo irregular. Existem problemas e eles devem ser corrigidos sim, mas isso não acontece em todos os estados. Temos que apurar e punir os responsáveis dentro daquilo que a Constituição e as leis do país desenham, mas não podemos imaginar que o nosso Brasil é um país aborígine, cheio de falcatruas, berço de ladrões. Todo esse debate é válido, mas é como o samba. Não pode ter uma nota só. Pode até ser bonito o samba de uma nota só, mas haverá outras belezas quando outras notas forem apresentadas. Na medida em que se escancara o problema, como é que ficam os homens e mulheres que trabalham honestamente?
ConJur — Qual deveria ser a posição do CNJ, então? Identificar as irregularidades e não divulgá-las?
Nelson Calandra — A divulgação das irregularidades é boa e deve ocorrer, mas é preciso divulgar também as boas coisas que acontecem. Tenho colegas no Amapá que descem o rio de navio em uma viagem que dura 30 dias, comendo pão com mortadela, tomando picadas de mosquito, pegando febre amarela no meio do caminho para atender os jurisdicionados. Isso existe! Temos que falar das virtudes para transmitir a ideia de que a Justiça não é só doença. É cura também.
ConJur — Como é a relação do Judiciário de São Paulo com o CNJ? Aparentemente há resistência em aceitar o controle externo do Judiciário. É isso mesmo?
Nelson Calandra — Eu posso dizer a minha opinião. Sempre fui contrário à existência do Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão não é próprio dos Estados federais. Serve apenas para os Estados unitários, onde cabe a ele fazer a interligação entre o Executivo, o Judiciário e o Parlamento. O meu inconformismo com o CNJ precede a Emenda Constitucional 45. A minha irresignação em relação ao conselho decorre, em parte, da sua arquitetura. Há apenas duas cadeiras para a Justiça Estadual: uma para juiz e uma para desembargador. A Justiça que realmente faz o atendimento por atacado para toda a população é colocada em uma posição de subordinação à Justiça Federal. As cadeiras para a Justiça Estadual deveriam ser majoritárias. Da forma como está, os conselheiros advindos da área federal ficam na posição de corregedores da Justiça Estadual. Isso não é adequado, mas é passível de ser corrigido.
ConJur — Como o senhor avalia o trabalho que o CNJ tem feito, como os mutirões carcerários, as inspeções nos estados, o estabelecimento de metas?
Nelson Calandra — É um trabalho pioneiro, que tenho acompanhado desde a sua criação. Mas falta maior cuidado com a Justiça Estadual. Ocorreram sim dificuldades de contato entre o CNJ e o Tribunal de Justiça de São Paulo. O conselho não observou determinadas regras de diplomacia em relação à comunicação. Se eu, que sou integrante do tribunal, quero requisitar informações ao chefe de outro Poder, tenho que fazer isso por meio do presidente da corte. Houve a requisição de informações por parte de conselheiros isoladamente, colocando o presidente do TJ de São Paulo em uma posição de subordinação. Com isso, surgiram alguns estremecimentos e o TJ respondeu por meio de sua assessoria, que tem magistrados tão qualificados quanto aqueles que pediram as informações. Alguns conselheiros se sentiram ofendidos com isso.
ConJur — Esse desconforto já foi superado?
Nelson Calandra — Já foi completamente superado.
ConJur — A Justiça de São Paulo vai conseguir cumprir a Meta 2 do CNJ, ou seja, julgar todos os processos distribuídos até 2005?
Nelson Calandra — Nós temos nos esforçado para cumprir as metas do CNJ. Não sabemos nem quando foi a última vez que saímos de férias, o que é altamente censurável, mas é o que acontece. E quando tiramos férias, é para zerar o atraso. Férias de juízes são diferentes das de outras categorias profissionais. Todos os casos que vemos ficam registrados na cabeça. Mesmo fora do trabalho, o juiz está pensando como vai resolver aquela questão. Além disso, vivemos muito premidos por estatísticas. Antes até da existência do CNJ, o juiz que atrasava era chamado para se explicar na Corregedoria de São Paulo e não podia ser promovido. O desembargador que atrasava tinha o nome publicado na primeira página do Diário Oficial, que a gente chamava de coluna social. Ninguém queria parar na coluna social.
ConJur — Mas o que o tribunal está fazendo para cumprir a Meta 2? Aumentou a carga horária dos juízes, agendou mutirões?
Nelson Calandra — Nós já fizemos diversos mutirões. O problema é que a demanda é ciclópica. Ou seja, o governo mexe a caneta, faz um plano econômico e, da noite para o dia, temos um milhão de processos a mais na nossa contabilidade. Agora, vão mudar as regras do ICMS. Isso vai gerar outro milhão de processos. O que o tribunal tem feito? Os magistrados pedem férias e elas são negadas porque não tem ninguém para colocar no lugar. Temos que trabalhar diuturnamente nisso, de segunda a domingo. É isso que nós fazemos. O Judiciário de São Paulo funciona de segunda a domingo. Para o público também, no esquema de plantões. Cumprimos plantões sem ninguém para ficar no nosso lugar durante a semana. Resultado: trabalhamos no sábado, no domingo, feriados e também durante a semana toda. Lógico que nesses plantões de sábado, domingo e feriados sempre há um revezamento entre os desembargadores. Mas temos trabalhado no limite das nossas forças. Há colegas que optaram por trabalhar nos casos mais repetitivos para baixar o estoque. A partir da deliberação do CNJ, estamos trabalhando nos processos mais antigos. Independentemente de ter casos mais simples, que nós poderíamos resolver rapidamente.
ConJur — A Meta 2 chegou a interferir na rotina dos juízes?
Nelson Calandra — Eu já zerei a minha distribuição de 2005 e agora estou zerando a minha distribuição de 2006. Isso não quer dizer que eu não tenha feito 2006, 2007, 2008 e 2009. A primeira coisa que fiz foi separar o que era antigo e fazer o que era repetido.
ConJur — Mas o senhor, como presidente da Apamagis, não fica afastado das funções do tribunal?
Nelson Calandra — Eu tenho esse direito mas, num primeiro instante, achei que não era conveniente me afastar. Além do que fiquei emocionado com a situação daquelas pessoas que estavam aguardando julgamento. Se eu devolvesse meu acervo, as pessoas não teriam um julgamento tão breve. Desde março, resolvi me afastar do tribunal para acompanhar as sessões do CNJ que acontecem no mesmo dia da minha sessão na Câmara. Ainda assim, continuo trabalhando sábado, domingo, feriado, de noite.
ConJur — A ConJur entrevistou o juiz Ricardo Nascimento, presidente da Ajufesp (Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso), e ele reclamou do excesso de controle sobre os juízes, feito pelo Conselho da Justiça Federal, pelo CNJ e pela Corregedoria do tribunal. Há também essa reclamação entre os juízes e desembargadores na Justiça Estadual?
Nelson Calandra — No começo da entrevista, quando falei dessa pedrinha chamada controle externo — que não é muito externo, é quase interno —, nós falamos um pouco sobre federação. Muitos juízes são cobrados pelo CNJ de informações sobre ações que também são reclamadas em outras Corregedorias. O juiz é obrigado a informar a Corregedoria e também o CNJ. Dupla informação, dupla obrigação. Com o volume de trabalho que temos, sobra pouco tempo para repassar tanta informação. O CNJ também se tornou uma grande instância de reclamações contra os juízes. Muitas dessas não estão ligadas à prestação jurisdicional. Pessoas que contratam o advogado e perdem a causa, reclamam no CNJ e na Corregedoria. Com isso, surgem obrigações de múltiplas satisfações a dar. Para a Justiça Federal, também. Acho até que o Conselho da Justiça Federal é quem tem que fazer o trabalho de CNJ para a Justiça Federal. Isso eliminaria uma etapa. Na Justiça Estadual deveríamos ter um órgão como o CJF. O CNJ se ocuparia só das patologias, de coisas gravíssimas.
ConJur — Para o senhor, o CNJ extrapola as suas atribuições?
Nelson Calandra — Todos os inconformados no âmbito dos cartórios batem no CNJ. Ou seja, ao mesmo tempo em que o Conselho se transforma em uma instância ordinária de reclamações sobre assuntos de cartórios de nota e registro civil, ele faz com que o Supremo se transforme em instância ordinária. Tudo o que ele faz é sujeito a revisão por parte do Supremo. De um lado, cria-se outra instância para reapreciar questões ligadas à administração ordinária dos tribunais. De outro, transformamos o STF em uma instância ordinária a rever deliberações do CNJ.
ConJur — O senhor considera que o TJ de São Paulo é transparente?
Nelson Calandra — O TJ de São Paulo fala, às vezes, com pouca eloquência para a população e para os meios jornalísticos. Isso implica no fato de que muitas atividades por eles desenvolvidas são pouco conhecidas. Uma das atividades que o Tribunal de Justiça de São Paulo fez, que acabou esquecida, foi contratar a Fundação Getúlio Vargas para verificar o que poderia ser feito para modernizar o seu trabalho. Depois, buscou implementar uma organização moderna, tal como recomendado pela Getúlio Vargas. Criamos uma secretaria de planejamento, uma secretaria de orçamento, uma secretaria de recursos humanos. Diversificamos a administração do tribunal, o que não existia antigamente.
ConJur — Mas na atual gestão, o contrato com a GV foi rompido, não é?
Nelson Calandra — O contrato chegou ao seu fim. A fundação cumpriu o seu papel de trazer sugestões para a modernização. Não podemos transferir a administração do tribunal para a Getúlio Vargas. Depois de nos darem as pistas, cabe a nós desenvolvê-las. O prosseguimento do projeto vai depender de recursos orçamentários e financeiros.
ConJur — O senhor considera que, no Judiciário de São Paulo, há o pensamento de que se presta um serviço público e que, por conta disso, deve se prestar contas para a sociedade?
Nelson Calandra — Nós vivemos muito fechados. Hoje vivemos num país em que há uma profusão de ordens de interceptação telefônica, a ponto de o presidente do Supremo ter a sua comunicação pessoal interceptada. Então, é evidente que, nesse quadro, muita gente se feche como forma de se proteger. São Paulo sempre teve uma tradição de ser um tribunal de grande eficiência, mas de grande discrição no seu comportamento. Talvez isso tenha nos mantido vivos durante mais de 100 anos. Há essa cautela de recato, de reserva, mas hoje a maioria dos nossos colegas sabe que a atividade judicial é pública, como sempre foi, e que deve prestar contas à sociedade. Agora, transparência absoluta não existe porque há assuntos que são até grafados com segredo de Justiça, solicitado pelas partes, requerido pelo Ministério Público, deferido pela lei, pela Constituição. A vida humana é como um vaso de cristal. Se for violada, dificilmente vamos reconstruir. Depois que a pessoa aparece lá no plim-plim às oito horas da noite, fica difícil ter um plim-plim de novo para restabelecer a vida dessa pessoa que foi destruída. Um colega de Rondônia foi preso e algemado junto com o presidente do TJ de lá. A denúncia sequer foi oferecida, mas a vida dele não foi restabelecida.
ConJur — Alguns juízes e advogados afirma que o número de denúncias ineptas é alto. Qual é a sua avaliação sobre a atuação do Ministério Público hoje?
Nelson Calandra — O Ministério Público é uma instituição essencial para uma vida democrática. Eu conheci o MP desprovido de poderes, com pouquíssimas pessoas para enfrentar toda a dificuldade de um país acordando para a vida democrática. Com a Constituinte de 88, houve grande expansão das atividades do MP, que é um ente essencial para um país que quer realmente evoluir, caminhar para frente. Mas há também em algumas áreas poderes que não passam por um crivo e são muito disseminados. Falta um foco. Por exemplo, nas ações civis públicas, o MP trabalha com focos abertos. Isso pode ser muito bom para a atividade investigatória, mas é muito ruim para a vida democrática. Por outro lado, entendo que a instituição deve ter poderes investigatórios. Não pode ser um protagonista mudo, surdo e amarrado dentro do processo. A única coisa é que o depósito da prova não pode ser o gabinete do promotor. Tem que ser no inquérito policial.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


