Judiciário e imprensa mal se falam e mal se entendem
14 de novembro de 2005, 9h33
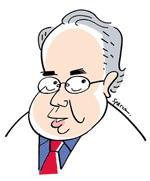 Spacca" data-GUID="manuel_alceu.png">O Judiciário é hoje o maior manancial de notícias para a imprensa. É por seus corredores que trafegam os problemas do dia-a-dia dos brasileiros e as grandes questões sociais da economia, dos negócios e da política.
Spacca" data-GUID="manuel_alceu.png">O Judiciário é hoje o maior manancial de notícias para a imprensa. É por seus corredores que trafegam os problemas do dia-a-dia dos brasileiros e as grandes questões sociais da economia, dos negócios e da política.Mas há um problema: as relações entre a imprensa e a Justiça andam precárias. “A imprensa não tem boa vontade com o Judiciário e, por outro lado, o Judiciário não sabe se explicar”, sintetiza o advogado Manuel Alceu Affonso Ferreira, advogado do Grupo Estado, em entrevista à equipe da revista Consultor Jurídico.
O advogado critica com igual intensidade os abusos de juízes e de jornalistas. Narra um caso exemplar de desrespeito pela vida, quando uma emissora colocou em risco uma criança seqüestrada e dispara seus torpedos contra o juiz que mandou recolher o livro Na Toca dos Leões.
Manuel Alceu oferece idéias que podem a ajudar a quebrar o gelo entre as partes. Sugere a criação de foros de convivência entre imprensa e Judiciário para que digam o que quiserem um do outro, e defende a promoção de cursos para entrosar a linguagem jurídica no mundo jornalístico. “Muitos juízes estão convencidos da necessidade de se expor e mostrar à coletividade que não são super-homens, nem anjos barrocos que ficam adornando as igrejas, e sim, que são gente comum”, afirma o advogado.
Outra face da relação entre comunicadores e julgadores se revela do lado de dentro dos tribunais, quando questões envolvendo a imprensa são levadas a julgamento. Segundo, Manuel Alceu “o grande embate da liberdade de imprensa diz respeito aos direitos da personalidade, não exatamente com a honra, mas com a privacidade. Hoje em dia, esse é o grande conflito do direito de imprensa e o grande desafio dos juristas: a conciliação de direitos”.
Um dos maiores especialistas do país em questões jurídicas relacionadas ao exercício do jornalismo, Manuel Alceu formou-se em 1967 pela PUC de São Paulo. Aos 62, costuma sempre andar com uma bengala à mão. “Tive de usar bengala quando sofri uma contusão em uma de minhas corridas matinais no Parque do Ibirapuera” — explica — “depois que sarei decidi continuar usando. As bengalas passaram a ser um adorno útil, sem falso trocadilho uma muleta mesmo, dando-me maior sensação de segurança e com mil utilidades suplementares que venho descobrindo aos poucos”. Sua coleção já conta com oito bengalas de variados estilos.
Participaram da entrevista na sede da ConJur, em São Paulo, os jornalistas, Márcio Chaer, Rodrigo Haidar, Adriana Aguiar, Leonardo Fuhrmann, Maria Fernanda Erdelyi e Priscyla Costa.
Leia a entrevista
ConJur — O Judiciário se fecha em si ou é a imprensa que não lhe dá atenção?
Manuel Alceu — A ausência de diálogo é culpa dos dois lados. Há entre eles um clima de desconfiança recíproca que aos poucos vai desaparecendo, mas em velocidade muito inferior àquela que seria conveniente. Nesse sentido, li pela primeira vez, nos jornais, os candidatos à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo apresentando os seus programas administrativos. Aliás, seria bom que esses candidatos se dispusessem a participar de um debate televisionado, mediado pelo presidente da OAB. Por que não? com entusiasmo, também vi iniciativas do judiciário de promover cursos, para jornalistas, destinados a ensiná-los o exato significado dos termos judiciais. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por iniciativa do desembargador Carlos Alberto Lenzi, oriundo do Quinto Constitucional e meu ex-companheiro no Conselho Federal da Ordem, editou um manual desse tipo e o distribuiu para a imprensa. Estou há muito convencido de que a imprensa não tem boa vontade com o Judiciário, provavelmente porque não consegue entendê-lo. Por outro lado o Judiciário não sabe se explicar. Sugiro sempre que se criem foros de convivência entre imprensa e Judiciário para que digam o que quiserem um do outro. Essa catarse ajudaria a remover dúvidas e superar incompreensões.
ConJur — O senhor acha que a mudança de atitude na relação entre jornalistas e juízes passa também pela discussão da reforma da linguagem jurídica?
Manuel Alceu — Com relação ao “juridiquês”, tenho uma posição intermediária. Realmente é preciso facilitar o entendimento do direito e de sua aplicação aos casos concretos. Mas, ao mesmo tempo, existem termos jurídicos dos quais não se pode abdicar, sob pena de sacrificar as idéias e conceitos neles embutidos. Como posso substituir, por exemplo, “comoriência”, “prescrição em concreto”, “preclusão recursal lógica”, “inépcia substancial” etc? Cada atividade humana tem o seu palavreado exato, que é insubstituível. Assim também ocorre com o direito. Em suma, a reforma da linguagem jurídica será feita, para simplificá-la, naquilo que não prejudique a exatidão daquilo que se quer dizer. Ademais, o “juridiquês” não deve ser confundido com o enfatuado, com a demonstração de falsa erudição, com o rebuscado. No meio e no razoável é que se buscará a solução.
ConJur — Até para não empobrecer o campo das idéias, não é?
Manuel Alceu — Evidente. A virtude está no meio, já diziam os romanos. Em tudo na vida, menos no amor, a virtude está no meio…
ConJur — Ao longo da história, houve uma evolução do relacionamento da imprensa com o Judiciário e uma evolução do volume de processos envolvendo essas duas instituições. Como se deu esse processo?
Manuel Alceu — Foi exatamente no ano da promulgação da Lei de Imprensa (Lei 5.250 de 1967) que eu passei a acompanhar esse relacionamento. E nele vivenciei dois momentos absolutamente distintos. De 1967 a 1988, com a nova Constituição, em cada dez casos em que eu era chamado, nove eram ações criminais. De 88 para frente, com a constitucionalização do dano moral, essa proporção se inverteu radicalmente. Hoje, de cada dez processos relativos à imprensa, nove são civis e um é criminal.
ConJur — Pode-se falar em uma indústria do dano moral?
Manuel Alceu — É, hoje isso virou uma coisa realmente pesada. Sou advogado de uma empresa jornalística [Grupo Estado]. Temos atualmente em andamento alguma coisa em torno de 260 ações. Cerca de 90% delas são de danos morais. Deixou-se de lado a ação criminal, porque ela estava mais sujeita a acidentes de percurso, como a prescrição. As queixas-crime e as ações penais públicas não seguiam em frente, raramente chegavam a uma decisão final de mérito. Ao contrário, as ações civis de dano moral não se sujeitam a isso e, agora, menos ainda, porque se firmou nos tribunais, majoritariamente pelo menos, o entendimento de que o prazo trimestral de decadência para a propositura da ação indenizatória não prevalece mais. O grande problema que agora surge é o da quantificação do dano, e nisso a jurisprudência varia muito. A lei de imprensa tem lá os seus parâmetros, mas, apesar disso, a dosagem da indenização fica subordinada ao critério subjetivo do juiz que decreta a procedência da ação.
ConJur — Existe uma discussão sobre esses parâmetros. Quais são eles?
Manuel Alceu — A lei de imprensa estabelece que o jornalista, pessoa física, responderá por aquelas indenizações que vão até 20 salários mínimos e que as empresas responderão até dez vezes mais. Essa é a regra geral nos casos de imprudência, negligência ou omissão, que são modalidades de culpa. Portanto, segundo a própria lei, em havendo dolo esses limites não serão observados. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que esses limites monetários máximos não devem ser observados mesmo nos casos de culpa, porque a Constituição revogou a lei. O STJ sustenta também que as ações não estão sujeitas ao prazo de três meses de decadência, porque a Constituição não estipulou esse prazo. Aí, a meu ver, erradamente, porque a Constituição tampouco estipulou prazo para o Mandado de Segurança, que também ela contempla (artigo 5°, LXIX), e nem por isso a lei ordinária que regula esse tipo de ação (a lei 1.533, de 1951), deixou de fixar um prazo decadencial, de 120 dias, para impetrá-lo. No entanto, quanto aos mandados de segurança, jamais tribunal algum afirmou inconstitucional a fixação dos 120 dias para ingresso em juízo. Noutras palavras, se ambos esses direitos (o de impetrar mandado de segurança e o de cobrar indenização por dano moral) têm previsão constitucional expressa, e se para nenhum deles a constituição fixou prazo de exercício, por que o legislador ordinário pôde fazê-lo para a primeira hipótese e não poderia quanto à segunda?
ConJur — Algumas punições previstas na Lei de Imprensa podem inviabilizar as empresas de comunicação, não é verdade?
Manuel Alceu — Sim. A Lei de Imprensa prevê que, para recorrer da sentença que o condene ao pagamento de indenização, a empresa jornalística ou o jornalista seja obrigado a depositar o respectivo valor. Isso inclusive já levou a casos conhecidos, como o do jornal Debate, de São José do Rio Pardo. A empresa jornalística não tinha como recorrer. Teria que vender o jornal, e por um ótimo preço, para poder depositar o valor fixado na sentença e assim conseguir apelar contra a sentença de primeira instância. Nós mesmos tivemos um caso recente em Alagoas, em que o tribunal local resolveu não conhecer da apelação que interpusemos porque não havíamos feito o depósito da condenação. A coisa foi indo, nosso recurso foi parar no STF e o ministro Eros Grau proferiu um despacho confirmando o acórdão do Tribunal de Alagoas, ou seja, confirmando que o nosso recurso não deveria ter sido apreciado no mérito. Entramos com agravo, o ministro Eros reconsiderou a anterior decisão e mandou processar o Recurso Extraordinário. Estamos aguardando.
ConJur — E a questão da regressão da pena para o jornalista?
Manuel Alceu — É da pena civil que vocês estão falando, ou seja, da possibilidade de que a empresa jornalística, caso condenada, vá cobrar do jornalista o valor indenizatório pelo qual terá que responder. Isso é outra coisa que impressiona nesse assunto de responsabilidade civil de Lei de Imprensa. A lei é textual (artigos 49, parágrafo 2°, E 50) ao mandar que a ação seja proposta contra a empresa jornalística, a qual, caso condenada, poderá regredir contra o jornalista. O STJ, a meu ver, desprezou o texto expresso da lei ao estabelecer, na sua súmula 221, que a ação civil poderá ser intentada contra a empresa jornalística diretamente e/ou o jornalista pessoa física, ou os dois juntos. Se é certo que, de fato, ambos são responsáveis pela reparação civil, também é fato que, nos citados dispositivos, a lei literalmente adotou o sistema da responsabilidade sucessiva, impondo que primeiramente seja a ação movida contra a empresa para, somente depois, se condenada for, possa ela regredir contra o seu repórter ou colaborador.
ConJur — A súmula não obriga que se processe os dois?
Manuel Alceu — Não. O que a súmula fixou é solidariedade passiva, ou seja, o ofendido pode processar aos dois (empresa jornalística e jornalista) ou somente a um deles. Nessa súmula, a palavra chave é o ‘tanto’ (“…tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de comunicação”.) Existem pessoas, supostamente ofendidos, que querem processar exclusivamente o jornalista, quem assinou a matéria. Não querem acionar a empresa jornalística, para com isso não criar antipatias com o grupo jornalístico inteiro. Isso é muito comum, é uma conveniência puramente política, ou expressão de uma mera animosidade pessoal, sem qualquer outra explicação possível. Evidentemente, insisto, isso é para a responsabilização civil, não para a criminal, porque nesta necessariamente a persecução se fará contra a pessoa física autora do escrito.
ConJur — Quem o senhor acha que deve responder?
Manuel Alceu — Quando eu comecei a trabalhar para o Jornal [O Estado de S. Paulo] recebi a seguinte orientação: “Aqui nós não regredimos contra ninguém. Nós preservamos o jornalista”. Essa generosa política empresarial tem indiscutivelmente os seus méritos, porque impede o acovardamento das redações diante do risco de ter o jornalista que suportar pessoalmente o pagamento das indenizações. Mas, ao mesmo tempo, propicia a essas pessoas físicas uma maior dose de ousadia e, por vezes, de imprudência. Aliás, infelizmente não se criou na imprensa brasileira o salutar hábito da consulta prévia, anterior á divulgação, aos departamentos jurídicos das empresas jornalísticas, ao menos no tocante ás matérias de maior impacto, do jornalismo investigativo, ou de denúncia. Essa revisão jurídica, equivocadamente, tem sido confundida com uma espécie de censura prévia exercida pelos advogados contra os jornalistas, o que certamente não é, mas mera atividade acautelatória de, por exemplo, mudar-se um verbo, ou o seu tempo, reescrever-se um título etc. Um filme famoso estrelado por Paul Newman, ‘ausência de malícia’, abordou com grande acuidade essa relação entre uma repórter e o advogado do jornal para o qual ela trabalhava.
ConJur — O senhor conhece alguma empresa que já entrou com ação regressiva contra o jornalista?
Manuel Alceu — Eu não sei se isso é política da empresa, mas eu conheço um único caso específico da TV Globo, onde a emissora trouxe à lide, por sua iniciativa, aquele repórter que hoje está em Londres, o Caco Barcellos. Pesando prós e contras, entendo não ser essa uma boa política para a empresa jornalística. Quem não regride está certo, porque não cria um clima de medo e timidez, incompatível com o melhor jornalismo. Para escapar desse risco pessoal, o jornalista teria que falar apenas da flora e da fauna, coisas desse tipo, anódinas e de risco igual a zero.
ConJur — Se um jornalista faz uma notícia baseada em uma sentença judicial, em uma denúncia do Ministério Público, ele pode ser processado pelo teor da notícia?
Manuel Alceu — Não, nesse ponto a lei é expressa. O artigo 27 da Lei de Imprensa, em dois de seus incisos, o IV e o V, diz que não constituem abusos no exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de informação a divulgação de sentenças ou de alegações produzidas em juízo pelas partes e seus procuradores.
ConJur — O que é um julgamento subjetivo, mas existe.
Manuel Alceu — Existe, é evidente. Atualmente, o grande embate da liberdade de imprensa é com os direitos da personalidade. Não com a honra apenas, como era usual, mas hoje também e principalmente com a privacidade. Uma questão séria é que o novo Código Civil regrou esses direitos de imprensa e diz textualmente, em mais de uma passagem (artigos 12 e 21) que o juiz poderá impedir a divulgação de matérias que agridam aos direitos da personalidade, protegendo a inviolabilidade da privacidade. Aí reside um perigo para o qual a imprensa ainda não atentou. A Constituição diz que é direito fundamental das pessoas reagir contra ilegalidades ou impedir a sua consumação (Artigo 5°, inciso XXXV). Nisso baseado, o Código Civil estabeleceu a nova regra. É evidente, que o Poder Judiciário tem de ter o poder de acautelar lesões, impedindo que elas ocorram. Só que no caso da imprensa, em função de outros comandos constitucionais concorrentes, ligados à liberdade de comunicação social, esse poder acautelador e preventivo deverá ser reservado aos casos teratológicos. Por exemplo, impedir-se a respectiva divulgação quando se sabe, com absoluta certeza, que na edição do dia seguinte um jornal divulgará o segredo da bomba atômica caseira, para que todos os seus leitores possam fabricá-la em poucas horas. Portanto, tão-somente nessas situações teratológicas, de imensa gravidade e enorme perigo, é que a prevenção impeditiva poderá funcionar. E, no campo dos direitos da personalidade, não consigo enxergar como essa teratologia poderia acontecer.
ConJur — Ou seja, a liberdade de imprensa não é um direito absoluto.
Manuel Alceu — Não, como aliás nenhum outro. É preciso conciliar. Esse é o grande desafio dos juristas: a conciliação de direitos fundamentais. A quantidade de livros que estão sendo publicados sobre esse tema é impressionante e honra o direito brasileiro. O ponto é exatamente esse: a conciliação entre os direitos da personalidade e os direitos da comunicação. É algo extremamente sério e delicado, a ser resolvido com o socorro da razoabilidade e da proporcionalidade. Cláudio Luiz Bueno de Godoy, juiz paulista que hoje é membro do Conselho Nacional de Justiça, publicou uma excelente obra sobre isso,de obrigatória referência e consulta.
ConJur — E a divulgação de um boletim de ocorrência?
Manuel Alceu — A Lei de Imprensa diz no mesmo artigo 27, inciso VI, que não constitui abuso da liberdade de expressão “a divulgação, a discussão e a crítica de atos e decisões do poder Executivo e seus agentes, desde que não se trate de matéria de natureza reservada ou sigilosa”. O boletim de ocorrência é um ato do poder executivo, da polícia judiciária, razão porque nada impede a sua publicação, desde que haja legítimo interesse jornalístico e público nessa divulgação.
ConJur — O senhor escreveu um artigo para Folha de S.Paulo onde afirma que o país se livrou da censura das armas e caiu na censura judicial, numa referência à decisão que mandou recolher o livro [Na Toca dos Leões] do Fernando Morais. O senhor sente que a Justiça é usada como meio de censura, pela forma ou pela quantidade de ações contra jornais e jornalistas?
Manuel Alceu — A questão do livro de Fernando Morais, é um caso emblemático, porque a questão não era teratológica, não era média, nem mínimamente teratológica. Era apenas ridícula. A apreensão que se fez desse livro é ridícula. Debito essa ordem de apreensão — que por sinal jamais chegou a ser cumprida — ao fato de o requerente da medida [deputado Ronaldo Caiado (PFL-GO)] ser uma figura influente no estado de Goiás. A verdade, no entanto, é que o próprio juiz foi, aos poucos, suavizando a ordem de apreensão até que, finalmente e como não poderia deixar de ser, o tribunal goiano veio a cassar a infeliz liminar. Até mesmo cheguei a argüir a suspeição do juiz que determinou a apreensão do livro. Eu custei a acreditar, mas tive que me render à evidência: recebi uma fita contendo a entrevista que aquele magistrado, o doutor Jeová Sardinha de Moraes, deu à TV Globo, quando então, respondendo à pergunta da repórter, o magistrado disse que “bom, eu tinha que mandar prender um trem desses”. E como a liberdade literária não pode ser tratada como o são as composições ferroviárias, enxerguei nesse tal ‘trem’ a confissão, pelo magistrado, de que para ele a causa estava pré-julgada.
ConJur — Bela fundamentação para uma sentença.
Manuel Alceu — É, “um trem desses”.
ConJur — Teve uma fase que estava na moda a questão de entrevista. O jornalista entrevista o Mário Covas, e ele diz que Orestes Quércia é ladrão. Aí o Quércia vai lá e processa o jornalista.
Manuel Alceu — Eu sempre defendi que a responsabilidade é do entrevistado. Aliás, existem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, uma delas, caso não me engane, lavrada pelo falecido professor Alfredo Buzaid. Ou seja, caso o entrevistado não tenha negado licença para a publicação da entrevista, nem sequer procedido à retificação da mesma em tempo hábil, presume-se que ele autorizou a publicação da entrevista e concordou com a fidelidade da reprodução.
ConJur — Não se aplica a responsabilidade objetiva?
Manuel Alceu — Não. E se for aplicada, a responsabilidade objetiva é do autor do escrito, isto é, do entrevistado, nunca de quem se limitou a entrevistá-lo. Você já imaginou se, pelas afirmações do entrevistado, e que são somente dele, sem nenhuma anuência ou participação do entrevistador, o jornal ou a emissora devessem responder? Seria o fim definitivo das entrevistas jornalísticas.
ConJur — E o direito de resposta?
Manuel Alceu — No Brasil, a imprensa escrita dá alguma atenção ao direito de resposta, estando com ela mais acostumada. Já o mesmo não acontece com a mídia eletrônica, para a qual o exercício da resposta, excetuado os períodos de campanha eleitoral, é algo totalmente estranho. Dá a impressão que o direito de resposta vale apenas para os jornais e revistas, não para as televisões e rádios. Nem a Constituição, nem a lei, criaram essa imunidade para a mídia eletrônica. A verdade é que ouvintes e telespectadores ignoram essa possibilidade da resposta, julgando-a restrita ao horário eleitoral gratuito e nada mais. Disso, temos um caso antológico no Brasil, que é o caso da resposta que, há muitos anos, o falecido Leonel Brizola exerceu na Rede Globo. Ele chegou a responder ocupando espaço na televisão. Mas, de lá para cá, não consigo me lembrar de nenhum outro exercício do direito de resposta na televisão.
ConJur — No pedido de direito de resposta, o que acontece quando o jornal responde a réplica do leitor ou da fonte, como tréplica?
Manuel Alceu — Ocorrendo, ao pé da resposta publicada, uma “n.da r.” (nota da redação) a publicação poderá ser considerada sem efeito — portanto devendo ser repetida —, e de qualquer forma assegura-se ao respondente o direito a nova resposta, agora replicando a “n. da r.”
ConJur — E é previsto que seja no mesmo local com a mesma formatação do texto do ofensor?
Manuel Alceu — Sim. Nos jornais é assegurado o mínimo de 100 linhas, no mesmo local e com idêntico destaque, de caracteres tipográficos idênticos. Relativamente á mídia eletrônica, o tempo mínimo assegurado será o de um minuto, independente do tempo que a transmissão tiver consumido.
ConJur — Alguns jornais ou revistas costumam dar às respostas uma diagramação burocrática para tornar o texto pouco atraente. Isso se admite?
Manuel Alceu — Não. O direito de resposta consiste primeiro na publicação da resposta ou retificação do ofendido no mesmo jornal ou periódico, no mesmo lugar e em caracteres tipográficos idênticos ao escrito que lhe deu causa, em edição e dias normais. Isso em relação à imprensa escrita.
ConJur — Em um caso extrajudicial, um ofendido por uma reportagem minha manda uma carta e eu publico a resposta dele de livre e espontânea vontade, sem nenhum comentário. Mesmo assim cabe uma ação de indenização por danos morais?
Manuel Alceu — Sim, cabe, e nesse sentido a lei é textual (artigo 35). A lei todavia ressalva que na hora de quantificar a indenização, o juiz levará em conta o fato de você ter publicado a resposta, o que suaviza a indenização. Segundo a lei (artigo 29, parágrafo 3º) a propositura da ação de indenização contra o jornal, ou da ação penal contra o jornalista, extinguirá o direito de resposta. O problema é que a Constituição de 88, posterior à lei, assegura o direito de resposta ‘além’ do direito á indenização, o que tem gerado o entendimento de que o preceito da lei ordinária de 1967 não foi recepcionado pela superveniente Constituição. Ou seja, conforme essa leitura constitucional, a eventual propositura da ação, civil ou penal, pelo respondente, não lhe prejudicará o exercício da resposta, tornando sem efeito a regra do parágrafo 3º do artigo 29 da Lei de Imprensa.
ConJur — O senhor lembra de algum caso de direito de resposta na grande imprensa que chamou a atenção?
Manuel Alceu — O deputado Ibrahim Abi-Ackel (PP-MG), quando ministro da Justiça, foi acusado, em sucessivas edições do Jornal Nacional, de favorecer o contrabando de jóias e diamantes. Então, fiquei imaginando, e isso foi objeto de muitos comentários entre os que atuavam no direito da comunicação social, que se o Abi-Ackel resolvesse responder, ele ocuparia várias e sucessivas edições do Jornal Nacional, pelo que a Globo lucraria se abandonasse o assunto.
ConJur — Pelo que soubemos, o senhor patrocina uma ação indenizatória, contra a TV Globo, decorrente da divulgação de um seqüestro enquanto o mesmo ocorria. Isso é verdade?
Manuel Alceu — Sim. Patrocino uma ação indenizatória contra a TV Globo, cumulada com pedido de divulgação, na mesma emissora, da íntegra da sentença condenatória. É um caso de contraparentes meus. Um menino de 14 anos e seu pai transitavam por uma pequena estrada próxima ao clube Helvétia, em Campinas, quando foram seqüestrados. Jogados então no porta-malas do automóvel, o pai instruiu a criança para que omitisse, aos bandidos, o seu nome de família (Matarazzo), usando apenas o sobrenome da mãe, para com isso evitar que o nome Matarazzo fizesse com que os seqüestradores resolvessem exagerar no preço do resgate. E assim o menino fez, escondendo dos bandidos o verdadeiro nome. Quatro dias depois, o pai é libertado para buscar dinheiro. Estava estabelecido que o resgate seria de R$ 150 mil. Na saída deram até um tiro na perna dele para dizer que a ameaça era séria e que matariam a criança caso não recebessem o dinheiro. O pai conseguiu chegar a Campinas, todo ferido, foi atendido, e começou a providenciar o pagamento do resgate. Quando ele conseguiu reunir todo o dinheiro, recebeu a notícia de que a Globo iria divulgar o seqüestro, recebendo então a visita do repórter encarregado da matéria. Ele pediu muito para que a reportagem não fosse levada ao ar enquanto o filho dele não estivesse libertado. Apelou até a pessoas influentes junto à Globo, mas a emissora recusou. A família tentou de tudo para que a Globo não veiculasse. Em vão. Todos os pedidos foram recusados por quem à época era o diretor de jornalismo da Globo, Evandro Carlos de Andrade. A chamada do Jornal Nacional foi algo assim: “Matarazzo é seqüestrado ….”. Todas as outras emissoras, sem uma única exceção, mantinham-se no pacto de silêncio total sobre o assunto. Os seqüestradores, como era de se esperar, assistiram à reportagem e, verificando que a criança mentira sobre o nome de sua família, o chefe deles judiou bastante do menino, sonegando-lhe alimentação e água, e acorrentando-o a uma árvore. Felizmente, apesar dessa bárbara crueldade jornalística, no final a criança foi libertada. Aí eu entrei com uma ação contra a Globo. A emissora foi condenada a pagar uma indenização à família baseada no custo publicitário dos jornais da Globo que divulgaram o seqüestro. O juiz não nos concedeu a publicação da sentença condenatória, mas perseguindo esse objetivo recorremos, e o caso agora se acha no tribunal de justiça, aguardando o julgamento das apelações interpostas, a nossa e a da Globo.
ConJur — Os seqüestradores podiam ter matado o menino porque ele mentiu…
Manuel Alceu — O fato é que o menino correu o risco de ser morto por uma perversa irresponsabilidade jornalística. Certa feita, se não me falha a memória quando do seqüestro do sr. Luiz Salles, escrevi um artigo sobre o assunto no O Estado de S. Paulo, chamando a atenção para o fato de que nenhum veículo de comunicação tinha o direito de fazer periclitar a vida de ninguém. A partir de então, na excelente tradição que até hoje é mantida pela consciência ética de sua direção, o Estadão não mais divulgou seqüestros, enquanto em andamento. A preocupação primeira tem que ser com a vida do seqüestrado. E a Globo veio se defender invocando uma norma do manual interno de redação… que manual interno pode superar a Constituição, a dignidade das pessoas e a preservação da vida? Sofri na própria carne com esse assunto. Há muitos anos, tive um irmão seqüestrado em Salvador, Bahia, que permaneceu encarcerado por vários dias em uma jaula (isso mesmo, uma jaula!). Na ocasião, fui o encarregado de lidar com a imprensa. Para isso, diariamente recebia, em um salão de hotel que alugamos, os jornalistas de todos os veículos, informando-os sobre a evolução do episódio, o primeiro que por lá acontecia. A imprensa foi corretíssima, nada publicando até que, por obra do Senhor do Bonfim, meu irmão Willy tivesse sido libertado.
ConJur — Esse caso da Globo ilustra bem como o jornalismo se coloca em determinadas situações. Quem é mais arrogante, a imprensa ou a Justiça?
Manuel Alceu — A arrogância da imprensa é mais ostensiva, é mais presente e pode causar, através da divulgação a toda a coletividade, mais malefícios. Na verdade, choca mais do que a arrogância do Judiciário. De qualquer modo, venha de onde vier, a arrogância é detestável.
ConJur — O jornalista que tem acesso a um processo que corre em segredo de Justiça e noticia esse processo deve responder criminalmente como o servidor ou a pessoa que lhe entregou o material?
Manuel Alceu — Não. Tenho um caso concreto. O Estadão uma vez divulgou notícia sobre uma ação de filiação ilegítima envolvendo o político Newton Cardoso, à época vice-governador de Minas. O juízo oficiou ao jornal mandando que suspendesse qualquer noticiário sobre o assunto. Aí então impetrei mandado de segurança ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o concedeu. A tese vencedora foi a de que nada impedia a divulgação pelo jornal, por não haver prova alguma de que, para elaborar a notícia, o jornalista tivesse tido que devassar os autos.
ConJur — E se ele tivesse tido acesso aos autos?
Manuel Alceu — Aí eu acho que sim, aí ele seria conivente, se todavia, para efeito de responsabilização, ele estivesse ciente do sigilo decretado.
ConJur — Quem tem a responsabilidade de proteger o sigilo?
Manuel Alceu — É o juiz, o escrivão, o funcionário da Justiça. Se o jornalista participou da devassa dos autos é outra coisa, mas eu não conheço casos assim.
ConJur — Nos Estados Unidos uma jornalista do The New York Times deu uma informação coberta por sigilo por um motivo torpe. O senhor acha que mesmo nestas circunstâncias o jornalista não tem responsabilidade pelo que publica?
Manuel Alceu — Se publicou de má-fé ou atendendo a interesses de empresários, o jornalista deve ser responsabilizado. É evidente que agiu dolosamente. Mas se apenas recebeu a informação, verificando então sobre a sua seriedade e fidedignidade, não.
ConJur — O sigilo da fonte seria como o que há entre advogado e cliente?
Manuel Alceu — É mais ou menos isso, e é exatamente por isso que essas “invasões”, amparadas ou não por decisão judicial, me causam indignação. O elemento essencial na relação entre o advogado e o seu cliente é o resguardo do sigilo entre eles, dos documentos que são confiados à guarda do advogado, das confidências do cliente, da correspondência entre eles e dos diálogos que mantêm.
ConJur — O senhor foi juiz eleitoral. A Justiça Eleitoral dá um tratamento muito rigoroso para a relação da imprensa com os candidatos. Não se pode citar um candidato sem citar o outro, por exemplo.
Manuel Alceu — Relativamente à Lei Eleitoral eu tenho muitas objeções pelas inconstitucionalidades que o legislativo comete na elaboração da lei. Algumas delas até já levadas a juízo. Por exemplo, entrei com uma ação da Rádio Eldorado contra a disposição da Lei Eleitoral que a proíbe de, a partir do dia 1° de julho do ano eleitoral, emitir opinião sobre candidato ou partido. Mas infelizmente perdi essa ação. Para a minha maior decepção, o Judiciário não agiu com a coragem e ousadia que se esperava. A constituição é clara, dizendo que a liberdade de informação jornalística será respeitada em qualquer veículo. Eu sei que se a família Marinho colocar a rede Globo a serviço de um determinado candidato as suas possibilidades eleitorais crescem muito. Mas, como ainda outro dia disse o ministro Marco Aurélio, do STF — em um julgamento que eu assistia, durante a minha costumeira insônia, às 3 da manhã pela TV Justiça — preços desse tipo são costumeiramente pagos pela subsistência do Estado Democrático de Direito.
ConJur — O senhor não vê risco desses rigores exagerados da legislação eleitoral passarem para a legislação comum do dia-a-dia.
Manuel Alceu — Sim, porque se funciona no que há de mais democrático — que é a eleição —, por que não levar para os períodos não eleitorais? Eu temo sim. A legislação cercear a expressão é um fenômeno que me revolta.
ConJur — De dez ações de indenização contra a imprensa, quantas a imprensa perde?
Manuel Alceu — Projetando do meu escritório para o resto, a maioria é vencida pelos veículos.
ConJur — Dá para fazer uma estimativa do valor médio das condenações?
Manuel Alceu — Não dá. A variação é muito grande. Nós já tivemos casos de condenações de R$ 400 mil, mas outros em quantias muito menores. Depende bastante das especificidades do caso.
ConJur — As maiores condenações são em favor de juízes, não?
Manuel Alceu — Não para juízes, mas para autoridades públicas, em geral. No caso da Escola Base, por exemplo, a condenação média dos jornais girou em torno de R$ 250 mil. Mas o STJ, de maneira geral, avocou para si o reexame dos valores indenizatórios fixados para os danos morais. E o fez a partir de um caso no Maranhão, referente a um cheque sem fundo que ensejou uma indenização imensa.
ConJur — Isso não protege ilegalidades?
Manuel Alceu — Perigoso é o total subjetivismo na fixação do valor indenizatório. Outro dia um cliente meu teve um cheque indevidamente devolvido, um cheque que para ele, um homem de classe média, representava um valor expressivo. Entrei com a ação e o tribunal condenou o Banco Itaú a pagar R$ 30 mil a título de danos morais. Ora, essa indenização é ridícula para um banco daquele porte. Esse valor não o estimulará a mudar de comportamento na verificação dos cheques que contra ele são sacados, nem o incentivará a aprimorar os seus mecanismos de controle. O que podem, esses R$ 30 mil, representar como punição, ou fator de desestímulo para quem ninharia desse tipo não causa qualquer incômodo? Os acionistas e os administradores do banco não terão ciência dessa condenação. Ficará restrita, e mesmo assim se até lá conseguir chegar, a uma sub-gerência de menor escalão.
ConJur — O senhor acha que os tribunais têm a mesma visão que o Supremo com relação aos processos movidos contra a imprensa?
Manuel Alceu — O Supremo tende a ser mais liberal, graças a uma pregação constante de um homem que tem sido muito maltratado pela imprensa, o ministro Marco Aurélio. E a ele, que já contava com a parceria do ministro Celso de Mello — ministro que, no campo do direito de imprensa, tem atuado exemplarmente, proferindo decisões de fôlego e rara sensibilidade — agora se somaram figuras novas, nomeadas pelo atual governo, que também são da maior dignidade pessoal e jurídica. Carlos Britto, Eros Grau e Cezar Peluso estão entre eles.
ConJur — Saiu recentemente pesquisa da Associação dos Magistrados do Brasil onde os juízes, majoritariamente, indicaram que vêem no Supremo um tribunal comprometido e subordinado ao Poder Executivo.
Manuel Alceu — Não concordo com isso de maneira nenhuma. Pela própria natureza institucional, o supremo tem que ter visão política macro, de forma a enfrentar as questões maiores das políticas de governo e dos direitos fundamentais. Não há comprometimento ou subordinação do supremo ao poder executivo. Pensar assim é ignorar aquilo que, repetida e diariamente, o STF vem proclamando nos inúmeros julgamentos. Mesmo sem recorrer ao mais enfadonho diário oficial, basta que se assista às sessões plenárias do STF na TV Justiça para concluir pelo despropósito dessa conclusão. Que ‘comprometimento’ ou ‘subordinação’ pode haver no tribunal que a todo instante julga contra o governo federal e contra o partido que o domina?
ConJur — O senhor concorda que o Supremo passou de uma posição mais passiva para uma posição mais ativa, mudando regras com base na interpretação e novas construções jurídicas — com mudanças tão profundas quanto a produção de novas leis?
Manuel Alceu — Houve sim uma alteração no comportamento do supremo. E essa função criadora da jurisprudência deve ser respeitada. Afinal, como manda a lei de introdução ao Código Civil, deve o juiz, nas omissões da lei, recorrer aos princípios gerais do direito, à analogia e à eqüidade. O Supremo não tem compromisso com os desacertos do legislativo, quanto à Constituição, nem com os desacertos do executivo, quanto às políticas governamentais. O seu compromisso, único e soberano, é com o direito, e apenas com este.
ConJur — Temos hoje uma grande discussão sobre o Quinto Constitucional e o episódio que aconteceu recentemente no TJ paulista. Como o senhor está vendo esta situação?
Manuel Alceu — O Quinto tem sido bom para o Judiciário, graças a muitos excelentes nomes que, hoje no Tribunal de Justiça, dele provieram. Mas, desde o momento em que, com a alteração constitucional, as listas dos candidatos foram subtraídas à elaboração dos tribunais, o quinto passou a ser ruim para a advocacia, porque nisso se intrometeu um indesejável componente político. Para ser incluído nas listas, a luta política é imensa, por isso tornando ao quinto ‘deletério’, como neste próprio ConJur certa vez afirmou, com a inconteste autoridade moral e profissional que todos lhe reconhecem, o eminente advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes. Mas, a meu ver, não há dúvida em que, a teor da vigente Constituição, goste-se ou não da solução do constituinte, apenas a OAB, e ninguém mais, tem competência para elaborar as listas dos candidatos.
ConJur — O senhor concorda que a vaga no Quinto virou vaga nas chapas que concorrem nas eleições da OAB?
Manuel Alceu — (Silêncio…).
ConJur — Seu silêncio é gritante.
Manuel Alceu — É mesmo. Insisto em que o quinto tem sido bom para a justiça, porque, no geral, tem apresentado bons nomes, mas ele está sendo ruim para a advocacia. Por isso, deve ser repensado. O argumento do ‘arejamento’ dos tribunais já não mais procede. Conheço muitos juízes de carreira muito mais arejados do que eu, por exemplo, muito mais abertos às coisas do mundo. Essa idéia argumento do arejamento não mais se justifica. Tenho participado, com freqüência, das bancas de concurso para a magistratura. A OAB tem, por exigência da constituição, participação obrigatória nessas bancas. Mas nunca entendi porque, reciprocamente, a magistratura não tem participação nos exames da ordem. A OAB participa dos exames do Ministério Público. Por que então o MP não deveria participar nos exames de Ordem, já que todos nós — advogados, juízes e promotores de justiça — somos supostamente integrados?
ConJur — O Quinto, de certa forma, não serve para conter o corporativismo na magistratura?
Manuel Alceu — Não, absolutamente não. Até pela sua minoritária expressão numérica, o quinto não tem força para isso. Eu acho que não. São corporativismos que se equilibram. Na seleção da magistratura, a advocacia tem realmente que participar, inclusive para impedir aquilo que hoje em dia se tornou moda: juiz que não despacha com advogado. Quando dou palestras nos cursos da escola da magistratura falo muito sobre isso. O advogado leva uma petição, e certos juízes mandam que o advogado a conduza ao protocolo, recusando-se a qualquer despacho. O que é isso? A minha bandeira é que nós temos de restabelecer no mundo jurídico o sentimento da cordialidade. O data vênia vai cedendo cada vez mais. Já passou a ser abreviado D.V. e daqui a pouco desaparece. Hoje temos a não-cordialidade do juiz com o advogado, e o que é pior, a descortesia dos advogados entre si. Sempre me preocupei com esse sentimento da cordialidade. O tratamento cordial torna mais fácil e elevado o debate jurídico.
ConJur — Publicamos decisões recentes em que um juiz mandou tirar dos autos expressões ofensivas à parte contrária.
Manuel Alceu — Exatamente. E nisso o juiz se limitou a cumprir o código de processo civil, que expressamente (artigo 15) prevê a possibilidade dessa riscadura da ofensa e do insulto. Tivemos um episódio recente, que causou grande espanto da mídia, independentemente do conteúdo da decisão: o cumprimento trocado entre o advogado Roberto Batochio e o ministro Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Habeas Corpus do Maluf.
ConJur — A regra virou exceção?
Manuel Alceu — É isso. Já recebi inúmeros cumprimentos igualmente efusivos de juízes que, ao final do processo, me deram um solene contra.
ConJur — Amigos, amigos, negócios à parte?
Manuel Alceu — Sempre me lembro que, por diversas vezes, saio do tribunal na companhia do advogado contrário e vamos tomar um café. É um hábito usual e salutar. Faz parte, enriquece o debate jurídico e a convivência profissional.
ConJur — Existe a reclamação de que os juízes do Quinto, para mostrar que estão desvinculados da classe, tratam mal os advogados.
Manuel Alceu — Essa queixa eu ouço muitíssimo E, sem mencionar nomes, eu mesmo infelizmente já passei por essa experiência, e mais de uma vez. Dói-me muito, mas muito mesmo, vocês não podem avaliar quanto, quando vejo a violação das prerrogativas advocatícias praticadas por quem até outro dia partilhava as agruras da profissão. Isso é traição, não há outro qualificativo.
ConJur — O juiz acaba sendo grosseiro para mostrar que ele é imparcial?
Manuel Alceu — é um falso conceito de imparcialidade. O juiz não precisa ser descortês para ser imparcial, pelo contrário. No episódio que a imprensa tanto repercutiu, o ministro Velloso, que é um homem em si extremamente cordial, cumprimentou ao procurador-geral da república da mesma maneira efusiva com que cumprimentou o advogado José Roberto Batochio. Que pode haver de ruim nisso? Se o voto dele foi certo ou errado é outra coisa. Esse ambiente de respeito e cordialidade sempre existiu na classe forense, e não há razão para extirpá-lo apenas porque essas cordialidades não agradam a certos cronistas políticos. Se eles não se cumprimentam uns aos outros, o problema é deles, não é nosso.
ConJur —Existe uma noção de que quando as cúpulas se entendem muito, acaba sobrando para o cidadão comum, que não faz parte dela. O antagonismo natural não se estabelece necessariamente pelos papéis opostos e não é assim que deve ser?
Manuel Alceu — O meu avô escritor e filósofo, Alceu Amaoro Lima, também conhecido pelo pseudônimo de Tristão de Athayde, dizia que a democracia é o regime da convivência dos contrários. A democracia só sobrevive se os contrários puderem conviver. Para mostrar antagonismo não é preciso o boquirrotismo, a agressão, a briga de botequim. É necessário mostrar compreensão, responder a um argumento com outro, combater o pecado e não o pecador.
ConJur — Falamos de um episódio que revelou o desconhecimento da imprensa sobre o modus operandi do sistema Judiciário. Em que escala o senhor coloca esse grau de desconhecimento.
Manuel Alceu — Esse desconhecimento, reconheço, é imenso. Atualmente é que as coisas começam a ser desvendadas, e pessoas como vocês, do ConJur, estão ajudando nisso. Com muito orgulho digo que a minha mulher, Cacilda, também tem ajudado nisso com um programa de televisão que a Apamagis patrocina, o ‘Contraponto’(Contraponto, na TV Comunitária e TV Justiça). Nesse programa, ela tem explorado aquilo que chama de ‘intimidade positiva’ dos convidados, a grande maioria deles escolhidos na magistratura: “o senhor é poeta ministro Brito? Declame”. “O senhor gosta de tocar violão? Toque”. “O senhor gosta de cantar Chico Buarque? Cante”. “Ministro Marco Aurélio, o senhor gosta de motocicleta? Gosto”. O judiciário foi sempre muito hermético, fechado e sem transparência. Ainda estamos longe de alcançar a transparência total, mas estamos caminhando para isso. Muitos juízes estão convencidos da necessidade de se expor e de mostrar à coletividade que eles não são super-homens, nem anjos barrocos que ficam adornando as igrejas, mas sim gente comum, sujeita aos mesmos dramas, aflições e alegrias da cidadania toda.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!


